janeiro 13, 2006
Variáveis Explicativas
Ontem, no DN, Ruben de Carvalho escreveu que: «É interessante verificar como as regalias dos trabalhadores cresceram com o surgimento do campo socialista e diminuem com o seu desaparecimento». Muita gente também se admira pelo facto de, nos dias em que as pessoas saem com guarda-chuvas, normalmente chove, que quanto maior for a percentagem de pessoas que sai com guarda-chuvas, mais chove e que, quando as pessoas decidem abandonar os guarda-chuvas, faz um dia de sol resplandecente. São dois fenómenos interessantes que têm uma coisa em comum. Em ambos os casos os observadores estabelecem uma correlação significativa, mas em ambos os casos trocam a variável independente (explicativa), pela variável dependente. Erros de principiante.
Na verdade o progressivo aumento do Estado social visou assegurar a equidade social e atenuar fenómenos de exclusão de forma a manter a coesão social, mas a sua transformação em Estado-Providência foi uma resposta, no pós-guerra, quer à intensa propaganda comunista, baseada nas alegadas virtudes do socialismo, que depois se verificou não passarem de grosseiras falsificações, quer à propaganda do Estado social nazi, que tivera, igualmente, bastante impacto junto dos trabalhadores.
O campo socialista faliu. O Estado social que preconizava, nem era social, nem era eficiente. O Estado-Providência europeu (não falo do português, que só é social para espoliar os contribuintes) apesar de social e medianamente eficiente, também caminha para a falência e terá que ser remodelado antes que seja tarde demais.
As causas são as mesmas. Um aumento desmedido do papel do Estado e a impossibilidade de ele assegurar com eficiência as tarefas de que se incumbiu ao longo de décadas. O campo socialista implodiu pelas mesmas razões pelas quais as regalias dos trabalhadores estão a ser postas em causa, ou seja, pelo facto do modelo social europeu não estar adequado às novas realidades e para evitar que ele impluda igualmente
Publicado por Joana às 03:14 PM | Comentários (131) | TrackBack
dezembro 19, 2005
Democracia Representativa vs Directa
Relativamente a um debate blogosférico ocorrido há dias entre o Insurgente e o Vento Sueste sobre a Democracia Participativa (julgo que no sentido de Democracia Directa, porquanto na Democracia Representativa há participação) versus Representativa, que só agora tive oportunidade de ler, há exemplos que foram trazidos à colação como argumentos, que não me parecem correctos. Como primeiro exemplo, a afirmação de que «pode perfeitamente haver uma "democracia representativa" sem garantias constitucionais (a França sob o Terror é um bom exemplo)» é incorrecta. Se é verdade que a Convenção Nacional era um organismo representativo, os seus membros não estiveram, durante o Terror, no pleno uso das suas capacidades como representantes dos seus eleitores.
Paris esteve, nessa época, dominada pela Comuna de Paris cujo poder assentava nas secções populares armadas. Isso permitiu a que um grupo partidário, a Montanha, que disporia pouco mais de 10% dos deputados à Convenção, conseguisse levar avante a sua política totalitária, através do terror imposto pelas secções populares, que sitiavam e invadiam a Convenção, armadas, quando pretendiam impor-lhe a sua vontade. A Comuna de Paris foi o exemplo típico do que posteriormente se designou por democracia participativa: uma absoluta perversão totalitária; o serem, por direito próprio, os depositários da verdade; a mais abjecta intolerância para quem não comungasse dessa verdade, que foram liquidados como reaccionários; uma democracia constituída apenas por eles próprios, cujas chefias se perpetuavam ad eternum, sem nunca se submeterem ao escrutínio público e que eram as únicas a saber interpretar fielmente a vontade popular, mesmo quando essa vontade não correspondesse à vontade expressa nas urnas. Quando no Thermidor(1794) foi possível destruir o poder armado dessa democracia pseudo-participativa, verificou-se que aquela não tinha qualquer conteúdo real, apenas se limitava a mobilizar arruaceiros com palavras de ordem demagógicas.
Quanto à afirmação que temos montes de exemplos de "democracia participativa" que não conduziram a ditaduras, desde Atenas até à Islândia medieval, passando pelas tribos germânicas ou berberes, os cantões suiços, os "town meetings" da Nova Inglaterra, etc. é uma mistura que confunde coisas muito diversas. Porque não também os Sioux ou os Guaranis? As sociedades tribais primitivas eram pequenas aldeias, sedentárias ou nómadas, e o seu funcionamento não pode exemplificar o funcionamento da sociedade actual. Aliás, evoluíram todas no sentido de ficarem agregadas sob regimes despóticos, excepto aquelas cuja a colonização travou a evolução natural. Os colonos da Nova Inglaterra, agrupados em pequenos núcleos, eram gente perseguida por motivos religiosos, com uma grande identidade própria, religiosa e de cidadania. Mas por cima deles havia uma autoridade que punha baias nas suas capacidades decisórias. Mesmo assim houve o caso das bruxas de Salem, então um pequeno povoado, onde dezanove pessoas, na sua maior parte mulheres, foram declaradas culpadas e executadas num clima de completa histeria colectiva.
Quanto à Grécia Antiga ela foi, de facto, o berço da democracia, mas importa lembrar que essa democracia existiu apenas num pequeno número de cidades-estado e por um período de tempo muito limitado. A democracia ateniense, cujo vibrante elogio feito por Péricles é uma das páginas mais belas do ideal democrático, cairia duas ou três décadas depois, após uma guerra sem sentido, para a qual concorreu muita demagogia política. Basta ver como Alcibíades convenceu os atenienses a uma expedição à Sicília, completamente insensata e cujo desastre levou Atenas à exaustão e à capitulação. Após a derrota na Guerra do Peloponeso, Atenas oscilou entre tirania e democracia, despojada das glórias passadas, até à conquista macedónica, meia dúzia de décadas depois. Além do mais, se Atenas teria, na época de Péricles, cerca de 400 mil habitantes, os cidadãos não seriam mais de 20 mil. Só eles usavam uma democracia onde os direitos individuais não eram garantidos, nem na teoria, nem na prática, e onde as assembleias populares tinham poderes ilimitados que conduziam, às vezes, às maiores perversões (o julgamento de Sócrates, por exemplo). A democracia ateniense era a sujeição do indivíduo à autoridade de uma comunidade cuja vontade não conhecia limitações.
Na minha opinião, e os exemplos históricos militam a favor dela, a democracia representativa é a forma governativa que permite o equilíbrio entre o controlo popular e a decisão deliberativa. Como afirmou Edmund Burke: «O vosso representante deve-vos não só os seus actos, mas também o seu julgamento e trai-o se, em vez de vos servir, sacrifica esse julgamento à vossa opinião na verdade haveis escolhido um representante mas quando o fizeste, ele não já é o vosso representante, mas um membro do Parlamento». Ou seja, nós delegamos a nossa capacidade de decisão em pessoas em cujo julgamento confiamos. Essa delegação permite que as sociedades não oscilem ao sabor de demagogias de momento, e que os governos tenham tempo de implementar a sua política e serem depois julgados por ela. Não funciona necessariamente bem, mas o equilíbrio entre o controlo popular e a decisão deliberativa, assegura que mesmo funcionando mal, seja o mal menor.
Todas as formas de regime que se arrogaram do título de democracia participativa conduziram a modelos totalitários com as características que descrevi no parágrafo sobre a pseudo-representatividade de uma Convenção Nacional, durante o Terror, permanentemente sob o cutelo da guilhotina, um cutelo manejado pelos arruaceiros liderados pela Comuna de Paris e pelo Clube dos Jacobinos
Publicado por Joana às 08:00 PM | Comentários (33) | TrackBack
novembro 20, 2005
Humanismos e Trivialidades
Um dos sintomas do atraso da nossa sociedade é a aversão ao trabalho manual (e mesmo ao trabalho tout court). No universo da gente com acesso à instrução, esta aversão reflecte-se na arrogância com que os que se formaram (ou apenas tiveram a frequência) nas áreas ditas humanistas se tomam como depositários da cultura, em oposição aos graduados em áreas técnicas, culturalmente ignaros. Uma retórica recheada alusões filosóficas ou literárias é cultura; discorrer sobre questões técnicas ou científicas é entediante e sintoma de vazio cultural. Carnot é despiciendo perante Rousseau; Niels Bohr ou F. Hayek perante Proust ou Sartre. A retórica, política e publicitária, julga irrelevantes a técnica e a ciência. Os números, em vez de nos levarem à verdade das coisas, levam-nos a abstracções perigosas, como o défice público, que não passa de um economicismo que visa a degradação dos trabalhadores, que só podem ser salvos por uma eloquência despojada de números e de dados científicos e técnicos.
Todavia, nos dois grandes momentos de formação do nosso pensamento, na Grécia Clássica e no Renascimento, aquela antinomia não existia e a sua inexistência foi fecunda para o desenvolvimento da nossa civilização.
O nascimento da filosofia grega aparece solidária com duas grandes transformações mentais: um pensamento positivo e um pensamento abstracto, rejeitando a assimilação estabelecida pelo mito entre fenómenos físicos e agentes divinos. Alguns dos filósofos pré-socráticos eram mercadores (*) e o aparecimento da moeda e de uma economia mercantil, na qual os objectos se despojam da sua diversidade qualitativa (valor de uso) e só têm um significado abstracto de uma mercadoria semelhante a todas as outras (valor de troca) concorreu para a formação de um pensamento sincrético onde o amor à sabedoria (filosofia) tinha como indispensável o alicerçar-se na vivência prática e na técnica.
O nascimento das Universidades (e a posterior eclosão do Renascimento) veio suprir a necessidade de conhecimentos que habilitassem a burguesia emergente a gerir os seus haveres e a aumentar a sua cultura. Confluíram portanto nesse processo uma maior valorização da cultura e a necessidade de uma educação mais prática do que aquela que a teologia escolástica dava. As "humanidades", tal como estes estudos eram conhecidos, aliavam a teoria à prática (a teoria e a prática possíveis para a época). Os humanistas eram aqueles que ministravam estes programas e aqueles que se distinguiam pelo saber e capacidade profissional nessas matérias.
Abro um parêntese para um facto curioso e sintomático. Os currículos estavam divididos no Trivium (Retórica, Dialética e Gramática), mais virado para a eloquência e vida mundana, e no Quadrivium (Geometria, Música, Astronomia e Aritmética), de carácter científico. Trivium, em latim, significa também cruzamento viário (literalmente 3 vias) e, por extensão, local mal frequentado, coisa reles, etc.. A nossa palavra trivial tem a mesma etimologia que a área de ensino que se dedicava à retórica e à eloquência.
Com o tempo o humanismo das universidades medievais degenerou num culto puramente retórico e formal do classicismo, voltado para uma erudição que carecia de vitalidade criadora. O iluminismo e a Revolução Industrial restabeleceram, num nível superior, o papel da ciência e da técnica na vida cultural e civilizacional. Todavia, na nossa sociedade, e no mundo latino em maior ou menor grau, essa erudição carecida de vitalidade criadora continua a ser a imagem de marca daqueles que pretensiosamente se atribuem o epíteto de humanistas. Combatem a racionalidade baseada na ciência e na técnica, alegando que esses fundamentos a desumanizaram, quando na realidade estão a fazer apelo ao irracionalismo e à eloquência frívola. Consideram-se humanistas quando, efectivamente, estão a castrar o humanismo da sua componente técnica e científica que esteve na base dos momentos decisivos da formação do nosso pensamento e da nossa civilização.
Não são humanistas, são apenas triviais.
O caso assume proporções mais despropositadas com a assunção de humanista por Mário Soares quando o que se conhece publicamente da sua vertente cultural, ou humanista, é ter uma boa biblioteca, ser visto com muita gente do mundo cultural e ter apetência por frequentar ou estar associado à promoção de eventos culturais. Todavia não é suficiente ter uma boa biblioteca para se ser culto: também é preciso ter lido os livros. Não é suficiente conhecer e frequentar muita gente dos meios culturais: a cultura não se absorve por osmose.
Ah! e estar licenciado numa disciplina do Trivium
(*) Por exemplo, Tales de Mileto, o fundador da Escola Jónica, mercador de azeite, prevendo uma farta colheita de azeitonas, alugou todos os lagares da região e subalugou-os depois a um preço muito mais elevado aos próprios donos!
Publicado por Joana às 07:58 PM | Comentários (154) | TrackBack
outubro 30, 2005
O Lado Certo da História
Um dos estereótipos mais queridos da esquerda é o de esta ser a portadora da virtude e da honestidade, como oposição à direita, que é a portadora do vício e do peculato. Esse estereótipo não se baseia em nada de consistente, resulta apenas da leitura subjectiva e maniqueísta que a esquerda faz das suas acções e da forma como julga as acções dos outros. É a herança do marxismo como utopia de uma sociedade perfeita e de uma vanguarda consciente (partidos e ou movimentos) que iria conduzir as massas à redenção. Se cabe a essa vanguarda a salvação e a redenção da humanidade, os seus actos são obviamente bons e virtuosos. Os que se opõem a essas ideias só podem ser celerados e corruptos.
O mesmo acontece com as virtudes democráticas. Sempre que tiveram oportunidade de enveredar pelo caminho da construção da utopia, aquelas vanguardas conscientes produziram regimes totalitários que massacraram impiedosamente as massas que pretendiam redimir, na impaciência de construírem o homem novo. Isso não invalida que continuem a ser os donos da democracia e que aqueles que se lhe opõem sejam, por convenção, anti-democráticos e estejam em permanente conspiração para liquidar a democracia.
Este é o argumento que a esquerda, aquela que tem no seu código genético o marxismo, irá reeditar nas próximas presidenciais. Aliás, já começaram os prolegómenos. O primeiro mote, lançado por lebres de serviço, foi o dos poderes presidenciais. Outros surgiram entretanto (como o dos "políticos profissionais", p.ex.) e outros se seguirão. Os factos não interessam. As causas devem prevalecer sobre os factos.
Por exemplo, Lula da Silva foi eleito como redentor da moral política brasileira. Lula e o PT eram os elementos impolutos que iam resgatar o Brasil. Duvidar dessa verdade absoluta seria uma heresia. Desde então muito se tem passado. Começando no assalto ao aparelho do Estado (aliás, a usurpação do aparelho do Estado pela esquerda sempre foi vista com benevolência, mesmo como coisa natural e legítima) e descambando em suspeitas de corrupção grave (a questão do mensalão), desvio de fundos e dinheiro corruptor transportando-se em cuecas de políticos, etc.. Agora surgiu a notícia de um alegado financiamento da campanha eleitoral do PT por Fidel Castro.
Nada disto põe em causa as virtudes morais e democráticas da esquerda. Recentemente, quando esteve no Brasil, Mário Soares declarou à Folha de S. Paulo: «Eu também tenho dito que o Brasil e o presidente Lula não mereciam isso que está a passar, essa doentia especulação acerca dos problemas da corrupção». Ou seja, para Mário Soares o mal não estava na corrupção em si, mas pela «doentia especulação» que dela era feita. As virtudes da esquerda foram estabelecidas por convenção e não sofrem menoscabo pelo empecilho dos factos. O que é doentio são estas irritantes e permanentes notícias sobre a corrupção.
Soares não sente que a sua virtude democrática fique diminuída quando infringe leis eleitorais que se supõem sejam o garante do funcionamento dessa mesma democracia. Só vê, ou diz que vê, o argueiro no olho do opositor. É o problema do relativismo ético da esquerda amarra os factos no leito de Procusta das suas convicções até terem um formato adequado às suas causas, às suas opções políticas e ideológicas, ou os seus princípios virtuosos. Não vê qualquer óbice nisso, pois sabe que está do lado certo da história.
A perversidade está em que este relativismo ético utiliza os conceitos que levaram aos totalitarismos: a convicção absoluta da verdade de que se é portador; a de que a verdade é a sua verdade; a de que a se pode agir sem se estar espartilhado por concepções do Estado de Direito, porque se é o motor necessário do progresso histórico e social; a de que à direita apenas lhe resta a sarjeta da história e, portanto, tudo o que ela faça ou proponha é uma acção cavilosa e conspirativa que apenas visa comprometer o futuro da humanidade.
O relativismo ético não se circunscreveu à esquerda. Foi igualmente uma arma ideológica do totalitarismo de extrema-direita. Apenas com uma diferença: os nazis não o assumiam com o refinamento intelectual utilizado pela esquerda de inspiração marxista ou de utopias quejandas. Isso fez com que o relativismo ético nazi fosse enterrado com as cinzas do III Reich. E essa mesma diferença faz com que a esquerda se continue a assumir como detentora da bandeira da ética e das virtudes democráticas, quaisquer que sejam as circunstâncias, quaisquer que sejam acções que tenha praticado.
Este relativismo ético é sedutor. Desde sempre a humanidade sonhou com uma sociedade perfeita. Desde os primeiros filósofos que se têm delineado utopias. Enquanto a humanidade tem construído, pouco a pouco, uma sociedade mais rica e mais equitativa, diversos filósofos e políticos têm proposto utopias. Felizmente quase todas ficaram apenas em livro, pois as que foram levadas à prática não se concretizaram e saldaram-se em sangrentos massacres. Era um resultado esperado, pois construir uma sociedade não é construir um edifício. As pessoas não são tijolos, pois têm vontade própria e têm tendência a agir de acordo com as suas preferências. E partir um tijolo que não encaixa não é comparável a liquidar uma pessoa que não se insira no sentir colectivo.
E é por ser sedutor que deve ser combatido. O que ameaça a democracia é justamente o relativismo ético de quem se julga do lado certo da história.
Publicado por Joana às 10:48 PM | Comentários (277) | TrackBack
julho 30, 2005
Tocqueville
Tocqueville nasceu há 200 anos. Foi um dos principais teóricos da democracia, embora esse facto não lhe trouxesse grande notoriedade no nosso país, apesar da nossa herança cultural francesa. Provavelmente a herança do défice democrático da nossa vivência política e social prevaleceu. Provavelmente porque Tocqueville é um produto atípico do pensamento político e social francês.
A importância de Tocqueville foi a clarividência com que analisou as sociedades democráticas e se apercebeu dos perigos que encerram. Não teve por elas o fervor daqueles que as viam como a via da redenção da humanidade, nem o horror daqueles que as viam como a desregulação de toda a ordem social, onde tudo o que é sólido se dissolve no ar, nas palavras de Marx. O Estado democrático não só eliminou os vestígios das poderes fragmentados do feudalismo em extinção, da nobreza, dos municípios autónomos e das corporações, mas também se reclamou da soberania total sobre a comunidade nacional nos limites territoriais do Estado.
Para Alexis de Tocqueville a democracia tende, por via dessa ambição de universalidade, para a centralização, ou mesmo para a tirania da maioria: Como a democracia postula que a maioria tem razão, pode revelar-se difícil impedir uma maioria de usar essa situação para oprimir a minoria. A democracia substituiu o rei pelo povo, como soberano. É ao povo que os que ambicionam uma carreira política irão adular, fazer a corte. Nesse entendimento, a adulação ao monarca do Antigo Regime pode muito bem transfigurar-se em demagogia que perverte as relações sociais e políticas. Nas suas observações sobre a democracia americana, Tocqueville escreveu: «Os franceses sob a antiga monarquia tinham por máxima que o Rei não poderia agir mal, e se o fez, a culpa era atribuída aos seus conselheiros [...] os Americanos têm a mesma opinião acerca da maioria.»
Curiosamente a obra mais conhecida de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, foi escrita na sequência de uma viagem à América, em 1831, feita a pretexto de realizar um estudo sobre o sistema penitenciário americano, mas que foi uma forma de Tocqueville abandonar a França, a seguir à queda da Restauração que o seu pai servira. Ou seja, uma obra importante do pensamento liberal foi escrita por alguém oriundo da aristocracia, na sequência de um pequeno exílio resultante da queda dessa mesma aristocracia. Talvez essa extracção social produzisse o distanciamento desapaixonado e objectivo necessário para produzir uma obra cuja clarividência continua a espantar. A primeira parte foi publicada em 1835 e a segunda em 1840. Em 1848, ano em que rebentou a revolução republicana, já tinham sido publicadas 12 edições desta obra.
Para Tocqueville a via que conduziu a América à democracia liberal era excepcional, pois a União começou a sua experiência nacional, enquanto sociedade nova, sem um passado feudal, sem uma tradição milenar forjada por uma monarquia e uma aristocracia e, portanto, os americanos não tiveram a necessidade nem de um governo central forte nem de uma revolução social violenta para derrubarem a velha ordem. A Revolução Americana foi a única das grandes revoluções em que os debates políticos e as tensões sociais não conduziram a que as facções se eliminassem entre si, uma após outra. Aliás, para James Madison (1781), por exemplo, o que era importante era encontrar os enquadramentos legais e institucionais para que as facções pudessem coexistir, limitando os danos da sua própria existência e a tentação totalitária de qualquer delas. Desse objectivo nasceu a importância do poder judicial na América, como constatou Tocqueville «Aos olhos do observador, o magistrado dá a impressão de jamais se imiscuir nos negócios públicos a não ser por acaso; só que esse acaso acontece todos os dias».
A especificidade americana não escapou portanto à clarividência de Tocqueville: «A grande vantagem dos americanos é que eles chegaram à democracia sem terem de fazer uma revolução democrática... eles nasceram iguais sem terem de tornar-se iguais» e, como anotou, logo que chegou à América, «toda a sociedade parece ter-se diluído numa classe média». Enquanto isso, na Europa os liberais temiam o poder do Estado, procuraram limitá-lo, mas também procuravam instrumentalizá-lo na luta pela reforma da sociedade. E a instrumentalização do poder do Estado pode conduzir a resultados perversos: «O Estado cobre a superfície da sociedade com uma rede de regras pequenas e complicadas, minuciosas e uniformes, através das quais as mentes mais originais e os caracteres mais enérgicos não conseguem penetrar, para se erguer sobre a multidão [...] Tal poder não destrói, mas limita a vida; não tiraniza, mas comprime, debilita, apaga e entorpece um povo, até cada nação ser reduzida a [...] um rebanho de animais acanhados e diligentes do qual o governo é o seu pastor».
A clarividência de Tocqueville levou-o a antecipar um problema que ameaçava a existência da União a questão dos escravos do Sul. Tocqueville pensava que quando a escravatura desaparecesse e se estabelecesse a igualdade jurídica entre os negros e os brancos, as barreiras que os costumes haviam erguido entre as duas raças cresceriam também: «bem mais intangíveis e tenazes do que a escravidão: o preconceito do senhor, o preconceito de raça e, por fim, o preconceito do branco. Assim, o negro é livre, mas não pode partilhar dos direitos, nem dos prazeres, nem das formas de trabalho, nem das dores e nem mesmo da sepultura daquele de quem foi declarado igual. Com este não poderá ombrear-se em parte alguma, nem na vida nem na morte». E foi o que aconteceu a escravatura sulista acabou com a derrota da Confederação, mas a segregação racial substituiu-a e só um século depois a integração racial se desenvolveu, com as dificuldades e tensões que se conhecem.
Relativamente às relações entre os brancos e os índios, Tocqueville tem um texto exemplar que espelha a sua objectividade, comparando, com algum cinismo, os efeitos, nessas relações, de um regime despótico e de um Estado democrático:
«Os espanhóis lançam os seus cães sobre os índios como sobre animais ferozes. Pilham o Novo Mundo como uma cidade tomada de assalto, sem discernimento e sem piedade. Mas não se pode destruir tudo, o furor também tem um fim. O resto das populações índias escapadas ao massacre acaba por se misturar aos seus vencedores e por adoptar a sua religião e os seus costumes. O comportamento dos Estados Unidos para com os índios respira pelo contrário o mais puro amor das formas e da legalidade. Contanto que os índios fiquem no estado selvagem, os americanos não se imiscuem em nada nos seus assuntos e tratam-nos como um povo independente. Não se permitem ocupar-lhes as terras sem as adquirirem devidamente por meio de um contrato, e se por acaso uma nação índia deixar de poder viver no seu território, tomam-na fraternalmente pela mão e eles próprios a conduzem para morrer fora do país dos seus pais. Os espanhóis, com o auxílio de monstruosidades sem exemplo, cobrindo-se de uma vergonha indelével, não conseguiram exterminar a raça índia, nem sequer impedi-la de partilhar dos seus direitos. Os americanos dos Estados Unidos atingiram esse duplo resultado com uma maravilhosa facilidade, tranquilidade, legalmente, filantropicamente, sem efusão de sangue nem violação de um único dos grandes princípios da moral aos olhos do mundo. Seria impossível destruir os homens respeitando melhor as leis da humanidade.»
Publicado por Joana às 10:10 PM | Comentários (63) | TrackBack
julho 29, 2005
O Véu da Ignorância
A concepção de justiça é um conjunto de princípios, gerais na sua formulação e de aplicação universal, que deve ser publicamente reconhecido como instância suprema nas questões de ordenação das exigências conflituais de sujeitos morais. Esses princípios não excluem o egoísmo. O significado filosófico do egoísmo, segundo Rawls não é o de ser uma concepção alternativa do justo, mas um desafio a qualquer concepção do justo. Na teoria da justiça como equidade, tal reflecte-se no facto de podermos interpretar o egoísmo geral como constituindo o ponto do não acordo. É o que as partes obteriam caso não conseguissem chegar a um acordo.
Todavia, em Economia, as partes (vendedor e comprador) estão condenadas a entenderem-se (a menos que não haja leis e justiça, pois então ganha quem tiver mais apetência física e o acordo faz-se favorecendo o mais forte). E as partes estão condenadas a entenderem-se porque o comprador precisa do bem e o vendedor precisa de o vender. Se não chegarem a acordo, o vendedor tentará vender o bem a outro potencial consumidor e o consumidor em questão procurará outro vendedor. No conjunto, com diversos vendedores e compradores, atingir-se-ão preços, ou um preço, de equilíbrio, que será um ponto de acordo, mesmo que nenhum deles estivesse inicialmente inclinado ao acordo, nesse ponto, devido ao seu egoísmo. Portanto, não é correcto interpretar o egoísmo geral como constituindo o ponto do não acordo.
E o mais interessante é que o próprio John Rawls, no seu objectivo de usar a noção de justiça processual pura como base para a teoria de ordenamento económico e social justo e ético, pretende anular os efeitos das contingências específicas que levam os sujeitos a oporem-se uns aos outros e que os fazem cair na tentação de explorar as circunstâncias naturais e sociais em seu benefício. Para tal, Rawls parte do princípio de que as partes deverão estar situadas ao abrigo de um véu da ignorância. Não sabem como é que as várias alternativas vão afectar a sua situação concreta e são obrigadas a avaliar os princípios apenas com base em considerações gerais. Assim, ninguém conhece o seu lugar na sociedade, a sua posição de classe ou estatuto social; também não é conhecida a fortuna ou a distribuição de talentos naturais ou capacidades, a inteligência, a força, etc. Ninguém conhece a sua concepção do bem, os pormenores do seu projecto de vida ou sequer as suas características psicológicas especiais, como a aversão ao risco ou a tendência para o optimismo ou pessimismo. Adicionalmente as partes não conhecem as circunstâncias particulares da sua própria sociedade, isto é, desconhecem a sua situação política e económica e o nível de civilização e cultura que conseguiu atingir. Estas restrições à informação são necessárias porque as questões da justiça social tanto surgem entre gerações como dentro da mesma geração, de que é exemplo o problema da taxa adequada de poupança ou a conservação dos recursos naturais e do ambiente natural.
As partes não devem conhecer as contingências que geram as oposições respectivas e devem escolher princípios cujas consequências estejam dispostas a viver, seja qual for a geração a que pertencem.
O único facto concreto de que as partes têm conhecimento é o de que a sua sociedade está submetida ao contexto da justiça e às respectivas consequências. É dado como adquirido, no entanto, que conhecem os factos gerais da sociedade humana. Compreendem os assuntos políticos e os princípios da teoria económica; conhecem as bases da organização social e das leis da psicologia humana. Na verdade, presume-se que as partes conhecem os factos gerais que afectam a escolha dos princípios da justiça.
O problema com que se debate Rawls relativamente à teoria da justiça, base do ordenamento social equitativo (não igualitário!), está em que ela deve gerar o seu próprio apoio, ser uma concepção estável. Os seus princípios devem ser incorporados na estrutura básica da sociedade, os homens devem adquirir o correspondente sentido da justiça e desenvolverem o desejo de agir de acordo com eles.
O véu da ignorância é assim indispensável para as partes não terem base para negociarem, explorando os seus egoísmos. Ninguém conhece a sua situação na sociedade nem os seus dons naturais e, portanto, ninguém está em posição de traçar os princípios de forma a retirar deles benefícios. Podemos imaginar que um dos contratantes ameaça retirar-se a menos que os outros concordem com princípios que lhe são favoráveis. Mas como é que ele pode saber quais os princípios que beneficiam particularmente os seus interesses? O mesmo vale para a formação de alianças: se um grupo decidisse reunir-se prejudicando outro, os seus membros não saberiam como beneficiar a sua posição ao escolher os princípios. Mesmo que conseguissem convencer os restantes a concordar com a sua proposta, não teriam qualquer garantia de que ela os beneficiaria.
Ou seja, Rawls, para construir um ordenamento social equitativo, baseado na ética, precisa desesperadamente que as pessoas desconheçam os efeitos da aceitação desse ordenamento na sua vida, em face das suas aptidões pessoais e das suas idiossincrasias. As pessoas só podem avaliar a justiça do ordenamento social em termos gerais e não em termos da sua capacidade pessoal de singrar melhor ou pior nele. Essa avaliação é-lhes vedada pelo véu da ignorância.
Ou seja, para construir um ordenamento social equitativo, aceite por todos, como alternativa ao egoísmo, Rawls propõe a ignorância selectiva. Esta concepção é contrária, por exemplo, à tese de Schopenhauer: o nosso interesse, qualquer que seja a sua natureza, exerce uma força oculta sobre os nossos juízos; o que lhes é conforme, parece-nos a breve trecho equitativo, justo e razoável; o que se lhes opõe apresenta-nos, sem sombra de dúvida, injusto e execrável, ou inoportuno e absurdo. Assim, o nosso intelecto é diariamente iludido e corrompido pelos passes de pestidigitador da nossa inclinação. E está em óbvia oposição à economia clássica e aos seus desenvolvimentos posteriores até à actualidade, que se baseia, pelo contrário, na satisfação dos interesses pessoais e na transparência do funcionamento social.
Portanto, o véu da ignorância nem como hipótese de trabalho é satisfatório. Um industrial que sofre um aumento de preços devido à cartelização (não pertencendo ele próprio a nenhum cartel) será contra os cartéis em geral, enquanto sucede o inverso para um industrial cartelizado. Um funcionário que beneficia de um aumento geral de vencimentos dificilmente poderá pronunciar-se desfavoravelmente sobre os efeitos da despesa pública na economia do país. O artesão que está em risco de sucumbir à concorrência das grandes empresas mecanizadas considera nociva a introdução de novas máquinas para a economia nacional e está pronto a aceitar as teorias que o demonstrem. Os trabalhadores pensam frequentemente que a subida dos salários aumenta o poder de compra da população, dando assim impulso à procura. Os empresários, inversamente, vêem o aumento dos salários associados à subida dos custos, à diminuição da procura e das receitas e a despedimentos. As pessoas e entidades reconhecem os seus interesses particulares mais facilmente que os interesses gerais. Poderá existir um véu da ignorância sobre os interesses gerais, nunca sobre os interesses particulares.
Há todavia algo de bastante pertinente subjacente às teorias de Rawls. Numa sociedade baseada numa democracia representativa, os eleitores devem ser guiados por concepções sobre o ordenamento económico e social em termos gerais e não em termos da sua capacidade pessoal de obter mais ou menos vantagens pessoais. Deve haver um véu da ignorância entre os eleitores para serem conduzidos a escolhas melhores do ponto de vista da colectividade. Todavia os eleitores, mesmo que não conheçam os efeitos exactos das políticas, avaliam preferencialmente os efeitos dessas políticas no seu grupo social, ainda que seja de forma distorcida ou comprando ilusões.
Cabe assim aos políticos construírem um véu da ignorância, ou, abandonando os conceitos filosóficos e descendo à realidade política, um véu de mentiras, para assegurarem o apoio eleitoral.
Se depois esse véu de mentiras é utilizado para construir um ordenamento económico e social mais próspero e/ou mais equitativo, ou nem uma coisa nem outra, só o futuro o dirá.
Até agora as experiências não têm sido satisfatórias.
Publicado por Joana às 08:54 AM | Comentários (113) | TrackBack
junho 10, 2005
A Bula Sousa Tavares partibus Publicus
A mentalidade impregnada de reminiscências religiosas só permite que o espírito crítico se exerça, após se ter precavido das bulas e indulgências suficientes para a dimensão do pecado que se vai cometer. A devoção na penitência cautelar é às vezes tão desmedida que ficamos na dúvida sobre qual é mais grandioso: a devoção ou o pecado. Foi o que aconteceu a Miguel Sousa Tavares.
Hoje, no Público, MST produz-se num artigo Quem paga a conta? onde num longo preâmbulo faz uma devota profissão de fé nas virtudes do serviço público, contrapondo-o ao mundo sinistro do capital sem pátria, sem regras e sem responsabilidades sociais, um prestimoso serviço que é o último obstáculo a um capitalismo desumanizado e esquecido de preocupações éticas, afirmando, com uma devoção que comove até às lágrimas, que conhece muitos exemplos de empresas ou serviços que outrora eram públicos e agora são privados, funcionando pior e mais caro que anteriormente.
Após este preâmbulo não restaram quaisquer dúvidas: quem tem que pagar a conta é o mundo sinistro do capital sem pátria (bem se não tem pátria, duvido que o obriguem a pagar qualquer conta, nesta pátria ), o capitalismo desumanizado. Não serão certamente as empresas que eram públicas e agora são privadas, pois se passaram a funcionar pior e mais caro, estarão certamente num processo de falência e entregues a uma comissão liquidatária.
Todavia, salvaguardado com esta profissão de fé, MST arremete em seguida contra o sector público, não deixando pedra sobre pedra desse último baluarte contra o mundo sinistro do capital sem pátria, sem regras e sem responsabilidades sociais, desse desesperado reduto e último obstáculo a um capitalismo desumanizado e esquecido de preocupações éticas. MST esteve os primeiros parágrafos a construir uma muralha inexpugnável contra o mundo sinistro do capital sem pátria e utilizou os restantes para a destruir com uma ferocidade e uma pertinácia só comparáveis às das legiões romanas perante Cartago, na última guerra púnica.
Afinal, os funcionários públicos gozam de prerrogativas que cá fora ninguém mais goza: têm horários geralmente mais reduzidos, metem mais baixas do que os outros trabalhadores, recebem muito mais por baixa do que os outros, metem licença quando querem, são promovidos automaticamente sempre com a classificação de excelente, passados 3 ou 4 anos na mesma categoria, reformam-se mais cedo e têm pensões percentualmente maiores e alguns sectores gozam ainda de regimes de excepção e estatutos especiais dentro deste regime privilegiado, etc., e conclui: Esqueçam, portanto tudo o que imaginavam sobre vocações, dedicação ao trabalho, orgulho profissional. Parece que quem trabalha para o Estado, a violência é tamanha que o único desejo legítimo é passar à reforma quanto mais cedo melhor.
Este artigo deixou-me profundamente abalada. Como é que com gente sem vocações, dedicação ao trabalho, orgulho profissional, cuja única aspiração é passar à reforma quanto mais cedo melhor vamos resistir ao mundo sinistro do capital sem pátria, sem regras e sem responsabilidades sociais?
Hoje, MST deixou-nos a todos indefesos perante o mundo sinistro do capital sem pátria. Construiu um arrimo paterno no preâmbulo e depois fez-nos desesperadamente órfãos.
MST excedeu-se na bula cautelar, excedeu-se no pecado, ou excedeu-se me ambos.
É o que acontece quando exercemos a nossa análise crítica, racional, sobre algo relativamente ao qual temos uma fé ancestral e um temor bíblico.
Publicado por Joana às 04:57 PM | Comentários (68) | TrackBack
março 30, 2005
É Oficial, veio no Público
Quer a Esquerda, quer a Direita, são Iliberais
Eu já temia que isto acontecesse. Há tempos escrevi aqui que «não existe no espectro político português um projecto liberal sólido e coerentemente assumido. Há razões que têm séculos: a nossa aversão ao risco e à inovação e a inveja mesquinha que se instalou na nossa sociedade, em vez do incentivo pela afirmação pessoal. Outras têm a ver com a génese do actual sistema político». E esta frase simples e linear, tenho-a glosado aqui em diversos tons e figuras de retórica. Hoje, JMF tornou isto oficial: «em Portugal não é preciso ser de esquerda para desconfiar do mercado e da economia liberal: há muita gente de direita que pensa da mesma maneira. Neste domínio a cultura política dominante tanto é uma herança da Revolução ... como do salazarismo corporativista».

E continuou, implacável, citando o livro oficial da antiga "Organização Política e Administrativa da Nação", do antigo 6º ano de Liceu, , onde condenava os Estados liberais, pois estes acreditavam que "o equilíbrio social resultaria do simples jogo da liberdade e da livre concorrência ... Da excessiva liberdade resultaram as mais flagrantes desigualdades económicas e as maiores injustiças sociais.".
Mas isto é o que aqueles que me contestam, me acusam! Afinal não passo de uma vítima a posterior do salazarismo! O salazarismo vem do fundo dos tempos apontar-me o dedo acusador pela mão de alguns prestimosos comentaristas.
Ainda ontem eu, ingenuamente, sublinhava que «a verdadeira clivagem na sociedade ... sociedade portuguesa, é entre aqueles que defendem este modelo social estatizante, ancilosado ... e aqueles que acham que a inovação e o progresso só se conseguem aceitando o risco, que a democracia só existe na plenitude se for acompanhada pela liberdade económica ... etc». Hoje verifico que não há, desgraçadamente, qualquer clivagem. A nossa classe política, segundo consta na redacção do Público, está toda no 3º quadrante (esquerdo-inferior) do Political Compass. Não há clivagem que nos valha.

Continuei a investigar, e verifiquei que, entre os líderes mundiais apenas Nelson Mandela e o Dalai Lama se situam nesse quadrante. O Dalai Lama?! E ainda há dias me imprecavam por eu apelidar toda aquela gente de bonzos! Não será o Dalai Lama, o chefe de bonzos? Porquê os bonzos se terem abespinhado por eu os designar pela sua verdadeira identidade, agora certificada pelo Political Compass.
Os líderes terceiro-mundistas estão no 4º quadrante (esquerdo-superior) e os líderes ocidentais, de esquerda ou de direita, no 1º quadrante (direito-superior). Ou seja, os nossos políticos estão completamente fora do circuito político. Apenas estão aptos para orquestrar aquelas compridas e esquisitas tubas dos monges tibetanos, ecoando pelos vales gelados e profundos dos Himalaias. É lá que poderão ser encontrados quando o país chegar à bancarrota, liderado por estes políticos-bonzos.
Fui a correr fazer o teste e verifiquei a razão porque sempre olhei com distanciamento cínico e crítico os políticos: estava no 2º quadrante, igualmente arredada de todos. Parece que Friedman também está nesse quadrante, assim como os Democratas Liberais britânicos, mas estes concorrem às eleições apenas por desporto, levados pelo fair-play britânico, não para ganharem.
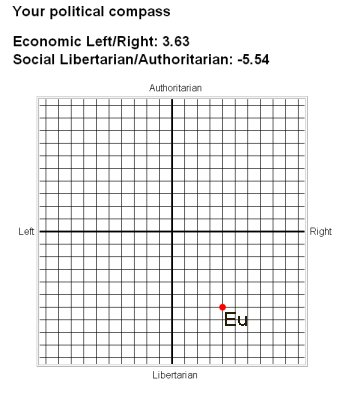
Assim sendo, temos que viver com o que temos líderes políticos estatizantes qualquer que seja a sua cor política.
Há todavia uma luz ao fundo do túnel. Depois de abandonarem a política, os anteriores políticos abandonam a sua opção estatizante e refugiam-se todos no 2º quadrante António Barreto, Medina Carreira, Daniel Bessa, ... todos (ao que julgo...). Até Silva Lopes, ainda há pouco nas lides políticas, e agora a defender a redução dos salários da função pública «não podemos continuar a aumentar o vencimento dos funcionários públicos e provavelmente vamos ter de os diminuir, em termos reais. As pessoas não querem ouvir isto, mas infelizmente é assim», dando um vertiginoso trambolhão para o 2º quadrante.
O futuro está nos desalojados políticos. São eles que nos vão tirar deste escolasticismo medieval, deste aristotelismo serôdio, que nos arruína sem apelo nem agravo.
A menos que, quando regressarem à política, voltem a ser seduzidos pelo apelo estatizante ...
Publicado por Joana às 09:04 PM | Comentários (79) | TrackBack
março 29, 2005
Esquerda e Direita?
Vendo as coisas de uma forma mais abrangente, será uma simplificação afirmar que questão da equidade de acesso à comunicação social se põe entre esquerda e direita. Por exemplo, o PCP é um partido que se diz de esquerda, mas cujas opiniões só têm audiência na comunicação social quando se referem às questões fracturantes tão ao gosto dos politicamente correcto. Em contrapartida, quando Chirac afirma que o liberalismo seria tão desastroso como o comunismo e inviabiliza, ou pelo menos protela, a aprovação da directiva Bolkestein, que pretendia iniciar o processo de liberalização da prestação de serviços no espaço comunitário, tem o beneplácito e o aplauso da esquerda estatizante.
A clivagem, a verdadeira clivagem na sociedade actual europeia e, muito especialmente, na sociedade portuguesa, é entre aqueles que defendem este modelo social estatizante, ancilosado, onde todos, agentes económicos, agentes culturais, militantes de organizações não-governamentais", etc., se julgam, por igual (como se vivessem na miséria e na exclusão social), com direitos inalienáveis a auferirem dos subsídios que reputam justos para bem exercerem a sua actividade, ou que aspiram pela tranquilidade de uma sinecura num asiloestatal e aqueles que estão no lado oposto, que acham que a inovação e o progresso só se conseguem aceitando o risco, que a democracia só existe na plenitude se for acompanhada pela liberdade económica e que ao Estado apenas cabe assegurar a protecção da sociedade e a sua libertação dos entraves que possam limitar a liberdade económica, e as transferências necessárias para manter o objectivo permanente da igualdade das oportunidades e da equidade na política de educação, segurança social, justiça, etc..
A clivagem voltou a ser entre o pensamento escolástico medieval, herdeiro de Aristóteles, que só se preocupava com a repartição dos bens de forma a torná-la coerente com a moral que pregava para a sociedade, e que considerava a produção como um dado adquirido, e o pensamento daqueles que acham que o ênfase se devia pôr do lado da produção que não é, ao contrário do que os escolásticos pensavam, um dado adquirido, e que só uma sociedade economicamente eficiente e produzindo em abundância, pode assegurar uma repartição de bens que, não sendo embora coerente com essa moral meramente distributiva, é coerente com uma distribuição que evite a exclusão social e mantenha a economia a funcionar perto do óptimo.
Do lado escolástico, medieval, aristotélico, está a maioria da esquerda, nomeadamente a esquerda da esquerda, mas também parte significativa dos políticos de direita, nomeadamente daquela que mais perto tem vivido das sinecuras do poder. A transformação do Estado no actual Moloch que nos suga a seiva vital, foi começada por Cavaco Silva; Guterres apenas a acelerou de forma descontrolada e a tornou insustentável. Durão Barroso nada fez de substantivo contra esse Moloch, quer por falta de coragem, quer por falta de convicção. Santana Lopes poderia ter o benefício da dúvida, dadas as circunstâncias em que exerceu o seu curto mandato, mas com Bagão Félix no governo não me parece que esse benefício deva ser concedido.
Voltámos a meados do século XVIII, mas tendo os protagonistas os papéis invertidos. Os que se julgam os detentores das luzes estão do outro lado.
Publicado por Joana às 11:25 PM | Comentários (27) | TrackBack
março 15, 2005
Neoliberalismo e Intelectuais
Como já tive aqui ocasião de observar, o nosso modelo do Estado Providência perverteu toda a sociedade muito para além da simples esfera económica e social. Por exemplo, a principal razão por não haver em Portugal nem Teatro nem Cinema dignos desse nome, é porque estes apenas vivem da dependência dos subsídios. Isso fez com que não tivessem necessidade de obter o favor e a adesão do público. Aliás, desprezam-no. Os agentes culturais portugueses só produzem para os amigos verem, só sabem viver na subsídio-dependência e temem qualquer êxito comercial, que os pode deixar, em definitivo, liquidados culturalmente junto dos seus pares.
Foi um processo rápido. Inicialmente, bastava-lhes obterem os subsídios. Agora, estes tornaram-se a própria razão da sua existência. Já não podem viver sem eles, pois que o público, ignaro e desprezível, os desconhece. A sua produção é em circuito fechado, pois o público é-lhes igualmente despiciendo. Assim, em vez de promover a cultura, o Estado Providência meteu-a num asilo, com a conivência dos asilados. Para definir o nosso regime, melhor que Estado Providência, seria a designação de Estado Asilo.
O liberalismo (ou como o alcunham, o neoliberalismo) encontra uma explicação simples para este divórcio. Os intelectuais (os agentes culturais) menosprezam a actividade empresarial porque esta oferece ao público o que este deseja, enquanto que eles pregam ao público o que ele deve e não deve desejar. O empresário opera dentro de um sistema de preferências e de juízos de valor que o intelectual pretende sempre modificar. Por isso não é estranho que o intelectual se sinta identificado com o défice financeiro da sua actividade e pretenda o subsídio estatal para a financiar.
Os intelectuais (os agentes culturais) têm assim um especial carinho pelas instituições deficitárias, pelas institutos ou entidades financiados pela Estado, pelos centros universitários que dependem de subsídios e dotações, pelos periódicos e revistas incapazes de auto-financiar-se. E isto porque sabem por experiência própria que sempre que produzem da forma como julgam que deve ser produzido, verificam que não há coincidência entre o seu esforço e o acolhimento que têm no mercado. Como os intelectuais (os agentes culturais) se auto-incumbiram da missão de evangelizar o público sobre o que é verdadeiro e certo e dado que esse mesmo público não se reconhece nessas verdades e certezas, encontram uma total e absoluta resistência ao escoamento do seu produto o que, pelo sistema de equações que modeliza este caso, levaria o preço de mercado a ser muito inferior ao seu custo marginal. Numa economia de mercado tal situação conduziria à falência imediata do produtor.
Há pois uma explicação microeconómica para este facto. Como deixou de haver relação entre o preço (que é tendencialmente nulo) e o custo marginal, no limite o Estado Providência avoca a si a procura daqueles bens, do ponto de vista da sua transacção, remetendo o seu usufruto para o público, um público reduzido, por este processo de distanciamento, aos amigos e colegas dos produtores intelectuais.
Há aqui uma violação clara das condições estruturais da concorrência, visto o Estado se comportar como um Monopsónio, que compra aqueles bens por critérios que nem ele sabe, visto o Estado ser incompetente em matéria económica e não saber, por via disso, fazer vingar o seu poder económico de monopsonista.
Ora esta situação resulta da existência do Estado Providência. Antes dele não existiam estas violações grosseiras das condições estruturais da concorrência. Rembrandt viveu das encomendas que lhe faziam. Trabalhava para o mercado. Voltaire, Delacroix, Victor Hugo, George Sand, Camilo Castelo Branco (e em Portugal!!), Charles Dickens, Verdi, Renoir (o pintor e o cineasta), Chaplin singraram em mercados concorrenciais. A riqueza acumulada por Chaplin poderia mesmo ter constituído um insulto público, se ele não se tivesse revestido com tintas de esquerda. Houve outros que tiveram mais dificuldade em controlarem custos e prazos, como Miguel Ângelo na Capela Sixtina, mas foram acidentes de percurso. Milhares de artistas produziram as obras maravilhosas que constituem hoje o nosso enlevo. E produziram-nas para o mercado com que estavam confrontados.
Veio o Estado Providência e a cultura preferiu o asilo, reformou-se ...
Publicado por Joana às 09:56 PM | Comentários (68) | TrackBack
março 14, 2005
O Espectro Neoliberal 2
A importância de Hayek foi ter-se apercebido que o Rei vai nú, numa época em que ninguém punha em causa que ele estaria soberbamente vestido, uns com o traje Keynesiano, outros pelo figurino comunista. Os excessos de Hayek são porventura datados, porquanto são uma resposta ao dogmatismo colectivista do comunismo soviético, ao totalitarismo da organização económica nazi e ao racionalismo construtivista da criação ex nihilo de sociedades perfeitas, que os Prometeus do século XX nos anunciavam que construiriam.
Hayek na sua iconoclasia face aos ícones colectivistas ou do Estado Providência, foi liminar: O salário mínimo é um absurdo que impede a mobilidade de trabalho, reduz a produtividade e o nível de vida da colectividade. O imposto progressivo perturba a afectação óptima dos recursos, pois o imposto deve ser proporcional, afim de salvaguardar a sua neutralidade. O Estado-Providência produz efeitos perversos pois a socialização da economia que o acompanha não pode, por definição, ir a par com a realização do óptimo de Pareto. A intervenção estatal, que pretenda ir além da formulação de regras gerais, não passa de um crime contra a economia, porquanto limita a prosperidade e faz da justiça social uma caricatura.
Durante as 3 gloriosas décadas, em que a Europa prosperou, beneficiando de uma conjuntura única, Hayek não passou de um iconoclasta apenas apto para prelecções académicas.
Foi preciso chegar ao fim dos anos 70, quando o estatismo ultrapassou os limites do razoável e as economias ocidentais entraram em desaceleração, para se começar a escutar Hayek e a reverenciá-lo. A Grã-Bretanha, depois das receitas trabalhistas do após guerra, foi o laboratório onde se verificou, na prática, como se poderia estagnar uma economia a partir de uma alta intervenção do Estado e dos sindicatos. A Grã-Bretanha tinha perdido terreno considerável face ao continente europeu. No final da década de 70, com a eleição de Margaret Thatcher, esta diminuiu drasticamente a intervenção estatal na economia, o que permitiu gerar riqueza, empregos e desenvolvimento. Ironicamente para o pensamento socialista, a economia britânica gerou uma maior justiça social, distribuindo mais riqueza sem interferência do governo, do que até então. É certo que a Grã-Bretanha nunca recuperou totalmente, mas tornou-se, apesar de tudo, numa economia mais dinâmica e saudável que as suas congéneres alemã e francesa.
Para os que o diabolizam, o neoliberalismo é a principal causa da exclusão social do mundo, aparecendo nas Bíblias colectivizantes associada à palavra globalização, sendo portanto o principal causador das mazelas sociais mundiais. Para eles, onde há neoliberalismo, não há justiça social. E, na verdade, se justiça social é igual ao paternalismo de um Estado Providência, é evidente que o neoliberalismo não é uma forma de justiça social.
Mas o que é realmente a justiça social e qual a sua relação com o neoliberalismo? Ora, justiça social, na óptica liberal, constrói-se com a liberdade. A justiça social aumenta na mesma proporção que a intervenção estatal diminui, o que permite um desenvolvimento mais eficiente das forças produtivas da sociedade. Se uma empresa paga menos impostos e menos encargos sociais com o factor trabalho poderá crescer e aumentar os seus efectivos, gerando mais riqueza que será entregue directamente a estes trabalhadores e não indirectamente, e apenas uma pequena parcela, através do governo. Se o peso do Estado diminui, a atracção pelo investimento criativo aumenta, e os níveis de emprego e prosperidade aumentam. O próprio mercado de trabalho se encarrega de regular a afectação dos recursos relativos a esse factor.
É incompreensível que aceitando todos que o preço das mercadorias é regulado pelo equilíbrio dos respectivos mercados, muitos garantam que a liberalização do mercado de trabalho seja sinónimo de exploração do trabalhador. Ao fazê-lo estão a admitir que o factor trabalho (ou parte desse factor) deva ser (ou é) remunerado acima do valor de equilíbrio. Como esse valor de equilíbrio é o que garante o funcionamento eficiente da economia, estão a pressionar para tornar a economia ineficiente, ou seja, para a levar à estagnação. Ao afirmarem lutar contra a exploração do trabalhador, estão na verdade a lutar pela estagnação ou corrosão dos rendimentos desse mesmo trabalhador.
É a liberdade económica que gerará riqueza, desenvolvimento e bem estar. A existência de diferenças é inevitável, mas, e eu aqui estou a fazer um aggiornamento do pensamento de Hayek, deve ser preservada a equidade: as desigualdades sociais e económicas devem ser organizadas de forma a trazer aos mais desfavorecidos melhores perspectivas e a serem compatíveis com o objectivo permanente da igualdade das oportunidades. Este princípio é compatível com um aumento da desigualdade. Pouco importa que o rico se torne muito mais rico se o pobre se tornar menos pobre. Não é a igualdade que é importante, mas sim a equidade. Equidade na política de educação, segurança social e saúde, administração da justiça, etc..
Para Hayek o mercado livre e a ordem espontânea é a base da prosperidade social e da democracia. Ora a economia vive com regras e com estruturas. Como compatibilizá-las com uma ordem espontânea? Nunca pelo efeito da vontade humana, mas como fruto do acaso, de um darwinismo institucional pois «as instituições são produto da acção dos homens, mas não de um seu projecto». A sociedade acaba por conservar aquelas que são as mais adaptadas.
Portanto para o liberalismo, ou o neoliberalismo, na sua designação actual, a liberdade de mercado e a democracia são inseparáveis. Um sem o outro não funciona. Uma economia liberal não funciona num regime ditatorial, mesmo que os seus líderes a tentem fazer funcionar, como se viu no Chile de Pinochet. Um regime democrático fragiliza-se e sucumbe sem um mercado livre. Marx explicou, interpretando a História, que o capitalismo e o mercado livre tinham sido as condições prévias e necessárias de todas as nossas liberdades democráticas, todavia nunca sonhou, prevendo o futuro, que essas liberdades pudessem desaparecer com a abolição do mercado livre.
Porquê então postular uma espécie de Providência omnipresente e omnisciente, a Mão Invisível, numa época já distante dos primórdios da Economia Política, onde aquela metáfora poderia ter algum impacte explicativo? Não bastaria afirmar que o mercado é o menos mau de todos os sistemas conhecidos?
Talvez, mas então que dizer dos defensores do colectivismo ou da intervenção estatal que apostrofam as forças cegas do mercado"? Se para o liberalismo, o mercado é auto-regulável (a Mão Invisível), para os que se lhe opõem, a economia de mercado sofre de contradições internas que acarretam sua destruição, exigindo, pois, a intervenção estatal para corrigir (ou abolir, no caso de Marx) as suas "falhas". Todavia quem argumenta que as forças de mercado são "cegas" está a afirmar, simultaneamente, que o planeamento estatal é omnisciente, ou, no mínimo, menos falível do que o mercado. Assim sendo, se o Estado é capaz de corrigir as falhas do mercado, deve logicamente suprimi-lo por completo. É essa a contradição dos socialistas democratas (terceira via, keynesianos, sociais-democratas, etc.) pressionados à sua esquerda, pois se o Estado é intrinsecamente superior ao mercado na organização da economia, porque não substitui-lo totalmente? É essa contradição que faz com que, normalmente, os socialistas na governação se comportem como o gestor contra-natura, constrangido pelas realidades a aplicar receitas que, geneticamente, abomina.
Portanto, a Mão Invisível e as Forças Cegas do Mercado não são duas faces da mesma moeda. São duas designações que trazem implícitas duas visões antagónicas do funcionamento da economia.
Todavia, o que as experiências colectivistas provaram foi que a intervenção do Estado no domínio económico também é "cega". Ou seja, a economia colectivista é um processo pelo qual cegos (pois que desprovidos da liberdade de escolhas na produção e no consumo) são guiados por cegos. Aliás, se o paternalismo estatal funciona bem, porque será que praticamente todos os regimes socialistas ruíram?
Publicado por Joana às 11:41 PM | Comentários (61) | TrackBack
março 13, 2005
O Espectro Neoliberal
Um espectro aterroriza a velha Europa. O espectro do neoliberalismo. Todas as forças políticas se aliaram, mais ou menos declaradamente, contra ele. E todos elas o diabolizam em nome de um alegado humanismo. São os humanismos perversos, como o humanismo comunista, herdeiro do estalinismo; o humanismo radical, herdeiro do maoismo; o humanismo da extrema-direita, herdeiro do fascismo; o humanismo alteromundialista, um heterogéneo herdeiro dos anteriores. São os humanismos convencionais, como o humanismo das religiões reveladas; o humanismo do centro-direita cristão e social; o humanismo socialista e social-democrata do Estado Providência, etc..
Ora o liberalismo baseia-se no princípio fundamental de que, na relação do indivíduo com o Estado, a liberdade do indivíduo é o bem supremo, que, enquanto tal, tem preponderância sobre qualquer outro. Defender o liberalismo, portanto, é defender a liberdade que lhe está na base do nome. É defender o humanismo contra o colectivismo. É esse princípio fundamental que postula que melhor Estado é aquele que tem uma menor intervenção, deixando, portanto, aos indivíduos mais liberdade. O melhor Estado, assim, é o "Estado mínimo", aquele que deixa aos indivíduos o máximo de liberdade compatível com a vida em sociedade. E sublinho, compatível com a vida em sociedade.
Foi a perversão da semântica política que tem tentado transfigurar o significado original da palavra liberalismo (que defende a liberdade e que luta contra a opressão) dando-lhe o sentido oposto conservador e reaccionário. Já alguns, que defendem ou defenderam, consciente ou inconscientemente, doutrinas que floresceram à sombra dos Gulags, profetizam mesmo futuros Gulags neoliberais!! Os que o atacam têm em comum o estarem todos, de crentes a ateus, de comunistas a conservadores, de acordo com a definição da ortodoxia católica: Sistema que, apoiado numa concepção economicista do homem, considera o lucro e as leis de mercado como parâmetros absolutos em prejuízo da dignidade e do respeito da pessoa e do povo. Igualmente, muitos dos que o diabolizam têm em comum o facto de, quando estão no poder, serem constrangidos a adoptarem receitas de índole neoliberal para aliviarem a sociedade do peso insustentável do Moloch estatal.
Liberal tem, todavia, desde a sua origem, um significado diferente e antagónico. Durante a longa luta contra o regime feudal e a ideologia das coacções extra-económicas como base do funcionamento da sociedade, o liberal era o amante da liberdade e do fim das corveias, das corporações e dos regulamentos que dificultavam ou impediam a actividade económica. Era ele que lutava contra o absolutismo real que consubstanciava o poder político que mantinha aquelas sujeições.
Os enciclopedistas franceses, o Aufklärung alemão, o iluminismo do século XVIII em geral, cresceram sob o signo do liberalismo. No campo económico, o liberalismo encontrou o seu primeiro alicerce em Bernard de Mandeville e nesse espantoso livro A Fábula das Abelhas: Ou velhacos transformados em gente honesta escrito no início do século XVIII, onde se pode ler, logo no prefácio: O que, no estado da natureza, faz o homem sociável, não é o desejo que tem de estar em companhia, nem a bondade natural, nem a piedade, . As qualidades mais vis, frequentemente as mais odiosas, são as mais necessárias para torná-lo apto a viver com o maior número. São elas que mais contribuem para a felicidade e prosperidade das sociedades. e, mais adiante: Grandes multidões pululavam atropelando-se para satisfazerem mutuamente a luxúria e a vaidade. Consequentemente cada parte estava cheia dos vícios mas, no seu todo, o conjunto era um paraíso.
Ou, como Adam Smith, meio século depois, traduziu em termos económicos: cada indivíduo ao tentar satisfazer o seu próprio interesse promove, frequentemente, de uma maneira mais eficaz, o interesse da sociedade, do que quando realmente o pretende fazer. Ou como escreveu Hayek, em meados do século XX, afirmando que as melhores leis não são as que resultam da visão magnífica de qualquer sábio legislador, mas de um tortuoso e longo processo de ensaios e erros. Não é ao Estado que o homem deve a sua prosperidade, quando a tem, mas a si próprio, à sua liberdade, à sua capacidade de pensar e agir autónoma e individualmente, à sua persistência no fazer, não receando errar, porquanto sabe que tem capacidade de corrigir o erro. Im Anfang die Tat, como escreveu Goethe. Ao Princípio era a Acção.
O que a Santa Aliança (tal como a enumerei no primeiro parágrafo) teme é o facto de ser impossível lutar contra o liberalismo (ou o neoliberalismo). O liberalismo não é uma partido político, é uma ideia, ou um sistema coerente de ideias. Partidos e facções derrotam-se em eleições, em revoluções ou em contra-revoluções. A ideia da liberdade humana e do primado do homem sobre o Estado é inerente à sua natureza e reaparece sempre. Fecha-se-lhe a porta e ela entra pela janela; fecha-se-lhe a janela e ela entra por qualquer frincha. Só há uma maneira de a liquidar: calafetar a sociedade e o pensamento social, mas isso só é possível asfixiando e liquidando a espécie humana. Muitos o tentaram; a Inquisição, que pretendeu a pureza dos cristãos; o Fascismo, que pretendeu a pureza da raça; o Comunismo, que pretendeu criar o homem novo. Mataram dezenas de milhões de seres humanos em nome do seu humanismo perverso, mas perderam.
Aliás, desde sempre, as ideias liberais têm sido utilizadas para curar os desastres provocados pelas experiências colectivistas. Mas quando o paciente apresenta sintomas de melhoras, regressa a vertigem do Moloch estatal, suportado pela sede de sinecuras dos aparelhos partidários e pela crença ilusória que esse dispendioso e insaciável monstro traz segurança. Vem desde as suas origens ... foi o liberalismo que desencadeou a Revolução Francesa e lhe deu a base teórica, mas foi o Terror e a visão estatizante dos jacobinos que liquidaram a revolução e a entregaram ao cesarismo.
O liberalismo não é um dogma nem uma religião. A doutrina liberal alimenta-se, em cada instante, da realidade em que se move e não, como qualquer doutrina política e/ou religiosa, tentando forçar a realidade para a enquadrar no seu dogma. Assim sendo, o liberalismo falha como partido. Na satisfação dos seus próprios interesses, o homem, agindo livremente, conduz ao óptimo social. Mas como enquadrar esses interesses decorrentes do individualismo humano numa estrutura partidária? Ora há que sublinhar que nem só de economia vive o homem. Há os valores da colectividade humana: a cultura, a solidariedade e a coesão social, a religião, a identidade nacional. Neste entendimento, se a economia de mercado é o melhor sistema para desenvolver a riqueza material de uma sociedade, há outros mecanismos que devem ser adicionalmente implementados, embora de forma a não viciar a eficiência económica e a não se comprometer a prosperidade social, para criarem o consenso social necessário. O óptimo social pode não coincidir com o óptimo económico. O conceito de Óptimo de Pareto deve assim ser alargado para conter variáveis, não quantificáveis, que contemplem o equilíbrio e o consenso social. Ora essa compatibilização para passar do Óptimo de Pareto, visto unicamente na vertente económica, a um Óptimo de Pareto Económico e Social, permite uma diversidade de opiniões, dentro da coerência do seu ideário, que são fecundas no funcionamento do sistema democrático e no exercício da cidadania, mas que podem ser um obstáculo para constituir um partido político que aspire à governação. O liberalismo é um sistema coerente de ideias, mas um partido requer um receituário operacional para a conquista e manutenção do poder ao qual o liberalismo é avesso.
O fundamento do liberalismo são a propriedade privada, o primado do indivíduo sobre o Estado, a prevalência da lei e do Direito, uma justiça independente e eficiente, e uma democracia aberta que permita a transparência das instituições e o exercício do espírito crítico. Apenas isso. Por isso mesmo, desde a socialismo e social-democracia até à direita conservadora, todos declaram abominar o neoliberalismo, e todos aplicam as suas receitas, quando tudo o resto falha.
Nota - Sobre este tema ler ainda:
Neoliberalismo e Intelectuais
O Espectro Neoliberal
Duas Mãos Invisíveis
Publicado por Joana às 10:38 PM | Comentários (41) | TrackBack
março 10, 2005
Aron e Sartre
Faz em 2005 cem anos que nasceram Raymond Aron e Jean-Paul Sartre. Têm muito em comum. Nasceram ambos em 1905; foram condiscípulos na Escola Normal Superior da Rua de Ulm; estiveram, até às suas mortes (Sartre em 1980 e Aron em 1983), empenhados em todas as grandes lutas e eventos do século. Apenas houve duas pequenas diferenças entre ambos: 1) Em cada evento, Sartre esteve, quase sempre, do lado certo, de acordo com o pensamento politicamente correcto da época; Aron esteve, quase sempre, do lado errado, de acordo com esse mesmo pensamento politicamente correcto; 2) Em cada evento, Sartre esteve, quase sempre, do lado errado, de acordo com o posterior julgamento da história; Aron esteve, sempre, do lado certo, de acordo com esse mesmo julgamento.
Sartre foi sempre o ídolo do pensamento politicamente correcto, mesmo quando se verificava, poucos anos depois, que tinha apoiado um erro o pensamento politicamente correcto não tem memória. Aron foi sempre diabolizado pelo pensamento politicamente correcto as injustiças da História (ou seja, os factos que tramaram o pensamento politicamente correcto) são imperdoáveis para aqueles que tomam as suas ideias como valores absolutos.
Aron pressentiu o que adviria com a ascensão do nazismo. Para ele, o dizer não a Hitler deveria ter ocorrido em Março de 1936 (ocupação militar da Renânia) e não após Munique. O espírito de Munique nascera em 1936. Pelo contrário, Sartre sempre pensou que Hitler seria um epifenómeno transitório e mesmo aquando dos acordos de Munique, não se apercebeu logo da dimensão exacta do que estava em jogo. Após a derrota, Aron foi para Londres, enquanto Sartre, saído do cativeiro, dedicou-se à escrita em Paris. Foi, segundo ele, «un écrivain qui résiste, et non un résistant qui écrit», porque resistir não pode ser uma finalidade em si. Tentaram, mais tarde, fazer dele um resistente, mas como afirmou J-C Casanova num debate recente «Si la résistance consiste à discuter dans un café, alors il y a eu beaucoup de résistants en France!».
Depois de acabada a guerra, Sartre (e os Temps Modernes, a cujo Comité Directivo, Aron também pertenceu de início) envereda pela 3ª via, nem capitalismo, nem comunismo. Mas o futuro Sartre já está prefigurado na apresentação dos Temps Modernes (lançado em Outubro de 1945): quer se queira quer não, todo o texto «possui um sentido»: «para nós o escritor não é Vestal nem Ariel ele está no momento, e não importa o que faça, está marcado e comprometido mesmo no seu retiro mais remoto» ... «Cada palavra tem repercussões. Cada silêncio também» «as palavras são pistolas carregadas». Já tive ocasião de me debruçar, aqui, sobre a perversão da filosofia do intelectual comprometido.
E pouco a pouco, Sartre deixa-se impregnar pelo fascínio do PCF, que se apresentava como o futuro da humanidade perante os crentes, como o agente decisivo da História. Vai ser o percurso de Sartre, o da tentativa (sempre frustrada, mas sempre permanente) de reconciliar o aventureiro de origem burguesa, motivado pelo seu ego a agir, e o militante revolucionário cujo ego é motivado pela acção. O PC continua, apesar de tudo, a ser a única chave no que respeita à sua vontade de romper com a burguesia e com a «civilização da solidão» que ela traz em si e na qual foi educado. A invasão da Coreia do Sul pela tropas norte-coreanas e a intervenção americana sob o patrocínio da ONU extremou os campos. A partir daí, Sartre tornou-se um compagnon de route do movimento comunista «Um anticomunista é um cão, persisto e persistirei em dizê-lo».
Aron ficou decididamente, no outro lado da barreira. Para ele, a influência de Estaline não parava no Elba. A força do imperialismo soviético dependia menos do seu potencial militar do que da sua irradiação ou da penetração da sua propaganda. A existência, na própria Europa Ocidental, de grandes partidos comunistas, como em França e na Itália, é descrita por Aron, em 1948, como sendo a de «quintas colunas». Sem dúvida, os milhões de eleitores que confiam nos partidos comunistas ocidentais nutrem-se de esperanças honrosas, mas isso não deve ocultar a realidade, a saber, que os dirigentes e os aparelhos desses partidos fazem a política da URSS no quadro nacional onde exercem as suas actividades.
Aos olhos de Aron, para frustrar os seus objectivos três condições se impunham: primeiramente, o restabelecimento dos grandes equilíbrios económicos, financeiros e monetários; logo - em segundo lugar - a restauração de um poder de Estado; e, em terceiro lugar, a luta decidida contra a ideologia comunista no próprio terreno das ideias e da propaganda.
E disso se encarregou Aron «Os revolucionários têm como que um ódio ao mundo e um desejo da catástrofe. Todos os regimes conhecidos são condenáveis face a um ideal abstracto de igualdade e liberdade. Apenas a Revolução, porque é uma aventura, ou um regime revolucionário, porque este consente no uso permanente da violência, parecem capazes de conjugar este objectivo sublime. O mito da Revolução serve de refúgio ao pensamento utópico, torna-se o intercessor misterioso, imprevisível, entre o real e o ideal. .... A própria violência atrai, fascina, mais que repele. O mito da Revolução converge com o culto fascista da violência.»
A crítica ideológica [ do intelectual de esquerda] é moralista contra uma parte do mundo e em extremo indulgente perante o movimento revolucionário. A repressão nunca é excessiva, antes pelo contrário, quando atinge a contra-revolução ou é ministrada por um movimento revolucionário. A prova da culpabilidade é sempre insatisfatória, quando ministrada pela justiça dos países ocidentais sobre «revolucionários». Quantos intelectuais aderiram aos PCs por indignação moral e acabaram subscrevendo de facto o terrorismo soviético e a razão de Estado?
Estes escritos de 1955 tornaram Aron no lacaio da burguesia, encarregado de lhe «fornecer a dose de justificações capazes de permitirem a esta ter boa consciência e enfraquecer os seus adversários». E isto não foi dito por nenhum radical, mas sim por Maurice Duverger, que de esquerda nunca teve nada. Tal era o ambiente intelectual que se vivia na época.
E quando lhe objectaram que o anticomunismo conduz ao fascismo, Aron respondeu com firmeza: «Não temos qualquer credo ou qualquer doutrina a opor à doutrina e ao credo comunistas, mas isso não nos humilha, porque as religiões seculares são sempre mistificações. Elas propõem às multidões uma interpretação do drama histórico e atribuem a uma causa única as infelicidades da humanidade. Ora, a verdade é outra, não há uma causa única ... Não há Revolução que, de um golpe, possa inaugurar uma fase nova da humanidade. A religião comunista não tem rival, ela é a última dessas religiões seculares, que acumularam as ruínas e espalharam torrentes de sangue».
Enquanto isso, Sartre apressava-se a estar do lado da causa do proletariado comunista. Em 1954, de regresso de uma viagem à Rússia onde fora passeado, louvado e empanturrado, dá entrevistas onde afirma: «A liberdade de crítica é total na URSS. O contacto é tão alargado, tão aberto, tão fácil quanto possível». E avança esta predição ousada: «Por volta de 1960, antes de 1965, se a França continuar a estagnar, o nível médio de vida na URSS será 30 a 40 por cento superior ao nosso. É bem evidente, para ela e para todos os homens, que a única relação razoável é uma relação de amizade». E Sartre conhece os factos, sabe do Gulag, mas tem uma atitude dúplice, pois embora condene existência dos campos soviéticos, alerta contra a exploração que disso faz, todos os dias, a imprensa burguesa. Todavia, 2 anos depois, o esmagamento da revolta húngara era um facto demasiado evidente e demasiado público Sartre anuncia então que quebra «as relações com os escritores soviéticos meus amigos, que não denunciaram, ou não podem denunciar, o massacre da Hungria», e descobre, finalmente, que «já passou o tempo das verdades reveladas, das palavras de evangelho: um Partido Comunista não pode viver no Ocidente se não adquirir o direito de livre exame».
Aron tinha mais uma vez acertado. Sartre precisou da brutalidade dos factos para ver, não direi claro, mas alguma ténue luz.
Foi igualmente oposta a posição deles perante o fim da IV República, incapaz de encontrar uma solução para a guerra da Argélia. Sartre preconizava uma nova Frente Popular e o combate ao gaullismo que seria a continuação da política colonial sob uma espécie de monarquia constitucional, Aron apostou no general, prevendo que ele faria uma política contrária aos militares que o tinham chamado. Mais uma vez foi Aron que acertou.
Mas Sartre encontrou outros heróis. Meses antes da crise dos mísseis, escreve «Os cubanos, é preciso repeti-lo, não são comunistas e nunca pensaram em instalar bases de foguetões russos no seu território»!! Fidel é um anjo... Fidel é «o homem para tudo e é o homem de todos os pormenores»... Fidel «é, a um tempo, a ilha, os homens, o gado, as plantas e a terra; ele é a ilha inteira»... vi Fidel no meio dos «seus» cubanos - «os cubanos tinham adormecido um após outro, mas Castro unia-os numa mesma noite branca: a noite nacional, a sua noite...»
Com a crise de Maio de 1968, Sartre abre uma nova página da sua intervenção política. Novos heróis se prefiguram diante dele: os estudantes revoltados e os grupúsculos trotskistas, maoistas e anarquistas que tentavam acaudilhar a revolta. Declara então que o PC e a CGT já não estão na corrida revolucionára: «O que está prestes a formar-se é um novo conceito de sociedade baseado na democracia plena, numa conjunção de socialismo e de liberdade»
Aron, do outro lado da barricada, declara com enorme coragem política, face ao vendaval existente, que os «estudantes franceses formulam várias reivindicações legítimas a partir de motivos de queixa autênticos. Mas uma pequena minoria entre eles, aproveitando a capitulação de muitos professores, graças à inocência política da massa estudantil e dos professores tradicionais, está prestes a conseguir levar a cabo uma operação verdadeiramente subversiva .... Dirijo-me a todos, mas em primeiro lugar aos meus colegas, de todas as correntes de opinião, aos estudantes, tanto aos dirigentes como aos manipulados. Convido todos aqueles que me lerem, e que encontrarem nos meus pontos de vista o eco das suas próprias inquietações, a escreverem-me. Talvez tenha chegado o momento, contra a conjura da lassidão e do terrorismo, de nos reagruparmos, fora de todos os sindicatos, num vasto comité de defesa e de renovação da universidade francesa.»
Nada mais distante das posições de Sartre que acusa com brutalidade o antigo condiscípulo: «Aposto que Raymond Aron nunca se pôs em causa e é por isso que ele é, na minha opinião, indigno de ser professor. Não é o único, evidentemente, mas vejo-me obrigado a falar dele porque, nestes últimos dias, ele escreveu muita coisa.» Contra Aron, Sartre defendia a eleição dos professores pelos estudantes e a participação dos estudantes nos júris dos exames. «Isso implica que deixemos de pensar, como Aron, que pensarmos sozinhos atrás das nossas secretárias - e pensarmos a mesma coisa há trinta anos - representa um exercício de inteligência». Todavia, esse exercício de inteligência tinha permitido ao pensamento político de Aron ser validado pela história, enquanto o de Sartre era apenas uma verdade absoluta enquanto durava cada contexto; depois ele próprio se encarregava de mudar de rumo.
Também aqui as posições de Aron se revelaram correctas. Foi perseguido e para receber um prémio universitário teve que o fazer clandestinamente, mas as eleições marcadas na sequência da crise foram um triunfo para De Gaulle e uma derrota clamorosa para os protagonistas do Maio de 68. Sartre, perante a recusa do PCF e dos sindicatos de encabeçarem o movimento, propôs a refundação da esquerda, «à esquerda» do PCF
E assim Sartre seguiu um percurso ligado ao radicalismo de esquerda. Em 1972 afirmava em entrevista que «continuava a favor da pena de morte por motivos políticos ... num país revolucionário em que a burguesia terá sido expulsa do poder, os burgueses que fomentassem um motim ou uma conspiração mereceriam a pena de morte ... um regime revolucionário deve desembaraçar-se de um certo número de indivíduos que o ameaçam e, para este caso, não vejo outro meio a não ser a morte; é sempre possível sair de uma prisão». No La Cause du Peuple, do qual ele é, desde Maio de 1970, o director titular, pode ler-se apelos a «sangrar os patrões», «esfolá-los vivos como porcos que são», a «linchar os deputados», a «catar os «pequenos chefes», a responder aos patrões sequestrados que ainda pedem «autorização para ir urinar»: «mija nas calças! Não sabes o que são umas cuecas que colam ao traseiro por causa do suor, assim, pelo menos, ficarás a saber o que é ter o cu molhado...», dos comunicados de «operários em revolução», «Vai chegar o dia em que exterminaremos toda a corja de patifes a que pertences». E outras expressões que prefiro não transcrever aqui.
A barbárie de outros textos publicados num jornal, Jaccuse, na década de 70, do qual ele se mantém como director e em relação ao qual, ao que se sabe, não deixou nunca de se mostrar solidário: «quanto a esse patrão, será preciso tirar-lhe os miúdos, se eles os tiver, até que as reivindicações sejam satisfeitas...» e a imagem - que também não o parece escandalizar - de Dreyfus, nessa altura patrão da Régie Renault, em que este surge caricaturado como um cão ocupado a sodomizar outro, suposto representar a «canalha sindical» de Billancourt.
Em meados da década de 20, Aron e Sartre haviam prometido, um ao outro, que aquele que sobrevivesse escreveria o obituário do outro no Boletim dos Antigos Alunos da Escola Normal. Aron não honrou essa promessa e explicou porquê: «Demasiado tempo passou entre a intimidade de estudantes e o aperto de mão na conferência de imprensa do Barco para o Vietname(*), mas ficou qualquer coisa. Deixo aos outros o encargo, ingrato, mas necessário, de celebrar uma obra cuja riqueza, diversidade e amplitude confundem os contemporâneos, de pagar um justo tributo a um homem cuja generosidade e desinteresse ninguém porá em dúvida, mesmo quando se empenhou, e fê-lo por diversas vezes, em combates duvidosos»
É, de facto, preferível, no interesse da memória de Sartre que é um filósofo importante e um escritor de mérito esquecer o Sartre político, cuja lógica do absoluto revolucionário o levou a escrever textos que poderiam figurar em antologias de literatura fascizante. E continuarmos a ler os escritos políticos de Aron, o intelectual lúcido, que durante 40 anos se debateu com a actualidade, tentando captar-lhe o sentido, com objectividade, sem sentimentalismos nem romantismos. Um intelectual que permanece actual.
(*)Em 1979, quando da tragédia dos boat people estiveram juntos para sensibilizarem o Eliseu e o povo francês a colaborarem na tentativa de salvamento das dezenas de milhares de refugiados vietnamitas que fugiam do país por mar em condições dramáticas.
Publicado por Joana às 11:45 PM | Comentários (112) | TrackBack
fevereiro 22, 2005
Sócrates e o Desemprego
Uma das bandeiras da campanha de Sócrates foi a da recuperação do emprego. Não explicou como, para além de prometer colocar (a expensas dos contribuintes) mil licenciados em gestão e em tecnologia em PMEs. Não explicou, nem o conseguiria facilmente. Não é ao Estado que cabe criar empregos, mormente o Estado português que deveria, em vez disso, emagrecer substancialmente no que respeita ao volume dos seus efectivos, justamente para aumentar a competitividae da nossa economia. Ao Estado cabe implementar políticas que promovam o emprego.
E como promover o emprego? Há medidas a médio e a longo prazo que são necessárias e que já deveriam ter sido tomadas. Tornar eficiente o nosso sistema de ensino, apostar na componente profissional e tecnológica como alternativa à procura pelas saídas universitárias, muitas delas sem qualquer interesse no mercado de trabalho. Não é gastar mais dinheiro nele, pois já é o mais caro da Europa. É aplicá-lo melhor. Não é apenas criar cursos profissionais e tecnológicos, é torná-los atractivos, porque a fraca procura que há por esta alternativa, para além das suas deficiências, tem muito a ver com a mentalidade dos portugueses que continuam a ver o canudo como um seguro de vida.
Mas as medidas enunciadas no parágrafo anterior apenas terão efeito a longo prazo. No curto prazo outras terão que ser tomadas. O primeiro conceito a reter é que o factor trabalho é um bem sujeito à oferta (de quem busca emprego) e à procura (do empregador). Funciona portanto em mercado. E a eficiência do mercado do trabalho maximiza-se quando estão reunidas as condições de concorrência perfeita: transparência, atomicidade e independência dos agentes intervenientes , total liberdade de entrada e saída, racionalidade (minimizar o consumo de um dado factor para o mesmo nível produtivo) e mobilidade perfeita dos factores de produção (*).
O mercado do trabalho em Portugal tem-se aproximado, no que respeita a algumas daquelas condições, do modelo concorrencial. A transparência tem aumentado e o Estado tem tido algum papel nisso através dos seus serviços (Instituto do Emprego, por exemplo) (**). A atomicidade e independência dos agentes tem aumentado no sector privado, pela diminuição drástica da influência sindical, fruto aliás do protagonismo inicial excessivo dos sindicatos e das situações de impasse a que esse protagonismo conduziu os trabalhadores. A racionalidade na utilização do factor trabalho cabe aos empregadores. Em teoria, o próprio funcionamento do mercado expulsaria as empresas que não fizessem escolhas racionais neste campo. Na prática, a protecção estatal pode manter artificialmente no mercado empresas que não funcionem com racionalidade. É uma violação das condições estruturais que constitui um ónus para a sociedade e para os restantes agentes económicos.
Todavia a questão central, por ser a mais delicada e não estar resolvida , é a da mobilidade perfeita do factor trabalho. A experiência tem mostrado que enquanto numa economia liberal, como a dos EUA, uma retoma económica obtém níveis mais elevados e o pleno emprego se atinge rapidamente em iteração com o crescimento económico, em economias com maior rigidez laboral, como as europeias, essa rigidez acaba por se tornar um travão ao próprio desenvolvimento económico.
Tomemos o caso português. Em Portugal coexistem duas situações um mercado de trabalho absolutamente rígido, e um mercado completamente flexível, baseado nos recibos verdes e nos contratos precários. A existência deste último mercado tem sido a principal responsável pelo crescimento económico português. Quando as expectativas sobem, os empresários não têm dúvidas em aumentarem o nível do emprego, porque sabem que se essas expectativas se gorarem poderão reduzir os seus efectivos. Sucede que, na maioria dos casos, essas admissões acabam por se tornar permanentes porque a economia estimulada pelas decisões desses empresários cresceu o suficiente para assegurar a manutenção desse nível de emprego.
É por isso que Portugal, tendo embora uma legislação laboral mais rígida que no resto da Europa, tem tido taxas de desemprego menores. A nossa legislação protege os «insiders», incluindo os que têm emprego e não querem trabalhar. Mas existe um mercado paralelo, embora legal, completamente liberalizado, com uma mobilidade porventura superior à americana, e que tem servido de impulsionador ao nosso crescimento económico. Sem ele, a nossa situação actual seria certamente muito mais calamitosa.
Todavia, não é possível construir uma economia sã, com uma mercado rígido coexistindo com um mercado selvagem. É uma situação socialmente injusta e prejudicial do ponto de vista da inovação e qualificação. Quer o trabalhador asilado, quer o trabalhador que subsiste em completa precaridade têm poucos incentivos à melhoria da sua qualificação profissional e à inovação.
São estes conceitos que Sócrates e a sua equipa terão que interiorizar se querem criar empregos. A aposta na qualificação e formação profissional é necessária, mas não é suficiente, e no curto prazo terá mesmo efeitos muito diminutos. O governo anterior considerou que a reforma das leis laborais tinha carácter de urgência. O resultado foi tíbio. Sócrates, se quer dinamizar o mercado de emprego, terá que ir mais além. Conseguirá ultrapassar os preconceitos ideológicos dos seus pares? É uma questão de pôr os olhos no seu correligionário alemão, que tem conduzido reformas laborais e sociais muito mais profundas do que a coligação de direita portuguesa alguma vez tentou levar a cabo.
Sócrates tem porém uma vantagem. Se quiser fazer essas reformas, poderá contar com o humor corrosivo da direita, mas contará certamente com os seus votos, ou pelo menos com a sua abstenção.
Quanto a colocar (pagos pelo erário público) mil licenciados em gestão e em tecnologia em PMEs, não passa de um gesto inócuo, que só terá um simbolismo passageiro. As condições para a continuação do aumento do desemprego em Portugal não foram eliminadas. A hecatombe dos têxteis e da construção civil perfila-se no horizonte. Não é apenas necessário recuperar os empregos perdidos nestes últimos anos. É igualmente necessário encontrar empregos para os efectivos de diversas empresas têxteis que estão condenadas, e para o excesso de emprego na construção civil (quando comparado com a percentagem dos outros países europeus), emprego que tenderá a decrescer, fruto da retracção imobiliária e da diminuição das empreitadas de obras públicas.
Notas:
(*) O conceito de concorrência pura e perfeita é obviamente teórico. Por isso os economistas anglo-saxónicos introduziram o conceito do 2nd Best, ou da Workable Competition que consubstancia um conjunto de regras de validação da concorrência, em face das restrições ou violações das condições estruturais que dificultam, na prática, a concorrência pura e perfeita. O modelo teórico constituiria assim uma assimptota face a uma curva imaginária onde cada ponto fosse o resultado das combinações possíveis das diversas violações, em quantidade e qualidade, dos pressupostos de base.
(**)Aliás, o papel principal do Estado, numa economia de mercado é aumentar a sua eficiência e estabelecer procedimentos e legislação que impeçam as violações das regras da concorrência e assegurem a legalidade dos comportamentos dos agentes económicos. E sublinho isto, porque quando falo da liberdade de mercado, aparecem sempre aqueles que citam o tráfico de droga ou a prostituição como razões para limitar essa liberdade. Esquecem-se de uma coisa, a criminalidade vive num mundo paralelo, à margem da lei. Ao fazerem-se leis restritivas ao funcionamento dos mercados, elas aplicam-se apenas àqueles que vivem na legalidade, pois os criminosos já estão à margem da lei. Aquelas preocupações não passam assim de hipocrisia e de desonestidade intelectual.
Publicado por Joana às 07:55 PM | Comentários (50) | TrackBack
fevereiro 21, 2005
Atavismos ...
Estes 3 últimos anos, que se iniciaram com a demissão de Guterres e acabaram com o desfecho eleitoral de ontem evidenciaram as razões profundas do atraso estrutural de Portugal e da sua incapacidade em enveredar pela via do desenvolvimento sustentado da prosperidade económica. Não existe no nosso país, nos meios políticos, culturais e económicos, um sistema coerente de ideias e valores sedimentado e suficientemente difundido e partilhado por largas camadas da população, relativo à liberdade do funcionamento da economia, à assumpção do risco, da inovação, da mobilidade e da requalificação permanente. A ideologia veiculada pelo nossa super-estrutura política, cultural e económica, tirando algumas excepções, é a do Estado asilo, do Estado de que todos, pelos mais diversos e desencontrados motivos, dependem.
O Estado patrão sustenta mais de metade da população. O Estado, agindo como Deus ex-machina da economia, tem posto entraves à transparência dos mercados, tem introduzido barreiras institucionais à entrada nos mercados e à mobilidade entre eles, tem agido como protector de empresários, pervertendo a livre iniciativa, pois enviesa o funcionamento normal da economia, protege empresários ineficientes à custa do erário público e incentiva uma mentalidade de dependência perante um anjo protector. Esta vivência de dois séculos nunca permitiu, salvo poucas excepções, que as empresas ganhassem maturidade, sentido do risco e da inovação e capacidade de sobreviverem sozinhas, pelo seu próprio esforço e engenho. Essa cultura da mediocridade e da tacanhez, fragiliza extraordinariamente o tecido económico português na actual era da globalização e da liberalização do comércio mundial.
Mas este modelo do Estado Providência (em todos os sentidos, nomeadamente no pior sentido) perverteu toda a sociedade. Na cultura, por exemplo: em Portugal não há Teatro nem Cinema porque estes apenas vivem da dependência dos subsídios. Isso fez com que não tivessem necessidade de obter o favor e a adesão do público. Bastava-lhes obterem os subsídios. A sua produção é em circuito fechado, pois o público é despiciendo. Em vez de promover a cultura, o Estado Providência meteu-a num asilo, com a conivência dos asilados. Para definir o nosso regime, melhor que Estado Providência, seria a designação de Estado Asilo.
Esta perversão do posicionamento do Estado na sociedade afecta toda a classe política e não apenas as áreas políticas cuja ideologia de base é, geneticamente, estatizante. As áreas políticas que se reclamam de uma visão não estatizante da economia e da sociedade, não interiorizaram essa visão, nem a modelaram numa doutrina coerente, num projecto capaz, ambicioso e mobilizador.
Neste entendimento, a derrota de ontem começou com a vitória de Durão Barroso, um político medíocre, sem capacidade de liderança e sem coragem para tomar decisões. Mas a sua vitória foi, sobretudo, a evidência de que aquela área política não tinha nem um corpo de doutrina coerente, sólido e rigoroso, nem gente capaz, ou interessada, em liderar o processo de transformação e modernização do país. Muitos dos ministros que Durão Barroso escolheu eram manifestamente incapazes e outros estavam em sítios errados. Manuela Ferreira Leite, por exemplo, tem perfil para secretária de Estado do Orçamento, nunca para Ministra das Finanças.
Durante dois anos, se se exceptuar um anémico pacote laboral, não se fez mais nada senão cortar nas despesas. Mas, numa empresa, quando se pretendem reduzir custos, o controlo de custos estabelece-se em paralelo com a reorganização da empresa em termos dos serviços produtivos e administrativos, procedimentos, etc. Tentar controlar apenas os custos não resolve nada, até porque os custos numa organização desorganizada têm uma característica singular: são sempre imprescindíveis e inadiáveis. Foi o que aconteceu com MFL. Ela cortou, congelou, restringiu ... mas a despesa cresceu sempre, inexoravelmente. O défice corrente, apesar das medidas restritivas, continuou assim superior ao limiar aceitável. É óbvio que a má conjuntura económica internacional ajudou a este mau desempenho das finanças públicas, mas só parcialmente. A razão primordial foi a ausência de reestruturação do sector público, foi a ausência de um projecto coerente e capaz.
Provavelmente por isso mesmo, Durão Barroso agarrou com ambas as mãos a oportunidade da Presidência da Comissão Europeia. O seu governo estava politicamente esgotado e ele não tinha coragem (nem provavelmente capacidade) de inverter a situação.
Santana Lopes nunca deveria ter aceitado a indigitação. Como eu escrevi aqui, nessa altura, tal foi um presente envenenado. Durante 4 meses o PR e a comunicação social frigiram-no em fogo lento. Se exceptuarmos um ou outro debate, ele portou-se sempre como prematuramente vencido, mendigando os avales do PR, sem chama nem vigor. A sua campanha eleitoral foi um desastre: cinzenta, sem ambição.
Aliás, não me parece que PSL tenha perfil para o projecto de modernização da nossa economia, tal como o enunciei acima. É certo que conseguiu formar um governo bastantes furos acima do de Durão Barroso, apesar da premência do tempo, mas não tem perfil para levar a cabo uma reforma tão profunda como aquela que o país necessita. Terá que ser alguém com uma imagem de sobriedade e de credibilidade profissional e científica. Cavaco tinha essa imagem. Infelizmente não tinha as ideias que preconizo como indispensáveis à inversão da caminhada de Portugal para o abismo. Lembremos que embora tivesse sido com o guterrismo que o despesismo atingiu as raias do absurdo e do desconchavo, esse despesismo já havia começado com Cavaco.
O PSD e o PP estão numa encruzilhada. Paulo Portas não tem perfil, credibilidade, nem envergadura, para criar e liderar o projecto que defendo. Nem ele, nem o PP. Todavia revelaram, nestes três anos, que são capazes de, eventualmente, exercerem o papel de sócios menores nesse projecto. Quanto ao PSD não vejo saída próxima. Santana não tem perfil para o fazer, e a sua prestação errática, de derrotado à partida, que ele teve nestes últimos 6 meses, degradou a sua imagem política. Santana terá que fazer uma travessia no deserto, à espera que o eleitorado veja que há outros muito piores que ele. Mas também não vislumbro, no leque dos actuais líderes visíveis, alguém suficientemente capaz. A sugestão de António Borges, a MFL, acho que é um disparate. Essa senhora tem uma boa imagem de merceeira honesta e conscienciosa e não de líder partidária de um partido da área de governo.
Todavia, tal como no xadrez jogado entre aprendizes, ganha quem faz a penúltima asneira. Acontece o mesmo na política portuguesa. A menos que o 1º Ministro Sócrates seja totalmente diferente do Sócrates que se tem produzido até à data, é muito duvidoso que o(s) seu(s) governo(s) dure(m) mais de dois anos. E se um líder frágil e sem coragem política, como Durão Barroso, herdou os despojos de Guterres, não custa nada admitir que o líder do PSD, mesmo a MFL ou o Marques Mendes, venha a herdar os despojos socráticos.
Simplesmente estas heranças são o remake da dança das cadeiras do estertor da monarquia. Não são vitórias, são a herança de derrotas. Não estão inseridas num projecto coerente e sustentável que modernize o país. Servem apenas de entretém ao Campeonato dos Partidos.
A derrota de ontem foi a rejeição pelos portugueses de um modelo que temem, porque constitui uma alteração à mediocridade, regulada pelo Estado, em que têm vegetado. Mas temem-no não apenas por isso. Temem-no sobretudo porque ele não aparece sob a forma de um projecto coerente, rigoroso e sustentável, liderado por políticos credíveis. O eleitorado mostrou que não quer trocar a actual mediocridade em vias de empobrecimento, por algo cujos riscos não consegue quantificar e em cujos protagonistas não confia.
Publicado por Joana às 07:45 PM | Comentários (54) | TrackBack
fevereiro 14, 2005
O Mercado e os Aprendizes de Feiticeiro
Parafraseando Churchill, o sistema da Economia de Mercado é o pior sistema económico, se exceptuarmos todos os outros. Todos os sistemas sociais e económicos alternativos já experimentados, começaram como utopias exaltantes e acabaram na miséria económica e no totalitarismo político. Todas acções dos aprendizes de feiticeiro que querem regular a economia, mesmo com as melhores intenções, levam invariavelmente essa economia ao desastre.
A ideia da política económica distributiva tem milénios. Os filósofos da Antiguidade e os escolásticos da Idade Média apenas se preocupavam com a repartição dos bens de forma a torná-la coerente com a moral que quer uns, quer outros, pregavam para a sociedade; para eles a produção era um dado adquirido. O lucro era considerado pecaminoso. O bom governo seria aquele que assegurasse a igualdade social. É certo que este discurso moralista nunca passou da elaboração de utopias, mas tem servido de suporte à ideologia que se intitula de esquerda, passado que foi o interlúdio do socialismo científico de Marx, tornado desvalido pelos infortúnios do socialismo real. E assim se regressou do socialismo científico ao socialismo utópico de sempre.
Foi Adam Smith que descobriu o motor do desenvolvimento económico da prosperidade social, que estivera sempre presente na sociedade, mas que nunca havia sido identificado: o indivíduo, e não o Estado, é o principal actor económico; a riqueza é real e não se confunde com uma ilusão monetária; o comércio internacional é apenas um comércio como outro qualquer e não um meio de entesouramento do Estado e da prosperidade de um país, como julgavam os mercantilistas.
Para Adam Smith «a opulência nasce da divisão do trabalho». A divisão do trabalho é a condição sine qua non do crescimento. Mas qual é o seu fundamento? A racionalidade dos indivíduos? O fruto de uma vontade colectiva? Não, é o gosto pela troca e pelo lucro. Não é à virtude moralista do dono da mercearia que devemos o nosso jantar, mas ao egoísmo com que ele cuida dos seus interesses. Não nos dirigimos ao seu humanismo, mas à sua ganância; não lhes falamos das nossas necessidades, mas das suas vantagens.
Este estado da natureza, o mercado, corresponde, além do mais e segundo se demonstra na microeconomia, ao óptimo colectivo. Em vez da providência divina, dos escolásticos, é a mão invisível que providencia o óptimo da colectividade.
Porém, para a economia funcionar tem que haver intervenção do Estado. Mas essa intervenção deve circunscrever-se à defesa e segurança pública e à tarefa de manter a concorrência a funcionar sem entraves, nem barreiras. A sociedade tem necessidade que ser protegida e ser liberta dos entraves que possam prejudicar a eficiência do seu funcionamento: suprimir as barreiras que limitam a liberdade económica: regulamentos e corporações no plano interno; restrições às importações e travões ao comércio livre no plano externo, porque a liberdade de comércio tende a maximizar a riqueza da sociedade. Isto desde que o outro país não prejudique, por proibições ou direitos elevados, as importações vindas do nosso país.
Além disso, outra ideia mítica foi destruída: A produção não é uma criação de matéria, mas uma criação de utilidade. O preço apenas quantifica a utilidade e a raridade dos produtos. Só há produção de riqueza quando houver criação ou aumento de utilidade. Quando se diz que os custos de produção regulam o valor dos produtos, isto apenas é verdade na medida em que um produto nunca pode ser vendido, de uma forma sustentada, a um preço inferior ao seu custo de produção. Todavia é a relação entre a oferta e a procura que fixa o preço. Os consumidores adequam as quantidades consumidas à utilidade que vêem na sua aquisição e os produtores adequam as quantidades produzidas à procura existente, tendo em conta a sua estrutura de custos.
O regresso ao mito milenar que a criação de riqueza é a criação de matéria, postergando a utilidade como elemento definidor do preço foi outro dos vícios do socialismo real. Vício que era aliás imanente à própria ideologia que o suportava. Sabe-se o resultado a que isso conduziu.
A economia de mercado é a base espontânea e natural das trocas e da fixação dos preços e quantidades. Ponham o capitalismo na rua que ele entra pela janela. Em todas as formações sociais, e nas áreas em que não há coacção extra-económica (escravatura, servidão, regulamentos corporativos, etc.), existe economia de mercado. Mesmo nos regimes comunistas o desenvolvimento de uma economia de mercado (aceite institucionalmente ou em mercado negro) acompanhou o aumento da planificação colectiva e a expansão do sistema de preços artificiais.
Todavia, a economia sem a sociedade é um jogo abstracto. A economia de mercado é um processo darwinista (aliás comum à evolução das espécies) que elimina os menos aptos. Mas quando falamos dos menos aptos estamos a referir às pessoas e à sua exclusão social. A sociedade terá assim que implementar mecanismos para organizar essa diferença: as desigualdades sociais e económicas devem permitir trazer aos mais desfavorecidos as melhores perspectivas e estas serem compatíveis com o objectivo permanente da igualdade das oportunidades. Este princípio é compatível com um aumento da desigualdade. Pouco importa que o rico se torne mais rico se o pobre se tornar menos pobre. Não é a igualdade que é importante, mas sim a equidade. Equidade na política de educação, segurança social, justiça, etc..
A perversidade foi que a implementação daqueles mecanismos levaram ao crescente poder e importância do Estado como regulador social, para além do necessário. Na Europa Ocidental, a prosperidade das 3 décadas de ouro parecia indicar que o Estado poderia aumentar indefinidamente a despesa pública para subsidiar o igualitarismo social. A esquerda ocidental que abandonara o marxismo, tornou-se keynesiana.
Mas da mesma forma como o mercado liquidou o socialismo científico, liquidou o keynesianismo e a sua aposta na despesa pública como motor da economia. As políticas públicas que pretendiam estabilizar a sociedade, revelaram-se destabilizadoras para a economia. Injectar dinheiro na economia é como consumir droga: quando acaba o efeito ilusório é preciso mais, cada vez mais. O socialismo, que havia ficado órfão de Marx, ficou agora órfão de Keynes, embora muitos ainda não se tenham apercebido disso.
E assim Hayek, que havia sido desprezado, foi repescado: O salário mínimo? Uma inépcia que impede a mobilidade de trabalho, reduz a produtividade e pesa sobre o nível de vida colectivo. A fiscalidade, e em especial o imposto progressivo? Uma catástrofe, pois a progressividade perturba a alocação óptima dos recursos; o imposto deve ser proporcional, afim de salvaguardar a sua neutralidade. O Estado-Providência? Uma máquina para fabricar efeitos perversos: a socialização da economia que a acompanha não pode, por definição, ir a par com a realização do óptimo. A intervenção pública? Um crime contra a economia, se o Estado pretender ir além da formulação de regras gerais e da defesa da concorrência.
Foram os países anglo-saxónicos que mais rapidamente se aperceberam da necessidade de mudança: Reagan, nos EUA, e Thatcher, no UK. A revolução thatcheriana, que o trabalhista Blair não repudiou, permitiu que a Grã-Bretanha esteja a atravessar esta fase complexa da economia mundial de uma forma muito mais satisfatória que a França e a Alemanha, cujas economias estagnaram, isto para não falar de países mais pequenos, como a Suécia, a viverem uma crise profunda.
O que Portugal precisa é da liquidação de todos os empecilhos que impedem que o mercado funcione com eficiência (justiça morosa e de desenlace duvidoso, burocracia administrativa, regulamentações obsoletas, rigidez laboral, etc.). Precisa igualmente que a máquina do Estado seja aligeirada e tenha um melhor desempenho, nomeadamente na educação e na saúde. Precisa que o Estado assegure a transparência dos mercados e que não haja barreiras legais ou artificiais à entrada nos mercados.
É essa a tarefa do Estado. Se o fizer, o tecido empresarial português fortalecer-se-á e aparecerão empresários de mentalidade cada vez mais aberta e dinâmica, mesmo que inicialmente sejam os empresários estrangeiros os primeiros a aproveitarem a melhoria do ambiente económico. E este dinamismo irá reflectir-se no volume de emprego e na sua qualificação.
Não cabe ao Estado ensinar aos empresários onde estão as melhores oportunidades de negócio ou incutir-lhes confiança através de declarações públicas. Os empresários sabem melhor que o Estado que oportunidades há e onde estão. Os empresários terão confiança se sentirem um clima de confiança e não por mera retórica.
É neste enquadramento que deve ser lida e avaliada a entrevista de Sócrates ao programa "Diga lá Excelência". Mas isso será objecto de um próximo post.
Publicado por Joana às 08:20 PM | Comentários (60) | TrackBack
janeiro 31, 2005
Défice democrático e a Esquerda
Na sequência de um post anterior, queria acrescentar alguns factos que vão certamente embaraçar os que se reverenciam nas virtudes democráticas da alegada esquerda. E esses factos referem-se à circunstância de, na história constitucionalista portuguesa, a esquerda ter sido, geralmente, refractária aos alargamentos das capacidades eleitorais e a mudanças e inovações no sistema eleitoral. Foi quase sempre a ala direita do espectro político-partidário a responsável por esse alargamento.
Não vou descrever as sucessivas leis eleitorais da monarquia constitucional. O vintismo introduziu o sufrágio directo mas sem carácter universal, já que não podiam votar, entre outros, os menores de 25 anos, as mulheres, os "vadios, os regulares e os criados de servir". Este curioso sistema de incompatibilidades serviu, por exemplo, para afastar Agostinho de Macedo das Cortes de 1822, apesar de eleito, sob o pretexto de ser pregador régio! (logo equiparado a criado do rei!). Esse afastamento teve um carácter claramente político e, pelo azedume que provocou, contribuiu para a evolução de Agostinho de Macedo para o absolutismo extremista.
A Carta Constitucional criou um sistema de eleição em duas fases. Nas eleições primárias, em que se elegiam os Eleitores de Província, não se atribuía direito de voto, entre outros, aos menores de 25 anos e aos "que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis", mantendo-se as incapacidades eleitorais activas previstas na Constituição de 1822. Os Eleitores de Província deviam possuir uma renda mínima de duzentos mil réis. (Nota: A Câmara dos Pares era composta por membros vitalícios e hereditários, nomeados pelo Rei, sem número fixo, a que acresciam Pares por direito próprio, em virtude do nascimento ou do cargo).
O Acto Adicional de 1852, aprovado na sequência do triunfo do movimento Regenerador estabelece a eleição directa dos deputados por todos os cidadãos, mas mantém o censo mínimo de cem mil réis de renda. Portanto, o triunfo da ala esquerda do liberalismo traduziu-se apenas na passagem do sufrágio em duas fases, para sufrágio directo. O censo e portanto a base eleitoral não foi alargada.
Foi Fontes Pereira de Melo, o chefe da ala direita do liberalismo, que alargou a base eleitoral pela Lei de 8 de Maio de 1878 que considerava como possuidores da renda mínima para votar, todos os chefes de família e os alfabetizados.
Assim, por exemplo, nas eleições de 30 de Março de 1890, em 5 049 729 habitantes no continente e ilhas, havia 1 315 473 cidadãos masculinos maiores de 21 anos e 951 490 eleitores (18,8% da população total; 72,3% da população masculina maior de 21 anos). No anterior sistema censitário, os eleitores nunca passaram de 400 mil.
Todavia, as leis de Hintze, no período de decadência monárquica, a partir de 1895, voltaram a reduzir a capacidade eleitoral activa aos cidadãos masculinos, maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever e colectados em contribuições não inferiores a 500 réis. Portugal passou a ter 493 869 eleitores (9,4% da população total). Poucos anos depois Hintze decretou a ignóbil porcaria, como lhe chamou João Franco, reajustando os círculos uninominais, de forma a que parte do eleitorado urbano, favorável a João Franco, e também aos republicanos, fosse englobado com o eleitorado rural, tudo calculado para diminuir a possibilidade do triunfo dos adversários de Hintze Ribeiro.
Após a revolução republicana de 5 de Outubro de 1910 verificou-se que afinal os republicanos eram mestres mais eficientes na viciação de eleições que os decrépitos políticos da monarquia terminal. A Assembleia Constituinte foi eleita num sufrágio em que só houve eleições em cerca de metade dos círculos eleitorais. Muitos candidatos em diversas circunscrições eleitorais foram proclamados "eleitos" sem votação. O sufrágio universal foi afastado, tendo votado apenas os cidadãos alfabetizados e os chefes de família, maiores de 21 anos.
Em 1913 (lei de 3 de Julho) a capacidade eleitoral é reduzida aos adultos letrados. O eleitorado potencial caiu de cerca de 1 milhão para cerca de 600 mil e os recenseados de 846.000 para 397.000. A república diminuiu o eleitorado potencial para cerca de 30% daquele que existiria pela lei de Fontes Pereira de Melo! Afonso Costa, o guru da esquerda republicana, tão elogiado pelos nossos republicanos laicos, defendeu esses cortes argumentando que «indivíduos que não sabem os confins da sua paróquia, que não têm ideias nítidas e exactas de coisa nenhuma, nem de pessoa, não devem ir à urna, para não se dizer que foi com carneiros que confirmámos a república»! Dificilmente se concebe uma afirmação mais hipócrita!
A esquerda republicana tinha medo dos carneiros! Estes desdenhados ovinos continuam, quase um século depois, a ser a figura representativa dos portugueses que não alinham com as verdades absolutas proclamadas pela esquerda. Quem não concorda pertence aos carneiros cunhados e postos a circular por Afonso Costa. Todavia, Afonso Costa apenas teve a coragem de dizer publicamente aquilo que muita esquerda pensa, sem coragem de o admitir abertamente: ela receia e desdenha o eleitor que não pertence à sua mundividência.
Só em 1918, com o decreto nº 3997, de Sidónio Pais, o Presidente-Rei, acusado de aspirar à ditadura, se alargou o sufrágio a todos os cidadãos do sexo masculino maiores de 21 anos. Essa disposição triplicou o eleitorado potencial e Sidónio foi eleito por cerca de meio milhão de votos (foi a única vez, na 1ª República, que um Presidente da República foi eleito por sufrágio universal, visto que era eleito pelas Câmaras). Contudo, este alargamento só duraria um ano, até ao seu assassinato, quando foi reposto o anterior regime de incapacidades.
Mesmo apesar de um sufrágio tão restritivo, excluindo a carneirada, a abstenção durante a 1ª República foi sempre muito elevada, atingindo cerca de 85% nas últimas eleições em 1925. Provavelmente se os carneiros tivessem direito de voto, os desacreditados líderes republicanos acabassem marginalizados da política e não se criasse a ideia da necessidade da ditadura para liquidar aquele sistema iníquo, que levou ao golpe de 28 de Maio e à instauração da ditadura e, depois, do salazarismo.
A seguir ao Movimento do 25 de Abril, as eleições livres e democráticas constavam do programa do MFA. À medida que a data fatídica se aproximava, o receio da ala esquerda do regime foi evidente. Estava emparedada entre as promessas emblemáticas do seu manifesto, de que não podia abdicar sob pena de alienar os restantes elementos das FA, muito maioritários, e a desconfiança sobre o comportamento da carneirada. As campanhas de dinamização da 5ª Divisão foram, tudo o indicou, contraproducentes, como é usual quando radicais de esquerda querem explicar, ao povo, o evangelho revolucionário. Os militares radicais viram-se assim na necessidade de obrigarem os partidos a assinarem um pacto que limitava a Constituinte e a colocava sob tutela da esquerda radical do MFA.
Portanto, a Constituição de 1976 não é livre nem democrática porque foi o resultado de uma assembleia constituinte condicionada exteriormente, sob tutela e com limitações impostas à sua acção.
Mesmo depois da aprovação da Constituição de 1976, o país continuou sob tutela da esquerda militar, com o apoio de parte significativa da esquerda do espectro político português.
Esta desconfiança face às populações que não pertencem à sua mundividência é comum a toda a esquerda radical e influencia parte da esquerda que se reclama de democrática, tendo por isso uma expressão muito difundida na comunicação social.
Ela é igualmente herdeira das concepções marxistas de que a democracia é algo de despiciendo, que não passa da última barreira que a burguesia tenta erguer como obstáculo à caminhada para a ditadura do proletariado, cujo primeiro enunciado aparece em 1850: «Ao passo que os pequenos burgueses democráticos querem pôr termo à revolução o mais rapidamente que possam, (uma vez obtida a satisfação às suas reivindicações [a democracia parlamentar]), os nossos interesses e as nossas tarefas consistem em tornar a revolução permanente até que seja eliminada a dominação das classes mais ou menos proprietárias, até que o proletariado conquiste o poder do Estado .... Não se trata para nós de introduzir reformas relativas à propriedade privada mas de a suprimir; não se trata de conciliar os antagonismos de classe, mas de suprimir as classes, não se trata de melhorar a sociedade existente, mas de edificar uma nova»
K. Marx.-F. Engels, Mensagem do Comité Central à Liga dos Comunistas. Março de 1850 (Ansprache der Zentralbehörde an den Bund vom März 1850, in Marx-Engels Werke Vol 7, páginas 244-254).
Estas concepções foram sendo sucessivamente refinadas até à teorização leninista e continuam a constituir um substrato ideológico importante de parte significativa da esquerda, mesmo de muitos que se afirmam convicta e sinceramente democratas.
Publicado por Joana às 12:07 AM | Comentários (38) | TrackBack
janeiro 27, 2005
Défice Democrático
Há um blogue de um especialista em sondagens, onde este fez uma análise, bastante elaborada, sobre a razão pela qual as estimativas de resultados publicadas antes das eleições pelas diferentes empresas de sondagens tendem a subestimar a votação do CDS-PP. O palpite dele, alicerçado na comparação entre os tipos de amostragem das diferentes sondagens, em diversos actos eleitorais, é que o eleitorado do CDS tende a ocultar o seu sentido de voto, mais do que o eleitorado dos restantes partidos. Esta conclusão-palpite dá que pensar.
Porque é que as pessoas do PP, ou da chamada Direita, têm receio em revelar directamente a opinião que exprimem na discrição da cabine de voto? Se têm receio, é porque sentem que há uma sanção pública relativamente as opiniões políticas que têm. Opiniões que, aliás, são perfeitamente legítimas e, teoricamente, garantidas constitucionalmente. Portanto, essa sanção pública viola os direitos, liberdades e garantias que constituem a base de um Estado de Direito. Portanto nós vivemos numa situação de défice democrático.
Essa sanção pública é veiculada pela comunicação social, sob as mais diversas formas em que esta se processa, e decorre do facto da superestrutura ideológica da sociedade actual ter sido colonizada pela esquerda. Escrevi em 21-04-2004 que, A esquerda actual tornou-se, em matéria de intolerância, arrogância e espírito totalitário, a herdeira da direita dos fins do século XIX e primeiras décadas do século XX. E as conclusões daquele estudo vêm reforçar as opiniões que então exprimi.
Terei, talvez, quando escrevi aquele texto, sido algo superficial na caracterização política. Na verdade, esquerda e direita voltaram a ser apenas a disposição geométrica dos assentos parlamentares. A esquerda, hoje em dia, tem apenas um significado geométrico e, no caso do PS, de geometria variável. Actualmente a esquerda é o conservadorismo, é a defesa do statu quo, daquilo que chama direitos adquiridos ou conquistas irreversíveis. A esquerda olha para o futuro, saudosa do passado, defendendo-o, e recuando combatendo trincheira a trincheira. A esquerda não tem quaisquer ideias operacionais, para além de falar em ser amiga das políticas sociais, mas sem as concretizar, pois já viu, ela e todos nós, o fundo ao tacho.
Em contrapartida, a esquerda, a esquerda actual, vive da contemplação extática dos seus sublimes e imortais valores sociais e culturais. E esse êxtase, esse arrebatamento a que a sua ideologia a transporta, leva-a a sentir um intenso desdém pelos ignaros que não comungam dessa ideologia. Ora um sistema coerente de ideias e valores ou se baseia no conhecimento do real concreto, na experiência, tendo portanto uma fundamentação científica continuadamente validada pelos factos, ou quando ele se mantém apenas pela fé, pois a experiência e os factos invalidam-no, não é mais que uma religião.
E sabe-se com que determinação e furor as religiões defendem os seus cânones, as suas matérias de fé. A história está repleta das violências que as religiões exerceram para manterem a pureza da fé e exterminarem os heréticos.
Foi pelo facto dos sistemas de ideias e valores da esquerda se terem tornado numa religião, numa profissão de fé, que a esquerda actual é estalinista, mesmo quando se declara contrária ao estalinismo, é intolerante, é trauliteira, é totalitária, é, em tudo, o espelho fiel da direita «antiga» no que respeita ao comportamento social e tipologia argumentativa. Basta ler os fóruns da net, alguns blogues, diversos comentários a este blogue, etc.. A esquerda actual não tem argumentos consistentes; apenas tem intolerância, pesporrência e acinte, muito acinte.
E essa arrogância, esse acinte e, acima de tudo, um enorme desdém pelos que não estão iluminados pela revelação da verdade absoluta, transparece na comunicação social, ideologicamente colonizada pela esquerda (*) e, genericamente, na superestrutura ideológica da sociedade portuguesa.
Esse totalitarismo ideológico, essa tirania da religião dos bem-pensantes, tem as suas sequelas: quanto mais as pessoas se sentem afastadas daqueles valores, mais se sentem afectadas por uma heresia que devem ocultar de estranhos para tranquilidade do seu espírito. Na realidade, o que estas pessoas sentem ... é medo. Não é o medo físico, não é o medo do trauliteirismo da moca do cartaz do BE é o medo da sanção social, da rejeição, de serem enjeitados como heréticos
A esquerda, que se afirma como democrática, gerou o défice democrático existente na nossa sociedade, não tanto pela ingerência opressiva (também ... basta ver como Vital Moreira, que tão chocado ficou pelo facto do Prof. Marcelo ter abandonado a TVI, encetou agora uma cruzada contra a contratação daquele comentador pela RTP) mas principalmente pela disseminação obsidiante, mas subtil, da sua ideologia alcandorada em verdade absoluta e incontestável.
No que respeita às sondagens, é natural que as metodologias utilizadas para corrigir os enviesamentos das amostras, passe a integrar correcções sobre esse comportamento do eleitorado de direita. Se o fizer desta vez, é natural que a diferença entre as sondagens e o acto eleitoral se atenue ou mesmo se inverta.
Mas a questão que eu aqui coloco não é a da correcção de enviesamentos de amostras estatísticas, é a do défice democrático que leva portugueses a ocultarem as suas opiniões de estranhos. E essa, é uma questão sumamente inquietante, é uma questão de regime.
(*) Essa colonização não pressupõe, necessariamente, a detenção do poder político. Meses atrás, António Barreto, num artigo sobre a lastimável situação da educação em Portugal, afirmava que era culpa da ideologia educacional da esquerda, apesar das reformas terem sido feitas, indiferenciadamente, por governos de esquerda e de direita. Barreto afirmava que, em matéria de educação, a direita, tendo perdido o seu modelo arcaico autoritário e disciplinador, tinha sido colonizada, ideologicamente, pela esquerda.
Publicado por Joana às 09:03 PM | Comentários (111) | TrackBack
janeiro 26, 2005
As Elites
Marçal Grilo deu este fim de semana uma entrevista a JMF e Graça Franco, onde se lamentou, entre outras coisas, de que apesar de Nunca tivemos elites tão boas como temos hoje. Temos uma elite forte na vida académica, milhares de doutorados, temos uma elite na área financeira e económica, na área dos gestores ... verificamos que as elites estão um pouco desnacionalizadas. Assumem-se como cidadãos do mundo, da globalização, e têm um certo snobismo intelectual de distanciamento em relação ao que se passa no país. Temos de tudo, é certo, mas temos um conjunto de pessoas que fazem um pouco gala em dizer que estão desligadas dos problemas do país. Estão mais ligadas aos centros externos, e isso é muito negativo.
Há um mês, parodiei aqui, em A Fuga das Elites, esta questão, e conclui, meio a brincar, meio a sério que: as elites andam disfarçadas de gente medíocre, para não serem detectadas pelo resto da população e pela comunicação social. Assim, todos alinhados pela mediocridade já não há zangas, invejas, má língua, mesquinhez. O país fica tranquilo, em estabilidade política, social, económica e em serenidade emocional ... Os portugueses não perdoam o sucesso.
Marçal Grilo descobre agora um problema que afecta o país desde meados do século XVI, quando começou a nossa decadência. Damião de Góis, Francisco de Holanda, Garcia da Orta (Goa sempre era preferível ao Reino) e outros renascentistas floresceram na diáspora. Luís de Camões queixou-se amargamente da ingratidão da Pátria.
É certo que houve momentos de união, como sucedeu na Restauração, em que muitos portugueses, que andavam pelas Europas, regressaram à Pátria para a ajudarem a defender e a reerguer, mas foram momentos fugazes a mediocridade voltou rapidamente a recuperar o seu império.
Acusa-se a Inquisição. Mas a Inquisição instalou-se no país, com o apoio da massa da população, porque se dedicou, fundamentalmente, a perseguir quem, em Portugal, se destacava e tinha sucesso. Aqueles que invejavam gente que se ilustrava pelo saber, ou pelo êxito no comércio ou indústria, iam denunciá-la à Inquisição. Sob o álibi da pureza de sangue, a Inquisição foi a arma da mediocridade que castrou o incentivo ao sucesso dos portugueses.
Grandes nomes do século das luzes foram estrangeirados: Cavaleiro de Oliveira, Luís António Verney e Ribeiro Sanches, por exemplo. O Portugal medíocre foi caricaturado por Ribeiro Sanches como Dificuldades que tem um reino velho para emendar-se.
O triunfo liberal acabou com a mediocridade obsoleta e bafienta, mas trocou-a pela mediocridade modernizada, baseada na demagogia e disseminada pela liberalização da comunicação social. Entre o triunfo do liberalismo e o movimento da regeneração, Portugal viveu 18 anos de permanentes calúnias e imundícies que cada protagonista político atirava sobre os restantes. Alternava a guerrilha verbal e escrita, com a guerrilhas civis e pronunciamentos militares.
A regeneração trouxe alguma modernização na mentalidade social do país. Mas foi sol de pouca dura. Tomemos por exemplo Bordalo Pinheiro. Bordalo Pinheiro empregou todo o seu enorme talento na criação de uma revista humorística destinada a denegrir Fontes Pereira de Melo, o político a quem Portugal deve a pouca modernidade conseguida na segunda metade do século XIX, e deu-lhe o nome de Antonio Maria, justamente os dois primeiros nomes do político (António Maria de Fontes Pereira de Melo). É certo que o modelo fontista estava à beira do esgotamento, mas o fontismo era a alternativa menos má, como a evolução política e social subsequente à morte daquele político o mostrou.
Também o século XIX foi fértil em elites que abandonaram o país, embora na maioria dos casos fosse gente forçada ao exílio pelas sucessivas guerras civis e mudanças políticas. Alguns, como o Visconde de Santarém, apesar de muito instados para regressarem, pelo próprio poder político, preferiram manter-se no exílio. O nosso maior escritor, Eça de Queirós, permaneceu quase toda a sua vida no estrangeiro.
A atmosfera em Portugal não era favorável às elites. As elites não prosperam num ambiente de maledicência. O republicanismo que emergiu após o fim do fontismo subiu à custa da chicana política, boatos falsos, da imundície lançada sobre toda a classe política e financeira, da retórica de panegírico dos atentados bombistas (desde que favoráveis), dos regicidas, etc.. Isso permitiu aos republicanos destruírem o regime monárquico, mas criou as condições sociais para se auto-destruírem.
A seguir à matança do 19 de Outubro de 1921, Cunha Leal declarava: «O sangue correu pela inconsciência da turbaa fera que todos nós, e eu, açulámos, que anda solta, matando porque é preciso matar. Todos nós temos a culpa! É esta maldita política que nos envergonha e me salpica de lama». O PRP acabou, após ter tomado o poder, por cair na armadilha que havia construído para os outros e ser vítima dos demónios que havia solto.
O Estado Novo e a democracia instituída na sequência do 25 de Abril, mostraram aquilo que era evidente desde meados do século XVI que as elites portuguesas abandonam o país quer por ele ser uma ditadura acanhada e persecutória, quer por ser uma democracia mesquinha e invejosa. As elites portuguesas têm navegado, ao longo dos séculos, entre Cila e Caribdes, entre a censura policial e a censura da mesquinhez, entre a Inquisição clerical e a Inquisição dos politicamente correctos.
As elites não estão desnacionalizadas. Elas apenas não se revêem neste universo mesquinho e invejoso a que a sociedade portuguesa está reduzida. Algumas fazem carreiras brilhantes e lucrativas nos negócios ou nas profissões liberais, cá ou lá fora, outras, na área científica, deixam o país porque nem os incentivos financeiros, nem a pequena inveja dos feudos universitários são motivadores.
Por isso temos um conjunto de pessoas que fazem um pouco gala em dizer que estão desligadas dos problemas do país. Elas estão apenas desligadas da mediocridade, da inveja e da mesquinhez que imperam no país. Fazem-no por auto-defesa. Só por masoquismo se mostrariam ligadas a uma sociedade que as quer no seu seio pelo prazer sádico de as amesquinhar, de as aviltar.
Publicado por Joana às 12:18 AM | Comentários (52) | TrackBack
janeiro 24, 2005
A Crise dos Adoradores de Moloch
A ideologia dominante no nosso país está a mudar. Lentamente, penosamente, há prenúncios de mudanças. A ideologia estatizante, a do Estado providência, omnipotente, do Moloch para cujo sustento devemos sacrificar os nossos bens e o nosso labor, está em claro retrocesso. O peso do Estado na sociedade portuguesa tornou-se de tal forma excessivo que o sentimento de rejeição por essa presença obsidiante alastra por toda a sociedade. Já existe, na classe política, o consenso sobre que esse Estado obeso e impotente tem que desaparecer, para que Portugal retome a via do desenvolvimento. O único mas difícil problema é o de saber como realizar isso.
Todos os dias vêm a lume estudos em que se provam que este e aquele sector público é o que despende mais na União Europeia e o que presta pior serviço ao público. Foi o que se provou para o sector da Saúde; foi o que se demonstrou abundantemente para o sector da Educação; foi, há dias, um estudo sobre o sector da Justiça, onde se concluiu que Portugal era o país da UE que tinha, de longe, mais juízes e funcionários judiciais, e era aquele onde a justiça era pior, mais ineficiente e mais morosa. Isto, depois de um estudo que provava que um melhor desempenho do sistema judicial se traduziria num acréscimo de 11% na taxa de crescimento do PIB.
A obesidade conduz à morte. Foi o excesso de intervencionismo na economia britânica que levou ao seu declínio, às derrapagens orçamentais, à instabilidade monetária e à revolução Thatcheriana que apostou em menos Estado, num Estado apenas regulador. Mesmo a «terceira via» de Tony Blair foi contrária à ideia keynesiana da despesa pública como motor do crescimento. Foi isso que permitiu que a economia britânica que, a seguir à guerra, era muitíssimo mais próspera que a francesa (e que as restantes economias da Europa Continental), mas que havia estagnado mercê da vertigem estatizante dos governos trabalhistas do pós-guerra, voltasse a recuperar, e seja hoje uma das economias mais sólidas da Europa.
Todavia corremos o risco de atingir a situação do não-retorno. Para haver reformas, o eleitorado terá que as apoiar pelo voto. Ora quanto mais o Estado cresce, maior é a percentagem do eleitorado interessada na sua manutenção funcionários públicos e familiares. Esse eleitorado vota na segurança do seu sustento imediato e na certeza da ruína de todo o país a prazo. Tem pois que haver uma intervenção urgente, porquanto o sector público português ameaça tornar-se num buraco negro cuja força gravítica atingiu tal intensidade que atrai tudo para dentro de si, impedindo qualquer saída.
Alguns protestam contra a privatização do Estado. Esquecem que o Estado já está privatizado. Todos nós estamos reféns de um Estado que não nos pertence, que pertence aos interesses corporativos que se apropriaram deles: sindicatos, chefias, cujo poder depende do número de funcionários delas dependentes, e do espaço que ocupam, etc.. Nós apenas pagamos para o manter, enquanto ele nos presta somente os serviços mínimos, indispensáveis para fazer prova de vida. Aliás, um estudo recente prova que dois terços das tarefas prestadas pelo Estado são prestadas a si mesmo. O Estado vive em autofagia.
Este Estado já não nos pertence, não nos serve, apenas nos sangra. Este Estado está privatizado, mas precisa de nós para nos parasitar.
Guterres teve a atenuante de não perceber o que estava a fazer. Imaginava, na sua inocência, que o erário público era inesgotável. Mas Durão Barroso entrou com a férrea determinação de emagrecer o Estado. Ora tal não aconteceu e, embora a ritmo muito inferior, os efectivos do Estado continuaram a aumentar. O governo de Durão Barroso não teve nem a competência, nem a coragem, para tomar as medidas necessárias. Apenas paliativos financeiros. O governo de Santana Lopes também não tomou medidas, mas não pode ser citado como exemplo. Um governo sempre à beira da demissão, enfrentando uma instabilidade permanente durante os 4 meses que durou, não tem condições para tomar medidas estruturais.
A dificuldade que a nossa classe política tem mostrado em reformar o sector público ameaça a nossa existência colectiva, e é o sentimento crescente dessa ameaça que faz com que haja uma percepção cada vez mais alargada de que urge uma intervenção determinada e drástica.
O governo de Durão Barroso provou que mesmo congelando ou dificultando as admissões, o Estado continua a engordar. As propostas de Sócrates são risíveis e um mau remake das propostas de Pina Moura. Por cada dois que saem, entram três e não um, por muito que o governo proíba o contrário. O que é indispensável é a reforma e a reestruturação dos serviços, mas tal desiderato não se consegue por decreto, consegue-se pela determinação, competência e coragem.
E essa convicção alastra pela sociedade. Se a progressiva obesidade do Estado não for resolvida pela classe política, ou o país implode por incapacidade de saciar a voracidade crescente do Estado, ou o sistema político actual implode por ser incapaz de conter a impaciência dos portugueses em verem as questões fundamentais resolvidas no quadro das instituições vigentes.
Mesmo nos meios de comunicação, tradicionais baluartes dos ícones da esquerda, começa a ganhar algum consenso a urgência do emagrecimento do sector público. Aliás, uma boa gestão não é matéria de esquerda ou de direita. É uma matéria de bom senso e de competência. Esquerda e Direita são conceitos cada vez mais esvaziados de conteúdo. Derivam da localização que os deputados franceses escolheram na Constituinte, na Assembleia Legislativa e na Convenção Nacional, durante a Revolução Francesa. Mas, por exemplo, os Girondinos sentaram-se, nas 2 primeiras assembleias à esquerda e na Convenção Nacional, à direita. Na Câmara dos Comuns britânica significava apenas os lugares dos membros apoiantes do governo, qualquer que ele fosse, à direita, e o lugar da oposição, à esquerda.
Actualmente, alguém reclamar-se de esquerda serve apenas para tentar afirmar-se como estando no que julga ser o lado certo da história. Serve apenas para auto-afirmação política: Eu estou certo, pois sou de esquerda. Todavia, o que é paradoxal, é que, hoje em dia, as forças que se opõem ao progresso são exactamente aquelas que se reclamam com mais veemência de esquerda.
Por isso, Esquerda e Direita são apenas ícones, já sem conteúdo. Não será a sua pretensa dicotomia que constituirá obstáculo às reformas. O obstáculo a essas reformas são os elementos conservadores e imobilistas que apenas se reclamam de esquerda para maquilharem de um pseudo progressismo as suas opções.
Nota - Sobre temas similares ler igualmente:
Duas Mãos Invisíveis
Dois Apoios e Muitas Dúvidas
Défice democrático e a Esquerda
Défice Democrático
O Mercado e os Aprendizes de Feiticeiro
Sócrates e os Aprendizes de Feiticeiro
Publicado por Joana às 11:15 PM | Comentários (98) | TrackBack
janeiro 20, 2005
Constituições
A Constituição dos EUA tem 7 artigos e teve 27 emendas, o que é natural, atendendo a que tem mais 200 anos que a portuguesa. No conjunto, artigos iniciais e emendas, são cerca de 6.800 palavras e 35.000 caracteres. A Constituição portuguesa, na sua actual forma, tem 295 artigos, mais de 32.000 palavras e cerca de 170.000 caracteres. E seria muito mais palavrosa, se as revisões tivessem tido a forma de emendas adicionais.
Como é possível instaurar uma economia de mercado a funcionar de forma eficiente, com uma constituição que afirma, logo no preâmbulo, pretender abrir caminho para uma sociedade socialista? E como é possível essa frase permanecer lá, mesmo após se ter visto na prática o que aconteceu às sociedades socialistas do Leste europeu?
A Constituição portuguesa actual, em todo o seu articulado, tem um cunho marcadamente ideológico, começando com declarações de intenção, que normalmente não concretiza, até porque se as concretizasse poderia colocar a nossa economia e a nossa vida social num impasse, mas que podem sempre servir de fundamento para arguir qualquer nova lei aprovada pela AR de inconstitucional.
Por exemplo, no Artigo 58.º (Direito ao trabalho), a Constituição prescreve:
1. Todos têm direito ao trabalho.
2. Para assegurar o direito ao trabalho, incumbe ao Estado promover:
a) A execução de políticas de pleno emprego;
O primeiro ponto não passa de uma boa intenção, não concretizável na prática. Isto é, nas antigas sociedades do Leste europeu, concretizou-se, mas sabe-se qual foi o resultado: a sua implosão após o tempo suficiente que demorou a levar as respectivas economias à ruína total. Quanto à execução de políticas de pleno emprego é uma opção macroeconómica que depende da conjuntura económica. Nem sempre é a política mais adequada à melhoria do bem estar social e económico. É uma questão técnica, embora com reflexos políticos e sociais. Não é matéria que deva figurar numa constituição.
Outra herança do PREC que figura na constituição, mas que não é aplicada nas empresas privadas (e não só) por razões óbvias: Artigo 54.º - 5. Constituem direitos das comissões de trabalhadores: ... b) Exercer o controlo de gestão nas empresas;
Outra prescrição que não passa de uma boa intenção moralista: Artigo 65.º (Habitação e urbanismo) 1. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar.
O objectivo da governação é promover o bem estar geral. É inútil, e frequentemente contraproducente, enxamear uma constituição de intenções moralistas. O preâmbulo da Constituição dos EUA sintetiza toda essas intenções moralistas:
Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma União mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral, e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da Liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. E nem mais uma palavra!
Por alguma razão os EUA se tornaram na nação mais próspera do mundo e continuam a conseguir resolver e a ultrapassar as crises de crescimento económico que se vão levantando no seu caminho, enquanto nós não saímos da cepa torta e estamos permanentemente paralisados pelos entraves que nós mesmos criamos ao nosso percurso.
Mas a nossa constituição leva a sua perversidade ao ponto de, para além da necessidade de dois terços dos deputados para a rever, ter ela própria estabelecido limites à sua revisão: Artigo 288.º (Limites materiais da revisão):
As leis de revisão constitucional terão de respeitar:
a) A independência nacional e a unidade do Estado;
b) A forma republicana de governo;
c) A separação das Igrejas do Estado;
d) Os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos;
e) Os direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e das associações sindicais;
f) A coexistência do sector público, do sector privado e do sector cooperativo e social de propriedade dos meios de produção;
Embora alguns daqueles limites sejam princípios basilares aceites pela sociedade ocidental, outros são apenas circunstanciais. Como é possível os constituintes levarem o seu medo pelo comportamento das gerações futuras ao ponto de estabelecerem limites que, mesmo estando todos os deputados de acordo, não é possível transpor?
Este medo do futuro indicia a insegurança dos constituintes de 1975/6, o sentimento de que estavam possuídos de estarem a fazer um texto de circunstância, que iria levantar fortes objecções no futuro e decidiram farisaicamente precaver-se aferrolhando-o ... pondo-lhe um cinto de castidade e atirando a chave fora, algures, a meio do Mediterrâneo, a caminho da cruzada da Terra Santa ... ou a meio caminho dos paraísos do Leste, onde os amanhãs cantavam.
Publicado por Joana às 07:12 PM | Comentários (74) | TrackBack
dezembro 14, 2004
A Decisão em Democracia
E onde se fala de Ulisses, das Sereias e de Sampaio
Duas ocorrências recentes, relevantes, do ponto de vista da substância política, mas contraditórias entre si, trazem à colação a questão da democracia, do seu funcionamento e dos seus limites. A primeira foi a «democracia plebiscitária» que fundamentou a decisão de Jorge Sampaio de dissolução da AR, ao arrepio dos conceitos básicos da democracia representativa a «tomada do pulso» à opinião pública como sucedâneo instantâneo do plebiscito. A segunda foram as afirmações públicas de conhecidos economistas que as questões orçamentais são demasiado sérias para serem tratadas por políticos, isto parafraseando o que Clémenceau disse há cerca de um século «La guerre est trop importante pour la confier à des militaires».
A Conferência sobre Sustentabilidade das Finanças Públicas no Médio/Longo Prazo, organizada pela Comissão de Execução Orçamental, foi consensual sobre o facto do actual modelo orçamental ser insustentável, sendo sugerida a criação de uma agência orçamental, independente do Governo, responsável pela realização de previsões, simulações e cenários de médio e longo prazo para as contas do Estado, assim como pela contabilização e estatísticas abrangendo todo o sector público.
Na opinião dos proponentes, «Contabilidade, previsões, estatísticas são assuntos técnicos que não devem ser tratados na esfera política. Politizar matéria técnicas esconde os problemas, adia soluções, mas não resolve nada». É a tese de Clémenceau aplicada às Finanças Públicas.
Em 2-11-2004 eu havia escrito aqui, (cf. A Sociedade dos Pigmeus Políticos) que «A nossa sociedade não pode ser governada tentando satisfazer opiniões instantâneas, ... Não se conseguem resolver os problemas, e os governantes que se colocaram de cócoras perante a opinião pública semanal, têm o respeito que normalmente se atribui a quem é apanhado com frequência inusitada nessa incómoda e desfavorável posição: nenhum.»
Esse post, para o qual chamo a atenção, era uma reflexão sobre o facto da capacidade de julgamento e de decisão dos político ser actualmente testada, dia a dia, pelas sondagens de opinião e pela dependência obsessiva de opiniões voláteis do público, e por se governar, ou pretender que se governe, ao sabor dos desejos diários da opinião pública determinada pelas sondagens e avalizada pelos analistas.
Nesse texto, em certa medida profético face à decisão de 30-11-04, eu advertia para o facto da democracia representativa estar a ser pervertida por um arremedo de democracia plebiscitária permanente, com a agravante de serem plebiscitos «instantâneos», sem campanha prévia. Esta perversão da essência da democracia representativa não é um fenómeno localizado unicamente em Portugal. Afecta todo o mundo ocidental altamente mediatizado, mas a sua influência em Portugal é particularmente gravosa porque potencia a tendência lusitana para o bota-abaixo, uma das características mais malignas do nosso défice de cidadania política.
O grande receio de Tocqueville, no seu ensaio clássico sobre a democracia na América era «a tirania da maioria». O Estado americano não tinha uma estrutura social como na Europa, uma classe de aristocratas que pudesse agir como estabilizador social. Sem tal classe ele temia que o país tombasse sob a influência de demagogos e de populistas.
Tocqueville equivocou-se, mas apenas parcialmente. A classe média tem agido, nas democracias ocidentais, como a força estabilizadora que Tocqueville temia que escasseasse. Nos países onde a classe média é forte e próspera há estabilidade. À medida que se desce na hierarquia dos países em termos de força da respectiva classe média (prosperidade e peso quantitativo) a estabilidade social e política diminui. A instabilidade e inexistência de democracia (ou a sua precaridade) nos países do terceiro mundo resultam de não existir uma classe média minimamente consistente.
Todavia o aumento da quantidade e da rapidez da informação tem permitido auscultações permanentes das opiniões públicas. E essa auscultação permanente, benéfica do ponto de vista da análise da sensibilidade imediata da população a ocorrências e decisões diversas na esfera política, torna-se perversa se for utilizada para tomar decisões políticas ao sabor dessa opinião imediatista. As decisões estruturantes da política só colhem efeitos a longo prazo. No imediato bolem com muitos interesses instalados e, se a situação social e económica for má, poderão mesmo ter efeitos a curto prazo desagradáveis para parte significativa da população.
A tirania da maioria, temida por Tocqueville, apareceria agora sob a forma de plebiscitos «instantâneos» às flutuações da opinião pública.
As economias desenvolvidas tomaram consciência desses inconvenientes e têm estabelecido entidades não sujeitas às pressões da opinião pública como os Bancos Centrais, por exemplo. Outras entidades que escapam às flutuações da opinião pública são as instituições da UE. Os burocratas de Bruxelas têm tomado medidas reguladoras no domínio da economia e das finanças que escapam ao vilipêndio da opinião pública ... são directivas comunitárias.
Se não fossem a UE e o PEC, quer se concorde ou não com a rigidez dos seus limites, Portugal estaria agora na situação para a qual a Argentina resvalou há alguns anos. O laxismo guterrista teria continuado na ausência da obrigatoriedade de se sujeitar às disposições comunitárias. Não foi a nossa opinião pública que salvou o nosso país da argentinização, foi um poder externo ao nosso país e invulnerável a uma opinião pública embalada pelo cantar das sereias da oratória de Guterres. Na ausência destas entidades não eleitas, os políticos portugueses deixar-se-iam embalar pelas vozes que se elevam das sondagens e legislariam para a rua, em vez de legislarem no interesse a longo prazo do seu país.
Muito antes de Tocqueville, da Conferência sobre Sustentabilidade das Finanças Públicas e de mim própria, há milénios, ainda nos primórdios da nossa civilização, alguém abordou esta questão. Foi a veneranda Circe, a poderosa e preclara deusa de belas tranças, que aconselhou Ulisses, e que se esqueceu agora de Sampaio e da maioria dos políticos portugueses:
«Encontrarás, primeiro, as Sereias, que encantam a todos os homens que se aproximam delas. Aquele que, sem saber, for ao seu encontro e lhes ouvir a voz, esse não voltará a casa, nem a mulher e os inocentes filhos o rodearão, alegres; mas será encantado pelo seu canto sonoro ... Passa de lado e tapa os ouvidos dos teus companheiros com cera amolecida, para que nenhum deles as oiça. Tu ouve-as, se quiseres, depois de te prenderem os pés e as mãos, erecto, junto ao mastro, e de teres sido ligado com cordas a ele, para que te possas deleitar com a voz das Sereias. Se, porém, pedires e ordenares aos companheiros que te soltem, que em vez disso eles então te prendam, com mais ligaduras ainda. Depois que tiveres passado pelas Sereias, não te direi com clareza qual de dois caminhos deverás seguir; decide isso tu próprio no teu coração».
Está tudo dito neste belo trecho da Odisseia. Há reformas indispensáveis no Estado Social cuja realização é virtualmente impossível sem fugir à pressão dos lobbies, nomeadamente dos sindicatos da função pública. As políticas monetárias tornaram-se mais responsáveis quando passaram a ser conduzidas por bancos centrais independentes. Sem Bruxelas, relativamente isolada de pressões políticas, não haveria a liberalização das indústrias e aumento da concorrência, não haveria a eliminação dos subsídios inúteis a empresas sem viabilidade, etc..
No Banco de Portugal e em Bruxelas o cântico das sereias dos políticos que decidem ao sabor das sondagens não é ouvido. Puseram cera nos ouvidos. E os nossos políticos estão amarrados ao mastro do cumprimento dos limites dos défices, embora soltem frequentemente gritos lancinantes a pedir que os desamarrem. Infelizmente deveria haver mais mastros para os amarrar. A Conferência que citei, propôs mais um mastro ao qual seria de toda a conveniência amarrar os nossos políticos. Todos.
Publicado por Joana às 08:01 PM | Comentários (18) | TrackBack
dezembro 01, 2004
Deriva Continental
Eduardo Lourenço, num curso promovido pela Fundação Mário Soares e pelo Instituto de História Contemporânea da FCSH da Universidade Nova de Lisboa fez uma comunicação sobre um tema que já várias vezes trouxe aqui à colação(*) a relação entre a Europa e os EUA e algumas similitudes que essa relação tem com a relação entre gregos e Roma na Antiguidade Clássica.
A tese de Eduardo Lourenço tem as mesmas raízes que as minhas, só que a sua análise dos acontecimentos e dos efeitos, actuais e potenciais, não consegue subtrair-se da influência da intelectualidade francesa que constitui a vivência cultural do ambiente em que vive e lecciona.
Para Eduardo Lourenço os «Estados Unidos são apenas o Frankenstein da História, feito dos pedaços da Europa que fugiram à Europa (e em seguida, ao mundo) e lá, depois de limparem a paisagem, (de índios), conservando a nostalgia dos seus ocupantes, se reconstruíram com energia quase desesperada, inventando, ao longo de quase duzentos anos ... uma identidade de tipo novo, não europeia, tendo no futuro o seu tempo utópico e messiânico».
Os Estados Unidos foram criados, mais ideologicamente que demograficamente, por europeus que fugiam às perseguições políticas e religiosas. Os Pilgrim Fathers eram, na maioria, aldeões ingleses que estavam numa situação social incomparavelmente superior à dos camponeses franceses e da Europa continental, subjugados pela sobrevivência de um feudalismo anacrónico. Um servo medieval nunca teria fundado as cidades livres a autónomas da Nova Inglaterra. O Canadá francês, formado na mesma época, foi a transplantação do camponês medieval sob a chefia do seu nobre feudal e do seu padre, enquanto a imigração colonial inglesa foi a transplante de uma sociedade muito mais moderna, semi-industrial e desperta para as transformações económicas e intelectuais (**). Era gente capaz de fundar instituições sólidas, onde podiam florescer, lado a lado, a agricultura, os ofícios mecânicos e o comércio. Mas simultaneamente fugiam da perseguição e da intolerância religiosa. Para eles, a liberdade individual era um bem precioso.
E as vagas que se lhe seguiram, ou fugiam dos despotismos e das coacções extra-económicas das sociedades feudais, ou fugiam da miséria e da escassez de recursos das suas terras. A emigração maciça de irlandeses durante o século XIX, que fez descer a população da ilha para cerca de um terço do que era anteriormente, foi causada pela miséria, mas também pelo colonialismo inglês. Dizer que os americanos, por serem descendentes de retalhos da Europa, são um Frankenstein da História é uma imagem enviesada por um intelectualismo blasé, pretensamente superior, tipicamente francês (ou português, na sua versão fotocopiada e ainda mais provinciana).
Quem demandou o Novo Mundo, fê-lo porque teve a coragem de quebrar as amarras e partir, enfrentando o desconhecido. Nas classes sociais economicamente mais desfavorecidas, entre as quais se recruta a emigração, são sempre os mais aptos, os que têm mais vontade em se afirmar e mais coragem em enfrentar o desconhecido que emigram. Os outros ficaram.
É evidente que as gerações se renovam e aquelas características não são genéticas. Mas as sociedades criadas por gente livre, quando os que ficaram eram servos, corajosa, quando os que ficaram lhes faltou ânimo, empreendedora, quando os que ficaram permaneceram apáticos, são sociedades que motivam os seus membros ao exercício da liberdade, às virtudes do trabalho e à busca da prosperidade e da felicidade. São sociedades que olham para a frente, para o futuro, enquanto as outras têm medo de encarar o futuro e reinventam o passado para explicarem, ou justificarem, a sua incapacidade e inanição actuais.
E se os EUA ganharam protagonismo na Europa, foi por necessidade vital desta, como reconhece Eduardo Lourenço: «Por mais imperialistas que nos pareçam hoje os desígnios hegemónicos dos Estados Unidos - pelo menos, de um dos EUA, aquele que se revê na tradição de Theodore Roosevelt e chega até Bush - esta intervenção nos assuntos europeus não foi (ou não foi só) de iniciativa, da então ainda inocente jovem América. Foi de conveniência da "velha Europa". Como, em tão pouco tempo, esse passado "salvador" dos EUA, se converteu - ao menos aos olhos de muitos europeus, em questão nossa, ou problema e, para alguns, - em "ameaça"?» ... «Como é que esta Europa, libertada duas vezes com a ajuda dos americanos (e, não pouco, dos soviéticos), se encontra nos alvores deste enigmático século XXI, de "candeias às avessas", para usar a expressão que convém ao nosso arcaísmo, com os detentores da luz do mundo, convertidos, como no mais puro dos seus sonhos de domínio, em "super-men" da História?»
Eduardo Lourenço não nos dá uma explicação, apenas reconhece que «O Império não tem exterior. Também a Europa, nos seus impérios sucessivos, o não tinha. Nós não jogamos já (ou ainda) na mesma divisão. A América não nos vê como nós gostaríamos de ser vistos para crer que ainda contamos no mundo. A maior parte do nosso tempo útil - político ou culturalmente falando -, gasta-se a saber o que a América "quer" ou "pensa". Mas esta aparente distracção, ou distanciamento da América e, em particular desta de Bush, em relação às "Europas" é um engano cego e pouco ledo. A América encarrega-se de "pensar" a Europa e na Europa, até porque ela está nela, mas não como estava quando lhe servia de escudo na sua luta contra o império soviético (e vice-versa). Ela pensa na Europa, onde reinou desde 1945 a 1989, como pensa nela como pedra de xadrez ainda importante no tabuleiro mundial. E só isso lhe interessa.».
E conclui: «Vae Victis. Ninguém venceu a Europa. Foi vencida por si mesma.», adiantando que «Pode ressuscitar», mas sem dar qualquer pista como essa ressurreição poderá ocorrer. Aliás, o estilo da comunicação é mais o de um epitáfio descoroçoado, que um apelo para que, no Dies Irae, o Senhor se compadeça da Velha Europa e a albergue no seu seio.
Há dias, no Público, José Manuel Fernandes, no artigo Derrotados?, propõe uma mezinha para a ressurreição da Europa. Segundo JMF, talvez «não seja inevitável sentirmo-nos derrotados como europeus se percebermos que o que hoje parece afastar irremediavelmente uma América triunfante de uma Europa acabrunhada teve origem no mesmo Velho Continente. E se sempre demos mais relevo ao Iluminismo francês, porque não questioná-lo à luz dos outros dois Iluminismos? [ JMF contrapõe aquele ao Iluminismo britânico]Talvez haja muito a aprender».
José Manuel Fernandes, os Iluminismos franceses, ingleses e alemães, para não referir os seus parentes mais pobres, não têm diferenças tão substantivas que possam justificar a Deriva dos Continentes que aflige Eduardo Lourenço. Há todavia no iluminismo francês uma diferença cortante, que está ligada à cabeça, mas não aos conceitos: os iluministas franceses que sobreviveram até 1793 foram todos guilhotinados!
A herança da França, do pensamento francês, mesmo o da direita, é a Revolução, que é glorificada no hino, com a sua letra sanguinária, nas comemorações da tomada da Bastilha, com as sua imponentes paradas militares, e cujos aspectos mais sanguinários do Terror, todos os intelectuais franceses (e da Europa continental) tentam branquear, ou varrer para debaixo do tapete. Mas esse vírus do terror e da intolerância como armas políticas ficou sempre latente na Europa Continental, agudizando-se nas épocas mais conflituais, elevado ao paroxismo do terror e da carnificina beligerante.
É essa a grande diferença entre os Iluminismos da Europa Continental e do mundo anglo-saxónico. Não é uma diferença em si, mas na forma como as suas heranças foram, ou não, subvertidas.
Notas:
(*) Ler, por exemplo:
Romanos, Gregos, Americanos e Europeus escrito em 4-Novembro-2004
Unilateralismo e poder escrito em 23-Janeiro-2003
(**)Basta observar a diferença entre a evolução da América anglo-saxónica e da América Latina. As gentes que as povoaram e moldaram as respectivas sociedades tinham vivências sociais diferentes, apesar de terem igualmente oribem na Europa.
Publicado por Joana às 07:10 PM | Comentários (26) | TrackBack
novembro 08, 2004
Politicamente Correcto
Várias vezes tenho usado o termo politicamente correcto, ou o termo intelectuais bem pensantes, ou seja, os intelectuais que pensam politicamente correcto. Embora o termo tenha sido importado, directa ou indirectamente, dos EUA, ele ganhou autonomia própria e nacionalizou-se. Portanto não me vou interessar pela sua génese e avatares além fronteiras.
O politicamente correcto é comportar-se e pensar de acordo com os cânones impostos pela ideologia dominante. Mas essa ideologia não é necessária e exclusivamente política. Misturam-se nela diversos conceitos puritanismo, censura, dogmatismo, ditadura das minorias, obrigação de fazer de qualquer particularismo uma lei geral para a comunidade, eliminação do fantasma de se tornar minoritário pela subvalorização da normalidade e das decisões ou da vontade da maioria, etc.
Do ponto de vista da ditadura sobre o pensamento, o politicamente correcto é o equivalente actual da moral burguesa, só que de sinal contrário quanto aos conceitos que erige em absolutos, o que é normal, visto a ideologia dominante se ter ela própria modificado. Portanto, todos os disparates que a ditadura da moral burguesa fez viver os nossos avós, equivalem àqueles que o politicamente correcto nos tenta impingir actualmente. Com uma diferença a moral burguesa preocupava-se mais com o comportamento que com a política ou o pensamento, enquanto o politicamente correcto é totalitário porque invade tudo, incluindo aquilo que tínhamos de mais íntimo: o pensamento.
Formalmente o politicamente correcto é o depósito de todas as virtudes: prega a igualdade entre todos, o respeito pelo outro sob qualquer forma, o anti-racismo, a tolerância para com todas as outras crenças políticas e religiosas. O politicamente correcto abre apenas uma excepção a esta tolerância universal: O politicamente incorrecto é absolutamente interdito. Sendo assim, o politicamente correcto consiste na observação da sociedade e da historia em termos maniqueístas: O politicamente correcto representa o bem e o politicamente incorrecto representa o mal.
O politicamente correcto tem portanto a característica de uma religião total, pois para além da moral e do comportamento, abrange a política, a sociologia, as ciências da comunicação, etc., etc.. Não existe no plano económico, porque os protagonistas do politicamente correcto apenas se movem nas áreas das ciências humanas onde os critérios de validade são assegurados por quem tem mais verve ... ou quem tem uma corte mais numerosa. Em economia apenas utilizam frases simples: subsidiar os menos favorecidos, aumentar o emprego, atingir a igualdade social, etc.. Como não sabem fazer contas é-lhes despiciendo o saber como isso se faz, quanto custa e quem vai pagar. O politicamente correcto não abrange portanto as ciências baseadas em números, pois os números têm uma característica incómoda não dependem da raça, do credo ou das preferências sexuais. São uns chatos!
Assim, para o politicamente correcto só há uma verdade: a sua. O politicamente correcto defende a tolerância ... mas apenas para o que é a sua verdade.
Neste universo perfeito é exaltante ser-se politicamente correcto, pois tem-se sempre a resposta certa para tudo. Só que têm que se fazer as penitências necessárias. Por exemplo um branco, para se tornar politicamente correcto, tem que assumir a sua culpa original por ter participado, mesmo in absentia, na escravatura, nos genocídios, no extermínio das espécies e nos maus tratos aos animais, etc.. As mulheres brancas têm um nível inferior de culpa, pois embora tenham nos seus currículos aqueles pecados originais, têm a atenuante de haverem sido vítimas de três mil anos de civilização judaico-cristã. Apenas uma espécie não tem qualquer culpa: a mulher negra, de uma crença não cristã, imigrante, sem-abrigo e lésbica.
Mas mesmo uma mulher, para se manter politicamente correcta tem que ter imenso cuidado: saber se o que usa para a maquilhagem não teria sido testado em animais, nunca usar peles ou tecidos oriundos de animais, reciclar todos os sobejos das refeições até à exaustão, ou até ao divórcio por alegada tentativa de envenenamento alimentar, etc.
Todavia, para o politicamente correcto, a mulher está num nível menos elevado que a etnia. O politicamente correcto zela pela igualdade dos sexos, mas é extremamente tolerante e compreensivo para os grupos étnicos ou religiosos que degradam a vida das mulheres e fazem delas suas vítimas.
Vejamos alguns exemplos:
Não é politicamente correcto referir a origem étnica dos delinquentes. Sempre que algum órgão de comunicação não conseguia evitar essa referência (na TV há dificuldade em impedir que o telespectador veja a etnia do delinquente) aparecia uma organização, SOS Racismo, a chamar a atenção para aquele conteúdo racista. De há alguns anos a esta parte, o SOS Racismo tem aparecido muito menos, porque verificou que o resultado junto da opinião pública era exactamente o oposto. As pessoas sentiam-se injustiçadas por julgarem que haveria uma protecção especial para delinquentes de outras etnias. Eis um exemplo em como o politicamente correcto anti-xenofobia fez, para surpresa dos p.c., aumentar a xenofobia.
Não é politicamente correcto gostar de touradas ou de tudo o que envolva qualquer sofrimento público dos animais. Os animais devem ser abatidos discretamente e aparecerem nos nossos pratos disfarçados de bifes. Como o politicamente correcto é um animal urbano, ele tem dificuldade em se aperceber que existe qualquer relação entre um bife, um entrecosto grelhado e qualquer espécie animal, por isso fica tranquilo enquanto se delicia com uma galinha de cabidela. Depois das grandiosas manifestações de massas que os arautos do politicamente correcto organizaram em Barrancos, em que cerca de cem pessoas, agitando centenas de cartazes repletos de frases politicamente correctas, condenaram firmemente as touradas, nunca estas estiveram tão em voga. O entusiasmo por esse espectáculo bárbaro aumentou em flecha. Esta é, aliás, a faceta mais brilhante do politicamente correcto Obter junto da opinião pública o efeito exactamente oposto do que pretende.
Não é politicamente correcto pretender para as outras culturas o que se exige para a nossa. Os quadrantes políticos que mais pugnam pela descriminalização do aborto, foram aqueles que conseguiram adiar, na AR, o estabelecimento de legislação que condenasse a excisão do clítoris, a pretexto de se tratarem de culturas tradicionais e que era necessário, previamente, um estudo mais aprofundado.
Há dias foi assassinado, numa rua de Amesterdão, em pleno dia, Theo van Gogh, que havia realizado um filme sobre o humilhante papel da mulher na sociedade islâmica. Já havia recebido ameaças de elementos islâmicos. O suspeito do assassínio foi descrito como tendo barba comprida, estar vestido como um muçulmano e ter nacionalidade marroquina. Qualquer descrição que ultrapassasse esta forma de adivinha poderia ser considerada racista e xenófoba. Este assassinato tem permanecido relativamente em silêncio nos meios intelectuais. É natural, o politicamente correcto tem dificuldade em lidar com europeus loiros serem assassinados por muçulmanos de barba comprida. Se fosse o contrário, toda a intelectualidade estaria a redigir proclamações e abaixo-assinados de protesto. Neste caso o politicamente correcto tem o dever de ser discreto, pois se o não fosse poderia passar por racista, xenófobo, etc..
Também em matéria de ditaduras, o politicamente correcto é extremamente exigente. Ditaduras terceiro-mundistas, ou que se invoquem do anti-capitalismo ou do anti-americanismo são ditaduras boas. Em contrapartida, qualquer regime democrático que se lhes oponha é um regime imperialista e opressor.
O politicamente correcto é insidioso porque se insinua sob diversas formas, inocentes e de fácil assimilação. Começa pela linguagem. O vocabulário politicamente correcto é o principal veículo de contágio. O politicamente correcto usa eufemismos na sua linguagem. Determinadas expressões são condenadas a serem eliminadas do vocabulário para evitar associações de tipo discriminatório. Por exemplo, já não se diz contínuo da escola, mas Auxiliar da Acção Educativa, as mulheres a dias passaram a ser empregadas domésticas, os varredores de rua a serem técnicos de limpeza e jardinagem, etc.. Há determinadas categorias para as quais já se torna difícil encontrar no léxico uma denominação adequada, como no caso dos homossexuais. Mas há sempre o recurso aos circunlóquios.
A desintoxicação é difícil, na medida em que vivemos num mundo em que os meios de comunicação adquiriram uma importância desmedida e são estes os principais agentes encarregados da contaminação maciça. O primeiro remédio consiste em tomar consciência de que o politicamente correcto existe e que circula sobretudo através do nosso vocabulário. O segundo remédio consiste em pôr em prática a renúncia a toda a terminologia politicamente correcta e às ideologias nas quais ela se apoia. Chamar as coisas pelos nomes!
Como disse acima, há necessidade de uma contínua renovação de linguagem para caracterizar um conjunto de pessoas que executem uma tarefa considerada de menor nível, ou que tenham qualquer diferença que as tornem uma minoria, pois as palavras vão-se desvalorizando com o uso. O léxico vai-se esgotando. Quando isso acontece, os eufemismos utilizam circunlóquios cada vez mais tortuosos. Cito um exemplo retirado da Wikipedia (cf Political correctness). A forma politicamente correcta de escrever a frase "The fireman put a ladder up against the tree, climbed it, and rescued the cat" deveria ser:
"The firefighter (who happened to be male, but could just as easily have been female) abridged the rights of the cat to determine for itself where it wanted to walk, climb, or rest, and inflicted his own value judgments in determining that it needed to be 'rescued' from its chosen perch. In callous disregard for the well-being of the environment, and this one tree in particular, he thrust the mobility disadvantaged-unfriendly means of ascent known as a 'ladder' carelessly up against the tree, marring its bark, and unfeelingly climbed it, unconcerned how his display of physical prowess might injure the self-esteem of those differently-abled. He kidnapped and unjustly restrained the innocent animal with the intention of returning it to the person who claimed to 'own' the naturally free animal."
P.S. - Estava a escrever isto e a ver na TV o Miguel Portas dizer que o facto de contas bancárias, onde se decobriu estarem depositadas muitas centenas de milhões de euros, estarem no nome de Arafat, não significava que o dinheiro era dele. O azar do Isaltino foi não ter enfiado um turbante, deixado crescer a barba, passar a chamar-se Al-Satino. Então Portas passaria também a ter fundadas dúvidas. Este é um exemplo típico do politicamente correcto, acabado de vir directamente do produtor.
Publicado por Joana às 11:00 PM | Comentários (50) | TrackBack
novembro 07, 2004
Intolerância Congénita
... Ou de Dreyfus a M Moore, passando por Lukacs ...
Uma parte não despicienda do espectro político da esquerda portuguesa perdeu o sentido das proporções, perdeu a noção do significado prático dos valores democráticos e perdeu o espírito de tolerância e do respeito pelas opiniões que não sejam absolutamente coincidentes com as suas.
Provavelmente estou a ser lisonjeira. Provavelmente esta esquerda a que me estou a referir nunca teve o sentido das proporções, nunca praticou os valores democráticos e sempre foi intolerante e totalitária.
Mas enquanto a esquerda foi oposição, o fragor da luta contra regimes frequentemente retrógrados, intolerantes e despóticos, obscurecia todas aquelas facetas. Quando a peleja é extremada e sem quartel, é-nos impossível, por vezes, distinguir onde acaba a bravura e começa a crueldade e a malevolência; onde há ética ou onde há apenas facciosismo. Porém, quando a situação se inverte, as dúvidas desaparecem e os que eram, de facto, bravos na época de sofrimento e opressão, revelam-se gente honrada, tolerante e sensata e os outros, os apenas cruéis e facciosos, revelam-se indignos, intolerantes e émulos dos ex-opressores.
Sempre tive, e tenho, simpatia pelos dreyfusards e pela sua luta, que tanta influência teve na História. Reconheço todavia que a maioria deles pôs, nesse combate, tanta intolerância e desdém pelos outros, como a direita militarista. Zola foi tão intolerante quanto o general Mercier. A diferença é que o Ministro da Guerra estava envolvido, embora na altura não o soubesse, numa fraude que fundamentava uma acusação falsa, enquanto Zola defendia a verdade, embora na altura não tivesse provas disso. Isso não invalida que Zola estivesse no lado certo e Mercier no lado errado.
Nessa disputa que, embora hoje esquecida, marcou a evolução futura da França, e não só, a tolerância, a racionalidade e o heroísmo estiveram na parte sã do exército francês, no coronel Picquart, um conservador, com preconceitos contra os judeus, mas que quando começou a analisar as provas que tinham levado Dreyfus à Ilha do Diabo, descobriu que o documento incriminador era forjado e pôs a verdade acima das suas convicções políticas e sociais, lutou e sofreu por essa verdade (foi expedido para a zona de combate mais perigosa do norte de África e esteve preso algum tempo) e a ele se deve o deslindar do caso, embora, se não fosse a agitação promovida pelos dreyfusards, aquele caso tivesse provavelmente caído no esquecimento e Picquart nunca fosse chamado a analisar as peças do processo Dreyfus.
Mas esta luta marcou o declínio da época da prevalência da objectividade e da racionalidade na procura da verdade. No mesmo dia (13 de Janeiro de 1898) em que era publicada no Aurore a carta aberta a Félix Faure (JAccuse), o grupo parlamentar socialista reunia-se e a maioria decidia, a alguns meses das eleições seguintes, que não deve ir contra a opinião pública para seguir Zola, que era apenas um escritor burguês. Dias depois os deputados socialistas assinariam uma resolução distanciando-se das «duas fracções rivais da classe burguesa», de um lado «os clericais» do outro, «os capitalistas judeus». «Na luta convulsiva das duas fracções burguesas rivais, tudo é hipocrisia, tudo é mentira. Proletários, não vos envolvais em nenhum dos grupos desta guerra civil burguesa ... ». Esta posição só mudou quando Jaurés percebeu os dividendos políticos que obteria se apoiasse os dreyfusards.
O terramoto pelo qual passou a Europa, a partir do deflagrar da 1ª Guerra Mundial e da Revolução de Outubro (que hoje faz 87 anos), acelerou a degenerescência da objectividade e do racionalismo. Ao contrário do que Lukacs escreveu, a Destruição da Razão (Die Zerstörung der Vernunft) não se deu apenas no pensamento alemão que, segundo ele conduziu de Schelling e Nietzsche até Rosenberg e Hitler, deu-se igualmente pela emergência e divulgação do marxismo soviético, na sua forma estalinista, à qual aquele livro, publicado no ano anterior à morte do Pai dos Povos constituía uma respeitosa elegia. O que houve de perverso é que a verdade deixou de ser matéria objectiva, para ser matéria operacional: a verdade era a interpretação (ou mesmo a deturpação ou a invenção) dos factos que servissem os interesses da classe que tinha por missão histórica derrubar o statu quo existente, e quem faria essa exegese sobre o que era a verdade seria a elite política que se atribuía a si mesma a direcção daquela classe.
Aliás, já na História e Consciência de Classe (Geshichte und Klassenbewusstsein), Lukacs se havia empenhado em demonstrar que as ideologias de classe não são equivalentes e que a ideologia da classe proletária é a verdadeira, porque o proletariado, na situação que lhe impõe o capitalismo, é capaz, e só ele é capaz, de pensar a sociedade no seu desenvolvimento, na sua evolução a caminho da revolução, e portanto na sua verdade. No mundo capitalista, o proletariado, e só o proletariado, pensa a verdade do mundo, porque só ele pode pensar o futuro para lá da revolução.
A perversidade teórica de que a verdade é aquilo que serve os nossos interesses, individuais ou de classe, e que os factos não passam de meros empecilhos, agiu como um vírus que já viciara a extrema direita e contaminou toda a esquerda que foi influenciada pelo marxismo. Como a extrema direita foi posta de quarentena a seguir à 2ª Guerra Mundial, coube apenas ao marxismo, na sua forma degenerativa corrompida pela praxis político-filosófica, colonizar o pensamento da maior parte da esquerda e não só.
A responsabilidade do combatente deve sobrepor-se aos escrúpulos do intelectual. A crítica ideológica joga, com naturalidade, em 2 tabuleiros. Ela é moralista contra uma parte do mundo, aquela a que nos opomos, mesmo que seja aquela onde vivemos, e em extremo indulgente perante os movimentos que querem destruir esse mundo. A repressão nunca é excessiva, antes pelo contrário, quando atinge a contra-revolução ou é ministrada por um movimento radical ou revolucionário (ou terceiro-mundista, ou islamista ...). A prova da culpabilidade é sempre insatisfatória, quando ministrada pela justiça dos países ocidentais sobre aqueles que os querem destruir.
Basta citar o lamentável poema de Aragon no regresso do Congresso de Kharkov (1931), para nos apercebermos como o vírus da perversão da verdade e dos valores democráticos havia minado a base moral da nossa civilização:
O som da metralha acrescenta à paisagem
Uma alegria até então desconhecida
Estão a executar médicos e engenheiros
Morte aos que ameaçam as conquistas de Outubro
Morte aos sabotadores do plano quinquenal
A toda esta lamentável evolução se referiu então Julien Benda na La Trahison des Clercs, onde se dá conta daquela rotura. O intelectual era anteriormente o campeão do eterno, da verdade universal. «Os intelectuais de outrora afastavam-se da política pela ligação que estabeleciam com uma actividade desinteressada (Vinci, Malebranche, Goethe), ou então pregavam, em nome da humanidade ou da justiça, a favor de um princípio abstracto, superior e directamente oposto às paixões políticas (Erasmo, Kant, Renan) ... Graças a eles pode dizer-se que, durante dois mil anos, a humanidade praticava o mal, mas honrava o bem. Essa contradição era o ponto de honra da espécie humana e constituía a brecha por onde podia passar a civilização».
Para Benda, os intelectuais contemporâneos dele (e os que lhe sucederam, digo eu) colocaram-se ao serviço das paixões políticas, tornaram-se intelectuais de fórum:«O nosso século deve ser realmente o século da organização intelectual dos ódios políticos»
Esta doença degenerativa da espécie intelectual, que afectou sobretudo, no mundo ocidental, os países onde a consciência cívica estava menos disseminada por toda a sociedade: França e países do sul da Europa, criou o estatuto do intelectual comprometido, do jornalista de causas. Sartre (na apresentação dos Temps Modernes) teorizou essa degenerescência, elevada por ele a postulado teórico. Quer se queira quer não, «para nós o escritor não é Vestal nem Ariel ele está no momento, e não importa o que faça, está marcado e comprometido mesmo no seu retiro mais remoto» ... «Cada palavra tem repercussões. Cada silêncio também ... as palavras são pistolas carregadas».
Este vírus tem sido endémico em toda a intelectualidade e jornalismo portugueses e tem vindo a condicionar, não apenas o discurso estritamente individual do plano ético, mas ainda e de forma excessiva o debate ideológico e político. Vejamos, a propósito disso, o comportamento dos nossos intelectuais da verdade à medida dos nossos desejos, face às eleições americanas. Comportamento aliás que não diferiu significativamente do que sucedeu no resto do Velho Continente.
George W. Bush foi permanentemente apresentado como um imbecil, ignorante, burro, em suma, um idiota chapado. Mas não será esta imagem excessiva? Pior, não é isto que os nossos doutos intelectuais têm pensado de todos os presidentes americanos. Carter, quando apostrofou a URSS devido à intervenção no Afeganistão e promoveu o boicote às Olimpíadas de Moscovo, foi igualmente alcunhado de imbecil e idiota. E a redenção do seu QI só começou a ocorrer quando ele se dedicou a missões politicamente correctas. De Reagan nem vale a pena falar. Milhões de pessoas desfilaram centenas de vezes, nas avenidas do Velho Continente, protestando coléricas contra a sua política de contenção da URSS, chamando-lhe os nomes mais ofensivos que encontraram nos seus dicionários. Bush pai teve sempre a fama de débil mental, ainda era Vice-presidente. Quanto a Clinton foi objecto das maiores zombarias, pela sua vida privada, e das maiores contestações, pelas suas decisões em matéria de política internacional (ex-Jugoslávia, bombardeamentos no Sudão e Afeganistão, etc.).
E Kerry seria melhor? Jon Stewart, o apresentador do Daily Show e ferrenho anti-Bush, perguntava há meses «porque será que uma mentira de Bush parece muito menos idiota que uma verdade de Kerry?». Kerry, que ao longo da sua vida política se tem notabilizado por uma completa incoerência e pelas cambalhotas mais inesperadas, não seria tentado, se fosse eleito presidente e para mostrar a sua virilidade presidencial, a tomar alguma atitude mais drástica que o seu antecessor?
Michael Moore e o seu Fahrenheit 9/11 tornaram-se, até à derrota de Kerry, um ícone para a intelectualidade de combate e de causas. Cannes deu-lhe a Palma de Ouro, a distinção máxima. Como é possível premiar aquele acervo de manipulações grosseiras, de omissões intencionais, de colagens forjadas? Leni Riefenstahl também ganhou a medalha de ouro da Exposição Mundial de Paris (1937), mas o seu Triumph des Willens (1935) é uma obra-prima e o seu efeito propagandístico não resulta de colagens forjadas ou de manipulações grosseiras: resulta do poder das imagens e dos acordes musicais, habilmente filmados e montados. Há manipulação pela arte de obter e coordenar as imagens e não pela fraude de colagens forjadas. O Triumph des Willens continuará a ser uma obra-prima do filme propaganda, enquanto o Fahrenheit 9/11 já está no caixote do lixo da História e da arte cinematográfica. Aliás, o Fahrenheit 9/11 estará mais próximo do Der Ewige Jude (1940) que do Triumph des Willens. Aqueles que o elogiavam interrogam-se agora se o filme não teria condensado «um dos erros políticos crassos da "intelligentsia" liberal americana e também da opinião pública europeia, a desconsideração de Bush em termos do chamado "dumb factor": que o homem é ignorante, burro e por aí adiante», como escreveu hoje um dos mais façanhudos «opinativos» (Augusto M. Seabra) e paladinos da verdade que temos que transmitir.
E este paladino da verdade instrumental mostra-se apreensivo porque se «quis atacar "Fahrenheit" em termos de "verdade" quando, suponho, a questão cinematográfica e ética que se coloca em cada documentário é o modo como interpela o real, para além da mais imediata visibilidade da qual não se deduz uma "verdade" imanente». Esta frase é o grau zero da racionalidade. Mais baixo que isto não se pode descer no totalitarismo informativo. Portanto a verdade não interessa, nem deve ser a medida da validade de um «documentário» ou «exposição de um facto». O que interessa «é o modo como se interpela o real», leia-se «como se distorcem os factos», para deduzir uma «verdade imanente», leia-se «a verdade do intelectual de causas liberta do empecilho incómodo dos factos». É esta a gente que defende a liberdade de expressão e verbera a alegada censura dos outros.
Entre a intelectualidade europeia (e portuguesa) o tom em que se fala da derrota de Kerry é o de um desastre civilizacional, não o de um acto em que os mecanismos políticos da democracia representativa funcionaram normalmente. Os jornalistas perguntam angustiados: John Kerry tinha o apoio esmagador dos mídia, ganhou os três debates televisivos com George W. Bush e, no entanto, perdeu. Será que televisões, imprensa e rádio estão a perder influência?
A resposta é simples: a opinião dos jornalistas tem uma influência poderosa. Infelizmente, para eles, influencia sobretudo a própria opinião dos jornalistas. O comportamento do eleitorado português é disso um exemplo paradigmático: em todos os referendos votou sempre contra a opinião dominante nos meios de comunicação.
Infelizmente os paladinos da verdade a que acham que temos direito nunca reconhecerão isso. Só após todo o lastro do irracionalismo induzido pelas ideologias que se digladiaram no século XX for destruído, e com ele o pensamento instrumentalizador desses paladinos, é que será possível regressar ao intelectual «campeão do eterno e da verdade universal ... de um princípio abstracto, superior e directamente oposto às paixões políticas».
Ler ainda, sobre este tema:
Romanos, Gregos, Americanos e Europeus
O Falhanço dos Intelectuais Iluminados
Publicado por Joana às 07:59 PM | Comentários (22) | TrackBack
novembro 02, 2004
A Sociedade dos Pigmeus Políticos
Vivemos actualmente numa sociedade enferma, sem capacidade de se regenerar a si própria, que não tem consciência do impasse em que se colocou, e que é, paradoxalmente, vítima dos valores que fizeram a sua grandeza e prosperidade. E esses valores são a democracia e a liberdade. A sociedade ocidental, nomeadamente a europeia, já não consegue distinguir o uso do abuso, a dosagem da sobredosagem. A democracia e a liberdade deixaram de ser factores de progresso e de fortalecimento da sociedade, para se estarem a tornar, paradoxalmente, factores de estagnação e de degeneração sociais.
A capacidade de julgamento dos líderes políticos, avaliada e referendada periodicamente pelo eleitorado, e que era uma das forças da democracia, deixou de ser determinante. Essa capacidade de julgamento é testada, dia a dia, pelas sondagens de opinião. Há uma dependência obsessiva de opiniões voláteis do público. Governa-se, ou pretende-se que se governe, ao sabor dos desejos diários da opinião pública determinada pelas sondagens e avaliada pelos analistas. O papel dos áugures cabe agora às empresas de sondagens e aos fazedores de opinião. E o voo das aves ou as vísceras dos animais são agora substituídos por inquéritos de opinião e por análises certificadas pela reverência da comunicação social. E a pressão contínua das sondagens, fazedores de opinião, voo das aves e vísceras dos animais exerce-se sobre governos, assembleias legislativas e todos os restantes órgãos representativos no sentido de estes se ajoelharem submissos a este novo Divus interpres.
Edmund Burke, há dois séculos, em campanha eleitoral, declarou: «O vosso representante deve-vos não só os seus actos, mas também o seu julgamento e trai-o se, em vez de vos servir, sacrifica esse julgamento à vossa opinião [...] escolheste um representante, na verdade, mas quando o fizeste, ele não [é já apenas o vosso] representante, mas um membro do Parlamento». E Kennedy, há meio século, rejeitou liminarmente a ideia de que a função de representante do povo (neste caso Senador) era simplesmente reflectir a posição dos seus eleitores: «Tal ponto de vista pressupõe que a população do Massachusetts me mandou para Washington para servir apenas de sismógrafo com a função de registar as mudanças de opinião pública [...] Os eleitores escolheram-nos porque tinham confiança no nosso julgamento e na nossa capacidade de o exercer, segundo o que possamos determinar serem os seus interesses, dentro dos interesses da Nação. Isso significa, se for necessário, ter o dever de dirigir, informar, corrigir e, por vezes, ignorar a opinião pública de que fomos eleitos representantes».
Estas afirmações de Burke e de JF Kennedy são os fundamentos esquecidos da democracia representativa. Tendo o povo delegado os seus poderes legislativos para o exercício governativo durante um período previamente fixado (4 ou 5 anos), essa delegação mantém-se durante esse período - delegata potesta non potest delegari. A democracia representativa não pode funcionar devidamente quando é possível, em qualquer instante, derrogá-la, ou se o seu exercício é continuamente posto em causa pela permanente interpretação da vontade popular (sondagens, acções de rua, opiniões dos órgãos de comunicação, análises de gurus politicólogos, etc.).
Esta genuflexão perante a voz do povo não é de agora. Durante a Segunda Guerra Mundial, Churchill, o protótipo do líder com opiniões firmes, foi criticado por um outro político, por não prestar atenção ao sentir do povo britânico, e aconselhado que deveria pôr «o ouvido no chão». A resposta foi à Churchill: «a nação britânica terá alguma dificuldade em olhar de frente para líderes que sejam apanhados nessa posição».
Churchill tinha razão. Nunca, como agora, a classe política foi tão pouco respeitada. E isto é válido para todo o mundo ocidental, em maior ou menor grau. O que mudou não foi os políticos se terem afastado do eleitorado e desdenharem a sua opinião. O que mudou foi os políticos terem como preocupação primeira, e às vezes única, satisfazerem o que julgam ser a opinião do eleitorado estimada pelas sondagens e avalizada pelos fazedores de opinião. O que mudou não foi a classe política desdenhar a democracia, mas sim o estar a tomar uma overdose democrática.
Todas as sociedades ocidentais, e Portugal principalmente, precisam de reformas estruturais profundas, senão afundar-se-ão inexoravelmente. São reformas que exigem sacrifícios, cujos resultados só serão visíveis a médio ou longo prazo, e cujas alternativas conduzem à ruína, também ela só visível a longo prazo. Essas reformas não podem ser conduzidas sob a pressão permanente dos mídia e das sondagens semanais, porque contendem com muitos interesses particulares.
O que se tem verificado é que as medidas estruturais e as medidas com efeitos a longo prazo têm sido tomadas por entidades não sujeitas às pressões da opinião pública: os Bancos Centrais, os burocratas de Bruxelas, etc.. O recente Nobel da Economia atribuído a Kydland e Prescott premiou os seus estudos sobre a inconsistência intertemporal, que relaciona a discrepância entre as decisões políticas tomadas em diferentes momentos do tempo e as expectativas de diversos sectores da sociedade. Trabalhos que ajudaram a fortalecer instituições credíveis e independentes do poder político, como dar cada vez mais autonomia e independência aos Bancos Centrais, a criação do Banco Central Europeu e o estabelecimento do PEC. Isto é, entidades não eleitas e não sujeitas ao permanente escrutínio público.
Na ausência destas entidades não eleitas, os políticos (e não apenas os portugueses) deixar-se-iam embalar pelas vozes que se elevam das sondagens e legislariam para a rua, em vez de legislarem no interesse a longo prazo dos seus países. E desculpam-se das políticas impopulares impostas externamente, alegando exigências dos burocratas de Bruxelas, não eleitos pelo povo. Em Portugal, o bom aluno, os governos ainda não encetaram com esse tipo de justificações, muito vulgares aliás em diversos países da UE.
Mas a sociedade despreza aqueles que bajulam os seus favores, na ânsia permanente de satisfazerem os seus caprichos voláteis e levianos. Vinga-se não lhes dando crédito. Os inquéritos de opinião mostram que as instituições não dependentes do sufrágio popular são aquelas que mais confiança despertam nas pessoas. A opinião pública tem muito mais confiança no Banco de Portugal que nos órgãos que elege periodicamente. Mesmo o poder judicial, que funciona extremamente mal, é mais respeitado que governos e deputados. O clero católico, que nunca foi escrutinado pela população, é muito mais respeitado, mesmo pelos não crentes, que os políticos eleitos. A comunicação social, que nunca foi eleita por ninguém, um elemento corporativo que se auto-reproduz, que serve quotidianamente à população a ementa mais repelente e empolada de todas as misérias e massacres sangrentos, tem mais créditos junto da opinião pública que a classe política. E entre os políticos, Cavaco Silva, que sempre se mostrou pouco simpático para com os mídia, e avesso aos fazedores de opinião e às opiniões instantâneas, foi provavelmente o político que, enquanto exerceu o cargo, foi o mais respeitado (ou pelo menos o menos desacreditado).
A democracia está a ser vítima de um excesso de democracia, ou melhor, a nossa sociedade está a ser vítima de não encontrar líderes que conduzam os destinos do país com firmeza no leme e rumo seguro, e não os encontra porque o frenesim da auscultação permanente da volúvel vontade popular expressa nas sondagens e análises mediáticas, obscurece o discernimento para fundamentar medidas políticas, económicas e sociais consistentes e eficazes a médio e longo prazo.
As sociedades europeias, e a portuguesa em particular, vivem numa paranóia ininterrupta de contestação, de pôr em causa, de lançar a suspeição sobre quaisquer decisões ou apenas iniciativas dos poderes políticos. Essa paranóia é potenciada pelos órgãos de comunicação social, e sustentada por análises políticas certificadas e por sondagens, cujo significado, em vez de relativizado, é tornado um valor absoluto e inquestionável. E, em Portugal, essa paranóia é igualmente potenciada pela fragilidade política do governo e pela sua inabilidade em lidar com ela.
Se um governo não consegue dar-se ao respeito perante a opinião pública terá desta o desrespeito; se o governo não consegue relativizar a paranóia da comunicação social, obterá desta uma paranóia maior e mais destrutiva. A comunicação social é um vampiro que se vivifica, que se alenta, do sangue e da miséria dos outros. Basta ver os jornais televisivos. Onde há rigor, competência, gravidade, dignidade, a comunicação social torna-se inócua e granjeia-se o respeito da opinião pública.
A democracia representativa baseia-se na delegação de poderes. O eleitorado delega nos parlamentares a sua representação durante uma legislatura. E delega não só pelas promessas que lhes foram feitas, mas também pela capacidade de discernimento que lhes atribui. No termo da legislatura julgará se os seus representantes actuaram devidamente e fará as suas novas escolhas em face do seu novo julgamento. É esta a essência da democracia: delegata potesta non potest delegari. O excesso de democracia, de pretender governar de acordo com a volubilidade das opiniões instantâneas, não é uma melhoria da democracia, mas a sua perversão; não é mais democracia, é pior democracia. Mais democracia obtém-se melhorando a relação dos eleitores com o seu eleito e estabelecendo um sistema eleitoral em que estes possam ser julgados com mais rigor pelas suas prestações individuais. Mais democracia obtém-se aumentando a transparência das decisões e dos actos da administração pública que afectam o cidadão; mais democracia obtém-se pelo rigor, isenção e espírito de missão de serviço público dos governantes no exercício dos cargos.
Com eleições semanais escrutinadas nas sondagens ou nas análises dos pretensos fazedores de opinião não se consegue mais democracia, mas a sua perversão. Não existem políticos, mas sismógrafos.
Os cônsules romanos eram eleitos anualmente. Mas eles não tinham que tomar medidas económicas de longo prazo ou de médio prazo. Só tinham que se assegurar que os navios largos e bojudos, vindos do Egipto ou da Sicília, continuassem a demandar o porto de Óstia para permitirem as distribuições de trigo aos proletários romanos, e organizar os espectáculos circenses para alegria e distracção da populaça. As virtudes no exercício dos seus cargos eram medidas pela espectacularidade e grandiosidade dos jogos circenses. Um ano era suficiente para a populaça, e demais para os cônsules, que depois iriam ressarcir-se dos seus gastos, espoliando alguma província distante com o cargo de procônsul.
A nossa sociedade não pode ser governada tentando satisfazer opiniões instantâneas, numa situação ainda mais volúvel que a dos cônsules romanos. Não se conseguem resolver os problemas, e os governantes que se colocaram de cócoras perante a opinião pública semanal, têm o respeito que normalmente se atribui a quem é apanhado com frequência inusitada nessa incómoda e desfavorável posição: nenhum.
Uma palavra de esperança, todavia. A nossa sociedade tem progredido pela luta entre a sua afirmação e a sua negação. Os meios modernos possibilitam auscultações quase instantâneas dos sentimentos da opinião pública. Este é um dado que não pode ser postergado. Não é ele que está em causa, mas a forma como tem sido usado pelos diversos protagonistas sociais. Mas a democracia aprende-se no seu exercício contínuo.
Contrariamente à ideia que muitos têm sobre as virtudes absolutas da democracia, a história mostra que não é bem assim. A maior quantidade de democracia pode não se traduzir, no imediato, na melhor qualidade da democracia. Louis-Napoléon, para chegar a Príncipe Presidente e depois a Napoleão III, instituiu primeiro o sufrágio universal, que então não existia. A sua ascensão teve uma adesão eleitoral esmagadora. Sem o sufrágio universal nunca atingiria o poder discricionário. Bismarck, para consolidar a sua política nacionalista e diminuir o peso parlamentar dos seus críticos, acabou com o sufrágio censitário, tornando-o parcialmente universal (as mulheres estavam excluídas). Igualmente na Grã-Bretanha, as sucessivas reformas eleitorais, que foram diminuindo o censo, tiveram, na maioria dos casos, o intuito de aumentar os apoios à política imperial. O primeiro efeito do alargamento da base do sufrágio na monarquia austro-húngara, em fins do século XIX, foi a eleição de um líder da extrema-direita.
E Portugal, só em 1918, com um decreto de Sidónio Pais, se alargou o sufrágio a todos os cidadãos do sexo masculino maiores de 21 anos. Contudo, este alargamento só duraria um ano, com a reposição do antigo regime de incapacidades, logo que Sidónio Pais foi assassinado, a República Nova banida e o regime democrático restaurado. Portanto, foi um alegado aprendiz a ditador quem estabeleceu o sufrágio universal em Portugal, e foram os opositores à ditadura e democratas certificados quem restauraram as restrições eleitorais.
Hitler subiu ao poder aproveitando o regime democrático da República de Weimar, certamente um dos regimes mais abertos da época. Os nazis passaram de 2,6% (em 1928) para 18,3% (em 1930) e 37,3% (em Julho de 1932), havendo um pequeno recuo eleitoral em Novembro de 1932 (33,1%), mas que não favoreceu a esquerda, visto se ter dirigido para a direita clássica. As eleições no Lippe, em Janeiro de 1933, mostraram uma nova subida importante dos nazis e serviram de argumento para a indigitação de Hitler, em 30 de Janeiro, como Chanceler (afinal ele era o chefe do maior partido do Reichstag) à frente de um governo onde os nazis ainda eram muito minoritários (para além de Hitler, Frick no Interior e Goering na Aeronáutica). Um mês depois, nas eleições de 5 de Março, as últimas eleições livres na Alemanha de então, eleições que tiveram uma participação recorde, o NSDAP teve 44% (288 mandatos em 647) a 36 lugares da maioria absoluta. Como os Nacionais Alemães e os Populares (a direita clássica) obtiveram 52 lugares, estava constituída a maioria democrática para liquidar a democracia.
Se o mundo ocidental foi aprendendo a gerir o aumento da democracia e o sufrágio universal no sentido do fortalecimento da democracia e da liberdade, tal ainda não aconteceu com outras regiões do globo. O dilema nos países árabes é entre a manutenção de ditaduras, mais ou menos corruptas, mas que asseguram alguma tolerância religiosa e estabilidade política, ou a realização de eleições livres e a ascensão ao poder dos fundamentalistas islâmicos, intolerantes e fanáticos. Mesmo mais perto de nós, temos o exemplo das vitórias eleitorais de Hugo Chavez.
É importante meditarmos nas palavras de Tocqueville, há século e meio, ao afirmar que «a democracia tende a generalizar o espírito de corte, entendendo-se que o soberano, que os candidatos aos cargos adularão, é o povo e não o monarca. Mas adular o soberano popular não é melhor do que adular o soberano monárquico. Talvez seja até pior, uma vez que o espírito de corte em democracia é aquilo a que chamamos, em linguagem corrente, a demagogia».
Estes receios de Tocqueville foram simultaneamente confirmados e superados. A sociedade, perante a desregulação da democracia, aprendeu a regulá-la em novos moldes. A rádio e, posteriormente, a televisão, permitiram o advento dos ditadores, que as souberam controlar e usar, mas também ajudaram a à transparência social e política que dificultam o caminho para a ditadura e consolidam a democracia. Actualmente o cerne do problema já não está no controlo da informação. A informação está de tal forma banalizada, é de tal modo incontrolável em face da quantidade de emissores, que o problema é a obesidade da informação, a sua triagem, o saber separar o pouco trigo do muito joio, separar a verdade do boato, separar a realidade da manipulação, separar o fenómeno da sua imagem refractada sob ângulos diversos. A essência da política liberal e democrática é a construção de uma rica e complexa ordem social, não de uma ordem dominada pela manipulação, o boato, a meia-verdade, as imagens virtuais.
São estes os desafios que se colocam actualmente. Colocam-se directamente a cada um de nós, mas colocam-se indirectamente a todos nós, porque têm posto em causa a capacidade das nossas sociedades serem governadas com discernimento, com políticas coerentes e consistentes no longo prazo, e adequadas a tornarem as nossas sociedades mais prósperas, com melhor qualidade de vida e mais justas.
A história tem provado que os inimigos da democracia aprendem mais depressa a usarem o aumento da quantidade da democracia para a perverterem. Mas também tem provado que a sociedade tem sido sempre capaz de lhes responder e de transformar esse aumento da quantidade da democracia em maior qualidade da democracia.
Publicado por Joana às 07:17 PM | Comentários (19) | TrackBack
outubro 10, 2004
Portugal está Enfermo
Quando escrevi aqui, há dias, uns textos sobre o advento da República, não o fiz por uma mera intenção de recordar a efeméride. Fi-lo igualmente para recordar que em matéria política e social, quem semeia ventos colhe tempestades.
Tem sido repetido à exaustão que o regime emergente do 25 de Abril não deveria repetir os erros da 1ª República, pois esses erros haviam conduzido a um ambiente social que facilitou a instauração da ditadura. Este apelo continha, porém, um vício de análise profundo. A 1ª República foi vítima da crise social e de valores que ela própria perverteu durante as duas décadas que precederam a implantação da república. Como escrevi na altura, a 1ª República acabou por cair na armadilha que havia construído para os outros a permanente chicana política, a difusão de boatos sem consistência com o intuito de enlamear as figuras publicas e a classe política em geral, a apologia da violência como arma política, a assimilação da conspiração e do terrorismo a valores respeitáveis e heróicos da luta política, a promoção dos autores de atentados e dos regicidas a heróis nacionais, exaltando a sua figura e organizando sessões e romarias em sua memória.
Um regime em que muitas das suas figuras emblemáticas ascenderam ao poder, lançando lama sobre a classe política anterior, ao tornarem-se poder, tornaram-se igualmente alvo da lama e do descrédito da classe política. Quando os valores de uma sociedade são degradados, essa degradação atinge também aqueles que a promoveram. Ficaram reféns do próprio aviltamento das instituições e valores que provocaram. A 1ª República caiu porque quando se implantou já continha em si o gérmen da sua liquidação. Só faltava saber se cairia às mãos dos republicanos moderados de Pimenta de Castro, do presidencialismo populista de Sidónio Pais, ou da ditadura do 28 de Maio. Quanto mais tarde fosse liquidada, maior seria a factura a cobrar.
Portugal vive, desde há vários anos, um clima de permanente chicana política cuja génese está na classe política e na comunicação social. São estatisticamente muito minoritários dentro da sociedade, mas apenas eles detêm a capacidade de falar e escrever publicamente. Somente alguns órgãos regionais e meia dúzia de sítios da net escapam a esta Gleichschaltung und Tarnung comunicacional, onde a comunicação social exerce um totalitarismo comunicacional dissimulado por constantes alertas sobre os perigos de um alegado controlo externo dos mídia. É o gatuno a simular a inocência, gritando «agarra que é ladrão!».
Portugal está doente e essa doença alastrou por todo o corpo social. A nossa juventude está a perder hábitos de trabalho e apenas alguns se empenham no estudo, apesar das dificuldades constituídas pelo contrapeso, cada vez maior, dos que vão para a escola apenas com intenções lúdicas. Alunos do Leste europeu, ao fim de 2 anos, são os melhores alunos das turmas e, frequentemente, os melhores alunos em Português, eles, que desembarcaram em Portugal não sabendo soletrar uma palavra da nossa língua materna.
Quando adultos reclamamos contra a situação social, exigimos reformas mas protestamos quando se tentam implementar essas reformas porque a sua concretização nos afecta directamente ou nos atinge em alguns interesses particulares. Consideramos excessiva a despesa do Estado, mas recusamos que a sua contenção seja feita através de um maior rigor no desempenho da função pública e da perda de algumas mordomias que desfrutamos. Criámos um monstro que consome a maior parte da riqueza que penosamente criamos e que não conseguimos reformar porque ele se recusa a tal e o lobby que o sustenta é mais poderoso que a nossa força para o mudar.
Há uma imunodeficiência adquirida pela nossa sociedade que a torna inerme perante esta enfermidade que a corrompe e avilta. E o alastramento dessa doença acelerou-se na última década pela emergência do BE na vida política portuguesa. Até aí tínhamos um partido anti-sistema que lutava por causas, com as quais podíamos não concordar, mas que eram causas sociais e políticas cuja sustentação era legítima. Mesmo quando utilizava métodos considerados malevolentes, havia limites que não ultrapassava. Porém o BE não é um partido de causas, mas um partido de casos. O BE vive da permanente chicana da vida política, sustenta-se do enxovalho contínuo da classe política a que ele finge não pertencer, medra na baixa intriga e nos processos de intenção, que em Portugal sempre fizeram a delícia de alguns extractos sociais urbanos que vivem na ociosidade, mesmo quando alegadamente trabalham.
E a lama e a imundície que o BE lança sobre a política e a sociedade são disseminadas profusamente através dos ventiladores de que dispõe na comunicação social. O BE tem na comunicação social um peso e uma influência completamente desproporcionados face à sua implantação social. E usa-os para degradar os já aviltados valores do país. Com que fins? Nem ele sabe. Os partidos radicais não têm estratégias de longo prazo, apenas tácticas imediatistas de intriga e envilecimento político. A longo prazo apenas perseguem quimeras. E quando as tácticas resultam e a sociedade é abalada nos seus fundamentos, são eles as primeiras vítimas do refluxo da maré.
E o BE fez escola. Basta lembrarmo-nos do terrorismo parlamentar do PS, da aliança Povo-RTP e dos prenúncios a PREC que ocorreram nos primeiros meses da actual legislatura.
Estou pouco preocupada que o BE, ou qualquer dos seus émulos, venha a ser essa vítima: quem semeia ventos colhe tempestades. Mas estou cada vez mais preocupada pela evolução da vida política, social e económica de Portugal, pelo aprofundar do nosso atraso e pela nossa manifesta incapacidade de sair da situação para onde temos sido arrastados, por nossa culpa, e na qual nos afundamos, cada vez mais. O país está doente e a parte sã do seu corpo não parece ter capacidade de regenerar o todo colectivo.
A questão já não é a de termos deixado de ver a luz ao fundo do túnel. O grave é que já não vemos a luz no topo do poço.
Publicado por Joana às 07:51 PM | Comentários (43) | TrackBack
setembro 29, 2004
O Gestor Contra NaturaAdenda
Em jeito de adenda e face a alguns comentários no meu post anterior, queria acrescentar o seguinte:
-A Social-democracia não deveria constituir um termo pejorativo para a esquerda. Engels pertenceu à social-democracia alemã e Lenine à social-democracia russa. Aliás os bolcheviques eram assim chamados porque constituíram a dada altura a ala maioritária do partido social-democrata russo, por oposição aos mencheviques, assim chamados por serem a ala minoritária. No caso francês foi algo diferente e as diversas facções socialistas uniram-se constituindo a SFIO (Section Française de l'Internationale Ouvrière) em 1905 (dissolvida sob pressão de Mitterand em 1969). As cisões deram-se na sequência das opiniões contraditórias sobre o carácter da Grande Guerra. Começou na Rússia e estendeu-se, também por influência da tomada do poder pelos bolcheviques, à Europa ocidental O KPD, Partido Comunista Alemão, foi constituído em 1920, assim como o PCF, Partido Comunista Francês ambos por cisão do SPD (alemão) ou da SFIO (francesa).
-A Social-democracia passou a constituir um termo pejorativo para a esquerda radical e ortodoxa quando esta pretendeu diabolizar as concepções reformistas dos socialistas da Europa do norte. É óbvio que houve anexações semânticas sem conteúdo. O PSD português não tem nada a ver com a social-democracia. Aliás o próprio PSL insiste muito na tecla do PPD, certamente um nome muito mais adequado.
- Eu, quando referi o comunismo, não estava a pensar numa sociedade ideal futura, mas nos partidos comunistas, nos seus ideários e nos modelos que estabeleceram na Europa do Leste onde tomaram o poder. Aliás Marx e Engels não tiveram problemas teóricos ao apelidarem uma obra escrita em 1848, destinada a ser panfletária, mas que se tornou numa obra teórica de relevo, como o Manifesto do Partido Comunista.
A terminologia marxista não me fere a sensibilidade, nem tenho pavor a citar o nome de Deus em vão nem o meu intuito foi substitui-la por expressão mais civilizada. A questão é que a noção marxista de classe é muito específica e eu, ao falar em classe social. poderia conduzir a alguns quiproquós. Afinal conduzi na mesma! Para Marx apenas existem, na verdade, 2 classes. Marx não nega que entre os capitalistas e os proletários, existam múltiplos grupos intermédios, artesãos, pequeno-burgueses, comerciantes, camponeses proprietários. Mas afirma duas proposições. Por um lado, à medida que o regime capitalista evoluir, tenderá para uma cristalização das relações sociais em apenas e só dois grupos, de um lado os capitalistas e do outro os proletários. Por outro lado, duas classes, e só duas, representam uma possibilidade de regime político e uma ideia de regime social. As classes intermédias não têm nem iniciativa nem dinamismo histórico. Há apenas duas classes capazes de imprimirem a sua marca à sociedade. Uma é a classe capitalista e a outra a classe proletária. No dia do conflito decisivo, todos e cada um serão obrigados a juntar-se ou aos capitalistas ou aos proletários.
Nada na história é eterno, nem eu me referi ao sistema capitalista e à economia de mercado como eternos, embora a economia de mercado, desde que as comunidades humanas deixaram de viver na fase da caça e da recolha, tenha sempre existido. Mesmo nas formações sociais em que o modo de produção dominante (escravatura, servidão, socialismo científico, etc.) impunha coacções extra-económicas, onde fosse possível haver trocas livres, havia mercado. Basta estudar a história, incluindo a dos mercados paralelos na ex-URSS. Fechem a porta ao mercado e ele entra pela janela.
Eu escrevi «Hoje em dia, o que está em causa é a gestão mais eficiente do actual sistema económico e social e não a sua alteração radical.». Hoje em dia e não Definitivamente.
Não é uma falácia escrever-se que não se pode distribuir o que não há. Há desigualdades sociais. Mas essas desigualdades são imprescindíveis ao desenvolvimento económico. Podemos ir ao espólio dos grandes empresários e distribuir o seu património pelos necessitados. E a seguir? Quem voltará a investir em Portugal? Para haver criação de riqueza tem que haver protecção aos resultados das actividades económicas. Sem essa protecção não há investimento e os capitais irão demandar locais mais seguros. Onde não há protecção à propriedade não há desenvolvimento económico, antes estagnação.
É evidente que tem que haver reafectação de recursos, transferências sociais para compensar as desigualdades excessivas introduzidas pela economia de mercado. É importante para combater a exclusão social e manter a coesão social. Mas essa reafectação tem que ser optimizada em face da necessidade de manter os incentivos à iniciativa privada.
Publicado por Joana às 03:46 PM | Comentários (9) | TrackBack
O Gestor Contra Natura
A actuação socialista, no governo e na oposição, as campanhas para secretário-geral e a vitória de Sócrates sugerem-me algumas reflexões.
O socialismo nasceu e formou-se na luta contra o statu quo económico e político. Nasceu e formou-se, no século XIX e início do século XX, nas lutas dos trabalhadores contra um sistema económico em que a sua vida era degradante e a sua subsistência precária. Pelas suas referências históricas e culturais, socialismo formou-se como um contra-poder. Mas não apenas como um contra-poder, pois o socialismo apresentou, desde Marx, duas vias: a via da luta pela reforma do sistema económico e social vigente versus a via da luta pela destruição desse sistema e estabelecimento de um novo modelo baseado noutras relações de produção. Essas duas vias foram progressivamente divergindo e deram origem, após a primeira guerra mundial, à cisão entre o socialismo e o comunismo. O segundo implodiu após se ter julgado, a si próprio, como o futuro ridente e necessário da humanidade e o primeiro passou de conta-poder a gestor ocasional desse mesmo poder.
Foi essa ambivalência, entre os genes que lhe deram a luz e a vivência no seio de relações de produção, que inicialmente detestava e que depois protagonizou a sua gestão, que modelou o comportamento socialista nas últimas décadas, principalmente nos países latinos, porque nos países do norte da Europa, quer na sua génese, quer na sua vivência, o socialismo esteve sempre muito mais apostado na reforma que na destruição do sistema.
É essa ambivalência que conduz à situação em que, após cada experiência governativa, os socialistas sejam acusados de meterem o socialismo na gaveta. É essa ambivalência que faz com que a ala esquerda acuse os governantes socialistas, quando a sua popularidade está em queda ou perdem as eleições, de perderem porque fizeram uma política de direita. Ora esta afirmação não tem qualquer coerência lógica: Se perdem para a direita, como é possível justificar a derrota pela alegação que os socialistas teriam feito uma política de direita?
A questão é que os socialistas, quando chamados a governar, não têm uma alternativa coerente e própria. A solução em que caem sempre é a de gerirem o sistema no papel do gestor contrariado e embalarem essa gestão contra-natura com um revestimento de tintas socialistas: distribuir dinheiro em subsídios, aumentos salariais desconformes da função pública; empolar o papel empregador do Estado, etc., etc.. Gerem mal duplamente: pela gestão em si, e pela distribuição de uma riqueza que não existe, pois que não a souberam criar.
A sociedade e o mundo mudaram muito na sequência da última guerra, com especial incidência nas últimas três décadas. Houve a globalização, com a emergência das economias de muitos países, os gigantes China e Índia em especial. Houve, nas sociedades ocidentais, importantes alterações das condições económicas, o aparecimento de novos segmentos e camadas sociais, com as suas aspirações e necessidades, houve importantes modificações nas correlações de força entre os diversos segmentos sociais (evito chamar-lhes classes sociais para evitar confusões com a terminologia marxista). Houve drásticas alterações demográficas. Houve imensas transformações e rupturas.
Os socialistas, como partido, ou não se aperceberam disso, ou não conseguiram encontrar respostas adequadas. Quando na oposição mantêm-se prisioneiros de um discurso reivindicativo classista e estéril. Quando no governo não têm ideias próprias em matéria de gestão da coisa pública, e acabam, forçados pelas circunstâncias económicas, a aplicar as receitas da direita, cujos valores foram sempre o objecto da sua contestação pública e firme. Mas, porque se sentem pouco à vontade em aplicar essas medidas, fazem-no de forma incoerente e errática e tentam disfarçar essas contradições com políticas sociais com intuitos meramente distributivos, sem acautelar a existência de recursos para tal.
A direita, nas sociedades ocidentais, tem tentado encontrar modelos de intervenção na esfera económica e social para tomar em consideração essas mudanças na estrutura e dinâmica dos grupos sociais, uma nova postura de afirmação da procura individual do sucesso induzida pelo aumento significativo das qualificações e pelo enorme crescimento da mobilidade social. A direita faz isso com a naturalidade de quem sempre defendeu os valores económicos e sociais que conduziram às modernas sociedades de economia de mercado. Ela nunca foi contra-poder ao sistema. Quando não estava no governo poderia criticar as decisões governativas, nunca o statu quo, nunca pôr em causa os fundamentos daqueles valores. A direita, quando governa, fá-lo sem complexos e com a naturalidade de quem pertence ao sistema, quer erre, quer acerte nas medidas económicas e sociais que toma.
Hoje em dia, o que está em causa é a gestão mais eficiente do actual sistema económico e social e não a sua alteração radical. A direita, errando ou não, gere sem complexos; os socialistas gerem com os complexos de quem, pela sua vivência histórica tem dúvidas sobre o sistema que estão a gerir, e portanto erram quase sempre e acabam sob a acusação, dos seus correligionários, de fazerem uma política de direita.
Ora os socialistas, em vez de proclamarem sistematicamente a sua fidelidade aos imortais princípios referidos a experiências históricas de há mais de século, e que a própria história demonstrou estarem mais que ultrapassados, precisam de redefinir as suas referências no quadro da sociedade actual, mas construindo um projecto próprio (e portanto alternativo ao da direita) de desenvolvimento económico e social viável, e sublinho viável, porque o que têm feito é uma mistura canhestra do projecto de direita desvirtuado pela subsidiarização excessiva, pelo empolamento do Estado, pela dependência face aos lobbies mais perigosos da sociedade portuguesa (os sindicatos da administração pública e congéneres, isto na douta opinião do socialista Silva Lopes), o que leva periodicamente o país à beira do abismo.
E nesse projecto alternativo, os socialistas não devem ter complexos em apostar na eficiência: na eficiência do aparelho do Estado, na eficiência do funcionamento do mercado (melhorando as práticas concorrenciais e a sua transparência), na eficiência social (mas também económica) na realocação dos recursos, no intuito de aumentar a coesão social sem menoscabo da eficiência económica, na eficiência da mobilização social e na afirmação da cidadania para a construção de um país mais próspero, com melhor qualidade de vida e onde seja mais gratificante viver
Ou os socialistas se afirmam no quadro da sociedade actual, acreditando sem reservas mentais nos valores da sociedade actual (na democracia representativa, no mercado livre, na liberdade de escolhas) com um projecto próprio, esvaziado das contradições em que se têm debatido, entre a contestação dos valores da sociedade e a gestão da mesma sociedade baseada nesses valores, ou não passarão de contra-poder.
E como contra-poder, os socialistas somente podem ambicionar chegar ao governo apelando ao populismo demagógico das quimeras distributivas. Mas chegados ao governo apenas se aguentarão o tempo suficiente para o eleitorado verificar que as suas propostas não têm qualquer consistência e a sua aplicação prática, a médio prazo, arruína o país.
Nota - Ler ainda
O Gestor Contra NaturaAdenda
Publicado por Joana às 12:42 AM | Comentários (12) | TrackBack
agosto 31, 2004
O Neoliberal Vital Moreira
Há uma semana (Público, 24-08-04) Vital Moreira dava ao lume um texto Debates Socialistas em que se comprazia com a possibilidade de as moções em discussão levarem a um «debate fecundo» num partido que, ao contrário dos seus congéneres europeus, tem dado pouco ênfase a esta matéria, preferindo centrar a controvérsia em meia dúzia de palavras de ordem que o tempo se encarregou de esvaziar de significado, tornando-as chavões ressequidos, mas que servem de biombo ao objectivo único de encontrar um líder capaz de levar o partido ao poder.
O que aquele texto tinha de interessante era a contradição entre a satisfação mostrada por Vital Moreira pelas propostas «inovadoras» de Manuel Alegre relativas ao «Estado estratega» e as suas teses de que «Nem a candidatura de Manuel Alegre pode permitir-se ignorar e deixar de responder aos novos desafios que as mudanças sociais, económicas e políticas da última década, em Portugal, na Europa e no Mundo, trouxeram». Ora as propostas de Manuel Alegre, quer sobre a Saúde, quer sobre a Segurança Social, quer ainda sobre o papel «insubstituível» do Estado, não traziam nada de inovador relativamente às «velhas pechas socialistas» na «competência na governação económica, a disciplina financeira e a eficiência da gestão pública» (limito-me a citar Vital Moreira). Parecia que a satisfação de Vital Moreira seria prematura.
Hoje, igualmente no Público, Vital Moreira escreve sobre A Questão dos Serviços Públicos. O que há de interessante (para mim) e curioso (em face do anterior pensamento do constitucionalista coimbrão) é que eu subscreveria quase tudo o que Vital Moreira escreve a nível de propostas.
Também eu subscrevo (aliás tenho-o escrito aqui por diversas vezes) que «não é possível continuar a ignorar o desafio que a chamada nova gestão pública veio trazer no que respeita ao desempenho da gestão pública tradicional, baseada ... na falta de autonomia e da avaliação e responsabilização das unidades prestadoras. O desperdício e ineficiência são o melhor argumento contra os serviços públicos». Igualmente tenho advertido que «há um problema do limite dos recursos financeiros para enfrentar as crescentes exigências dos serviços públicos».
Mas Vital Moreira, na sua iconoclastia hodierna, vai por aí fora, arrebatado, cavalgando o pensamento neoliberal em desvairado galope, de alabarda em punho e viseira cerrada, carregando impiedoso sobre o Estado Social. Nada escapa à sua transfiguração em flagelo do Estado-Providência que tanto acarinhou in illo tempore: a gestão dos serviços públicos deve ser «melhorada» «mediante a introdução de formas de gestão empresarial e de mecanismos de tipo mercado» ... a crescente participação de entidades privadas no sector público «incluindo as de natureza lucrativa, seja em cooperação com entidades públicas (parcerias público-privadas), quer inclusive como substitutos do Estado na prestação de cuidados e prestações sociais». Todos os piedosos ícones da visão socialista do Estado Social são fragorosamente demolidos e reduzidos a cinzas por este novo e fervoroso advogado do neoliberalismo.
Porém Vital Moreira recusa essa designação. No conflito do ser ou não ser neoliberal, Vital Moreira é neoliberal, de acordo com o rótulo que os seus correligionários colam na testa de quem advoga semelhantes proposições, e não é neoliberal, de acordo com o que ele considera como definidor da «alternativa neoliberal»:a «alternativa mais estreme, que exalta o sistema norte-americano». À laia de providência cautelar, Vital Moreira esculpe uma imagem neoliberal adequada para mostrar que ele cai fora desse rótulo desonroso e aviltante. Neoliberal? Vital Moreira? Nunca! O que ele esquece, ou finge esquecer, é que as propostas de reforma do modelo social europeu, que têm sido diabolizadas como neoliberais pelos seus correligionários, não têm nada a ver com a exaltação de um estreme modelo americano, mas são similares às que ele advoga no seu artigo de hoje.
É verdade que as considerações que Vital Moreira tece sobre a progressiva falência do modelo social europeu, tal como foi estabelecido ao longo das 3 décadas de ouro, são condizentes com o que tenho escrito aqui em diversos registos: «o crescente aumento de custos» dos «serviços e prestações sociais públicos universais e gratuitos» ... o efeito do «aumento considerável da idade média das pessoas», etc..
Mas as conversões rápidas deixam sempre sequelas. O peso da tradição estatizante ainda tem muita força ... Vital Moreira refere como um dos efeitos que levaram aos problemas com que se debate o modelo social europeu é «a contestação da eficiência do modelo tradicional de gestão pública» ... Vital Moreira, o efeito é «a contestação da eficiência» ou a ineficiência propriamente dita? Ineficiência que aliás Vital Moreira reconhece noutro passo do artigo. E mais adiante, quando refere que «o fim do modelo fiscal em que o sistema assentava» foi devido à «contestação da progressividade fiscal» e à «competitividade fiscal internacional, que levou à baixa da carga fiscal», voltamos à questão de saber se o efeito foi o peso fiscal, que tem retirado competitividade às empresas europeias face à emergência dos novos países industrializados, ou foram as queixinhas relativas à carga fiscal.
A questão é saber se Vital Moreia assimilou as causas profundas da actual situação económica e social relativamente à qual ele advoga as medidas em apreço, ou se advoga essas medidas apenas porque lhe parece que há actualmente muitas contestações aos valores que ele anteriormente defendia. E essa questão é pertinente: tomam-se medidas porque são racionalmente necessárias, e não porque estão na moda. Tomar medidas porque estão na moda tem conduzido aos maiores disparates e, em alguns casos, levado à ruína das nações.
Publicado por Joana às 09:19 PM | Comentários (56) | TrackBack
agosto 24, 2004
Mitos e Ideologias 3
Economia de Mercado sim, Sociedade de Mercado não
Analisemos agora a «palavra de ordem» «economia de mercado sim, sociedade de mercado não».
Numa sociedade pluralista, baseada na livre iniciativa individual e na liberdade de escolha não é possível delimitar uma esfera social onde não haja competição a menos que a iniciativa individual e a liberdade de escolha sejam limitadas (ou reguladas) por lei. A economia sem a sociedade é um jogo abstracto e a sociedade sem a economia uma realidade hemiplégica. A liberdade pressupõe competição e não há liberdade sem competição. A concorrência é parte intrínseca da vida social numa sociedade livre. Começa nos bancos da escola onde, por exemplo, sonhar com uma aprendizagem sem competição tem sido uma das quimeras que tem ajudado a tornar o nosso desempenho escolar uma desgraça colectiva.
É evidente que a competição deve ser regulada. Em primeiro lugar há que assegurar que ela não é desvirtuada por políticas anti-concorrenciais perpetradas pelos agentes económicos (cartelização, monopólio ou monopsónio, etc.). Como a concorrência pura e perfeita é uma situação de referência inatingível na moderna organização industrial (economias de escala, diferenciações dos produtos, barreiras naturais à entrada, etc.), devem ser regulados os procedimentos que permitam uma prática o mais próxima possível dessa situação ideal.
Em segundo lugar verifica-se que a concorrência produz na sociedade um efeito idêntico ao da selecção natural das espécies (empresas e famílias): cavam assimetrias e produzem a prazo a sua extinção. Se no caso das empresas a intervenção estatal só deve ter lugar se, e unicamente, a empresa em vias de extinção for viável por as suas dificuldades serem apenas conjunturais, no caso das famílias a sociedade deve intervir para assegurar a equidade (e não igualdade) social conforme escrevi no meu texto anterior (Mitos e Ideologias 2).
Portanto, é contraditório apostar numa economia de mercado e apostrofar a sociedade de mercado. A menos que este anátema se destine apenas a consumo caseiro.
Um texto que consubstancia as contradições socialistas foi o publicado por Jorge Bateira no Público (22-08-04 O Estado Estratega). Jorge Bateira, que Aarons de Carvalho qualifica noutro artigo no mesmo jornal de «reputado economista», desfia uma série de proposições ou pouco rigorosas ou mesmo absolutamente incorrectas.
Sobre o mercado escreve: «os mercados são uma construção social, não resultaram de qualquer ordem natural. ... É falsa a ideia de que no princípio era o mercado». Pois não, Jorge Bateira, ao princípio era o Australopithecus. Enquanto os hominídeos viveram em bandos, subsistindo através da colecta (frutos e caça) não havia mercado, nem economia, nem socialismo, nem debates no Público ... O mercado iniciou-se com a divisão social do trabalho (diferenciação e especialização progressivas das diversas tarefas e empregos necessários à boa evolução de uma sociedade, conforme escreveu Marx).
Com a divisão social do trabalho aparece a necessidade das trocas (aliás, para Adam Smith é o inverso: a divisão do trabalho é fruto do gosto visceral dos homens pela troca e pelo lucro) e a existência da propriedade (no mínimo, a propriedade do stock de bens para troca posterior) e a necessidade do estabelecimento de uma entidade que, de alguma forma, proteja ou dê segurança à propriedade. Escreve Adam Smith: "É, pois, a aquisição de propriedade ... que necessariamente exige o estabelecimento de um governo civil. Onde não há propriedade, ou ao menos, propriedade cujo valor ultrapasse o de dois ou três dias de trabalho, o governo civil não é tão necessário". Sem haver Estado e um enquadramento legal (escrito ou consuetudinário) que proteja a propriedade e dê segurança à actividade económica, não há mercado, mas também não há economia, apenas miséria. A aquisição pela violência e pelo saque, através da guerra ou da pirataria, conduz ao sofrimento, à miséria e à desmotivação pela actividade económica dada a insegurança que pende sobre os seus frutos.
Portanto quando o «reputado economista» Jorge Bateira escreve que «apenas os economistas de matriz ideológica neoliberal continuam a raciocinar como se fosse possível haver mercado sem intervenção pública» está a dizer um completo disparate pois para haver mercado, economia e civilização, o Estado tem que assegurar a protecção da propriedade e que o mercado funcione sem imperfeições. Nenhum neoliberal tem dúvidas sobre isso. Onde o pensamento neoliberal torce o nariz é ao que considera um excessivo protagonismo do Estado em matéria de justiça social.
Para Hayek: O salário mínimo? Uma inépcia que impede a mobilidade de trabalho, reduz a produtividade e o nível de vida colectivo. A fiscalidade, e em especial o imposto progressivo? Calamitosa: a progressividade perturba a alocação óptima dos recursos; o imposto deve ser proporcional, afim de salvaguardar a sua neutralidade. O Estado-Providência? Uma máquina para fabricar efeitos perversos: a socialização da economia que a acompanha não pode, por definição, ir a par com a realização do óptimo. A intervenção pública? Um crime contra a economia, se o Estado pretender ir além da formulação de regras gerais.
Às vezes é necessário gritar que o rei vai nu para se começar a notar que o vestuário do rei é absolutamente inadequado. Hayek, inicialmente maldito, passou ao estatuto de guru quando, a partir do fim dos anos 70, o estatismo ultrapassou os limites do razoável e os seus efeitos perversos nas economias ocidentais se tornaram visíveis e iniludíveis. Foi a partir daí que, inicialmente nos países anglo-saxónicos (Reagan e Thatcher) e depois na Europa continental, se começaram a implementar as privatizações de empresas públicas e as parcerias público-privadas para gestão de sectores até então considerados como vocação exclusiva do serviço público.
Prossegue o «reputado economista» Jorge Bateira: «... Não percebendo que sem Estado não há mercado, para estes economistas (os neoliberais ... claro) a intervenção do Estado é uma impureza ... um mal menor. ...Ora os mercados, não sendo entidades cognitivas, também não tomam decisões sobre o futuro, não elaboram estratégias».
No meu texto anterior acima referido escrevi que «o mercado não é uma entidade, é o conjunto de vendedores e compradores de um dado bem ou serviço. ... Portanto, «o mercado não define estratégias», mas as empresas que funcionam numa Economia de mercado tomam decisões estratégicas» e decisões sobre o futuro ... acrescento agora. E acrescento igualmente que «os mercados, não sendo entidades cognitivas», as empresas que constituem o mercado são-no.
Queria abrir entretanto um parêntesis sobre o termo neoliberalismo. Apesar da aplicação progressiva, embora muito tímida, de algumas receitas neoliberais, ter permitido um novo fôlego às economias ocidentais (incluindo a portuguesa), tem havido um coro enorme de calúnias movidas contra o termo neoliberalismo, mesmo pela gente de esquerda que quando no governo se vê constrangida a que aplicar algumas das suas receitas. O neoliberalismo passou a ser o culpado de tudo o que de mau que acontecia no mundo, sobretudo em regiões onde jamais houve qualquer pensamento neoliberal, como na África, onde predominam regimes que se intitulavam ou intitulam marxistas ou socialistas. O termo "neoliberal" adquiriu uma conotação negativa, embora os que a apliquem não expliquem o porquê. Ora, pode concordar-se ou não das ideias neoliberais, desde que se procure conhecer o que são exactamente essas ideias, submetendo-as então a uma crítica fundamentada. É absurdo debater ideias pela imagem caricatural forjada pelos seus detractores. Mas é exactamente isso que ocorre. Por exemplo, Jorge Bateira apenas o usa como elemento pejorativo. Para facilitar, atribui-lhe intenções que não correspondem às doutrinas dos pensadores neoliberais.
Regressemos a Jorge Bateira: ... «importa reconhecer as limitações da intervenção do Estado na economia ... vários factores ... imprevisibilidade decorrente da mudança tecnológica; dificuldade em encontrar um nível de intervenção adequado para reduzir a incerteza do investimento; criação de efeitos perversos em algumas políticas.»
Estas limitações deixam-me perplexa. Não é o Estado, mas as empresas, fundamentalmente as empresas industriais, que estão confrontadas com a imprevisibilidade decorrente da mudança tecnológica, ou com a incerteza do investimento. São elas que estão permanentemente confrontadas com as incertezas dos mercados. O Estado não tem qualquer vocação para tal. As empresas correm riscos, mas são elas que pagam se cometem erros. Quando o Estado comete erros nas suas decisões sob risco (ou na incapacidade de tomar decisões), quem paga esses erros são os contribuintes. Foi isso que os contribuintes portugueses têm andado a fazer relativamente aos erros cometidos pelo Estado no seu sector público empresarial. Portanto não se vê que tal constitua problema para o Estado, a menos que este regresse às nacionalizações.
Quanto aos «efeitos perversos em algumas políticas» estou de acordo. O Estado português tem tomado medidas enviesando o funcionamento de alguns mercados que a longo prazo se têm virado contra os grupos sociais que pretendiam proteger. Muitas dessas medidas foram entretanto abolidas. Outras ainda se mantêm (mercado laboral, mercado do arrendamento urbano, etc.). A perversidade dos efeitos dessas políticas é de tal monta que a sua abolição, embora necessária, pode causar no imediato situações em extremo complicadas e ter custos sociais elevados, e os resultados positivos só serem sentidos a médio ou longo prazo.
Jorge Bateira termina de forma tranquilizadora: a sua tese «não é compatível com uma Administração Pública desqualificada porque grande parte deste processo só tem eficácia se os interlocutores por parte do Estado forem credíveis.» ... e ... «contudo, há uma condição essencial para que esta alternativa ao neoliberalismo possa fazer o seu caminho: é indispensável que a qualidade cívica, técnica e política dos protagonistas do PS seja consistente com esta visão do Estado».
Ou seja, duas condições que inviabilizam as suas proposições. Podemos ficar tranquilos.
Publicado por Joana às 11:22 PM | Comentários (26) | TrackBack
Mitos e Ideologias 2
O Estado Estratega
As contradições nas relações dos socialistas com o capitalismo estão plasmadas em alguns chavões que têm acompanhado a campanha para a sucessão a Ferro Rodrigues, como por exemplo, «economia de mercado sim, sociedade de mercado não» e «o Estado estratega».
Na raiz do pensamento dos «Alegretes» está a tese de que o Estado não compete produzir riqueza, mas que o mercado não define estratégias nem, por si só, realiza a justiça social. Quanto à justiça social, obviamente que o Estado deve esbater as assimetrias sociais e económicas, decorrentes do funcionamento do mercado, de forma a serem compatíveis com o objectivo permanente da igualdade das oportunidades e com a equidade. Equidade na política de educação, segurança social, ordenamento do território, etc., fazendo discriminações positivas.
Quanto à afirmação que «o mercado não define estratégias», tomada na sua generalidade, resulta de uma enorme confusão sobre o que é o mercado e o que são estratégias. O mercado não é uma entidade, o mercado é o conjunto de agentes económicos, vendedores e compradores de um dado bem ou serviço. A maioria dos agentes económicos que participam nesse mercado nem sequer se conhece. Não é o mercado que toma decisões. São as relações entre vendedores e compradores que asseguram, desde que o mercado funcione em regime de concorrência, o estabelecimento de um sistema de preços e quantidades eficientes, isto é, que constituam o melhor resultado possível para o conjunto dos agentes económicos envolvidos, tendo em conta as funções de custo dos vendedores a as funções de utilidade dos compradores, e, para o conjunto da economia e dos mercados que a constituem, o óptimo para a comunidade.
Portanto, «o mercado não define estratégias», mas as empresas que funcionam numa Economia de mercado tomam decisões estratégicas: política de preços, políticas de produto (quantidades a produzir, diferenciação e segmentação dos mercados, modificações nos produtos e nas tecnologias de produção), políticas de investigação e qualificação e políticas de investimentos necessárias para suportar as anteriores políticas e promover, eventualmente, o crescimento. São estas as estratégias que condicionam ou promovem o crescimento, a prosperidade económica e o nível de emprego e não estou a ver o Estado a substituir-se às empresas afirmando-se como o «Estado estratega».
Mas quando Alegre concretiza quais as estratégias verifica-se que fala da intervenção do Estado nas políticas sociais, e lista uma série de rubricas de distribuição pecuniária (seguro social, revisão da lei de Bases da Segurança Social, de Rendimento Social de Inserção, sistema de protecções à doença e ao desemprego, estabelecimento do mínimo vital de sobrevivência, etc.), percebe-se o «Estado estratega» de Manuel Alegre é o Estado distributivo ... Alegre não se refere à produção mas à distribuição. A vocação de Manuel Alegre (e do esquerdismo) não é produzir, é distribuir.
Mas a estratégia de Manuel Alegre abrange também o nível de emprego. Nada a opor ... vejamos todavia qual a estratégia. Ora Alegre defende que a política do pleno emprego é «a forma mais eficaz de proteger as sociedades da desigualdade e da exclusão social» ... daí que se deve proteger as pessoas contra a «instabilidade dos mercados de trabalho». Alegre cai assim no vício do Parque Jurássico do sindicalismo português querendo manter à força os empregos existentes e desmotivando a criação de novos empregos ao tornar rígido e não concorrencial o mercado de trabalho.
A experiência prática mostra que os países em que o mercado de trabalho é mais concorrencial são aqueles em que se consegue atingir os níveis de pleno emprego e há mais incentivos à qualificação laboral. Essa experiência mostra igualmente que quanto maior for a rigidez e imperfeição daquele mercado maior é a percentagem de desemprego e que, em caso de expansão económica, o aumento do nível de emprego se faz de forma hesitante e mais lentamente que num mercado menos rígido. Circunstância, aliás, que funciona como travão à expansão económica.
Em Portugal, embora o mercado de trabalho seja rígido, existem escapatórias para os empregadores: recibos verdes, contratos a termo, etc.. Essa precaridade laboral coexiste com as pessoas protegidas contra a «instabilidade dos mercados de trabalho». É a existência desse importante segmento laboral com estatuto precário que tem permitido, nas duas últimas décadas até à recessão de 2002, manter um nível próximo do pleno emprego, apesar da rigidez das lei laborais. Quando as perspectivas são boas, os empresários não têm dúvidas em aumentarem a sua massa laboral em regime de trabalho precário, porque sabem que, em caso dessas perspectivas se frustrarem, poderão diminuir essa massa laboral. Ora sucede que essas decisões acabam por ter, normalmente, um efeito dinamizador na economia e muito daqueles trabalhadores precários acabam, mais tarde ou mais cedo, por passarem ao quadro.
Manuel Alegre continua pois agarrado aos mitos do passado desmentidos pela experiência do funcionamento das economias reais.
E como se paga o Estado estratega-distributivo? Com o «orçamento plurianual» responde Alegre. Mas o «orçamento plurianual» apenas permite uma maior estabilidade do horizonte orçamental e não um aumento dos réditos. Isso não perturba Alegre que explica depois ... «as receitas fiscais ...é ... um dos elementos-chave da justiça social». Portanto sangrar o contribuinte é o que promete Alegre, quer directamente, quer indirectamente através das empresas, porque o dinheiro tem que vir de algum lado: vem de quem produz a riqueza. Quem produz riqueza é a vaca à disposição do Moloch estatal para a ordenhar até à exaustão.
Para amenizar, Alegre inventa a «fiscalidade verde»: penalização, através do aumento de impostos, das indústrias poluentes, desagravando por outro lado os produtos que não prejudicam o meio ambiente. Isto é completamente disparatado e contraria a legislação portuguesa. O chamado princípio do poluidor-pagador passou a utilizador-pagador e serve de justificação pertinente às taxas ou tarifas dos R.S.U. (lixo), do saneamento, de utilização do domínio hídrico, etc.. No que se refere aos poluentes industriais só há duas situações: 1) a empresa rejeita efluentes com uma carga poluente abaixo dos valores definidos na legislação, e tem alvará para funcionar; 2) a empresa rejeita efluentes com uma carga poluente acima daqueles valores e é objecto de uma coima e pode ter que fechar as portas (se não for uma situação pontual ou acidental) até repor os valores legais. Uma empresa não pode pagar para ter o direito de poluir o ambiente. Isso contraria a legislação portuguesa, as directivas da UE e é ambientalmente condenável.
É evidente que há empresas que são useiras e vezeiras em fazerem descargas poluentes quando julgam que a fiscalização está ausente. Mas isso é uma questão do foro criminal e a sua repetição decorre do mau funcionamento da nossa administração e não é resolvido por novas leis. As leis que existem estão razoavelmente bem elaboradas, apenas a fiscalização não é suficiente.
Quando Alegre fala da «fiscalidade verde» não sabe o que diz.
Publicado por Joana às 01:07 AM | Comentários (11) | TrackBack
agosto 23, 2004
Mitos e Ideologias 1
Os textos que os apoiantes das diferentes candidaturas à liderança do PS têm publicado nos jornais combinam uma inegável qualidade literária (alguns) com uma desesperante mediocridade conceptual, técnica e teórica (todos). E quanto mais vazios de substância estão mais tentam disfarçar esse vazio com um notável aprumo literário.
O paradigma dessa produção literária é o texto de Jorge Lacão (PS, para que te quero) publicado sábado (21-08-04) no Público. Quem aprecia «les grands mots» deve-se ter deliciado com aquele parágrafo em que ele escreve: «A democracia não deve subordinar-se à pressão do Estado-espectáculo. Logo a esquerda tem dois caminhos: o de aceitar a lógica da pressão mediática da produção dos factos políticos e subordinar-se à vertigem do jogo virtual dos espelhos, onde só a imagem conta, por mais desfocada que seja da realidade; ou o de promover o retorno ao espírito republicano de governo, onde prudência, responsabilidade e credibilidade são lemas incontornáveis.». O medíocre ... é que quer este parágrafo, quer o resto do texto, não tem qualquer conteúdo operacional, não tem substância. São só palavras.
A escrita gongórica de Lacão torna-se menos hermética quando fala da possibilidade das alianças à esquerda: «O dilema é ... entre a opção daqueles que pouco ou nada aprenderam com as experiências do poder do PS e preferem sujeitá-lo, e ao país, aos riscos da deriva estratégica e da instabilidade política.».
Ora quem não aprendeu com a última experiência do poder do PS foi Lacão. Não era a 3ª via de Guterres que foi um mal em si foi a sua incompetência, incapacidade de tomar decisões, laxismo e a sua consequente submissão aos lobbies partidários e aos interesses corporativos que impedem o país de progredir. Não é a política mediática que é um mal em si. Sê-lo-á apenas na medida em que servir para disfarçar a inconsequência política. Uma mulher que se esmera em ser bela e atraente não é um mal sê-lo-á se a sua beleza e sensualidade servir para disfarçar o seu vazio de ideias e a malevolência dos seus sentimentos.
A ala Alegre e a ala Soares, quando atacam o guterrismo, fazem-no colocando-se no ponto de vista da esquerda radical. Por isso não admira que, duma forma rebuscada, Lacão justifique uma aliança com o radicalismo de esquerda.
Todavia, a vocação do esquerdismo não é produzir, é distribuir. Os empresários têm, no imaginário do esquerdismo, o papel de gangsters, sequiosos de lucro, vampirizando os trabalhadores, que protagonizam, em quaisquer circunstâncias, o papel de vítimas indefesas. São uma espécie em vias de extinção e o dever dos esquerdistas é acelerar rapidamente essa extinção. Enquanto não a extinguem, é deixar aos "maus" a responsabilidade de produzir e de gerar postos de trabalho, cuja qualidade e nível salarial constantemente se condena. Como é que Lacão compagina tal com a «prudência, responsabilidade e credibilidade» que enuncia. A menos que estas virtudes de Lacão tenham uma leitura diferente.
Baptista Martins um apoiante de João Soares escreveu em 16-08-04 que a Direita e os seus comentadores demonstram uma certa apetência por Sócrates. E conclui que «a Direita precisa deste adversário». Do ponto de vista do articulista isto constitui uma reposição da tese da esquerda ortodoxa de que se algum dos nossos é elogiado pelos que não comungam a nossa ortodoxia, então é porque ele é um traidor. Constitui também um rótulo que ele aplica a todos os analistas preocupados com a situação económica do país e que pretendem uma política de seriedade, rigor e competência para tirar o país do aperto em que se encontra. Quem se preocupa com a competitividade das empresas e com a eficiência da Administração Pública é rotulado de direita. A esquerda de Baptista Martins preocupa-se com as políticas de distribuição. Por isso aqueles analistas preferem Sócrates. Por isso aqueles analistas não querem correr o risco de uma pugna eleitoral entre o PSD e uma aliança tácita PS-esquerdistas, porque se a demagogia populista, de distribuir o que não há, vencer as eleições, será um desastre para o país.
É certo que a Sócrates pode acontecer o mesmo que a Guterres: ficar submerso pelos caciques e máfias locais do PS. Parte substancial do aparelho do PS apoia Sócrates porque este é o candidato mais bem posicionado para ganhar e há uma grande apetência pelos jobs for the boys de que o PS é muito mais sedento que o PSD porque os seus quadros não são oriundos dos quadros superiores das empresas, muito melhor remunerados e com carreiras que não desejam prejudicar, mas sim, em muito maior grau que o PSD, do próprio aparelho, do funcionalismo público e autárquico, do ensino, etc..Esse aparelho não tem qualquer ideologia ou conceitos económicos e políticos. Estão no PS como quem está no topo da militância no FC Porto, no Benfica ou no Sporting. Apenas esperam que o seu candidato ganhe para obterem o almejado lugar.
Todavia Sócrates tem (ou pelo menos tinha) uma vantagem sobre Guterres: é um homem obstinado e com mais autoridade pessoal.
Todas estas controvérsias e contradições resultam do próprio percurso do socialismo e das suas relações com o capitalismo desde os fins do século XIX até agora: começaram por defender a sua destruição e depois, gradualmente, defenderam a sua reforma. Mas essas reformas, de que os socialistas foram protagonistas importantes, acabaram por conduzir a novas realidades económicas e sociais e à progressiva globalização, que por sua vez possibilitou a emergência de novas economias (primeiro o Japão, depois o Sueste Asiático e agora a irrupção da China e da Índia). Esse alargamento do mercado mundial e do comércio internacional melhorou as condições de vida de mais de um bilião de pessoas, mas acarretou problemas para a competitividade da economia europeia e para o modelo social que fora estabelecido ao longo das «3 décadas de ouro», entre o fim da guerra e o primeiro choque petrolífero.
Os socialistas, na Europa e em Portugal, estão presentemente desarmados perante essas novas realidades que ou não compreendem, ou não querem compreender, ou compreendem, mas não as conseguem explicar ao trabalhadores.
Mas isto será matéria de um próximo texto.
Nota - ler ainda:
Mitos e Ideologias 2
http://semiramis.weblog.com.pt/arquivo/144466.html
Publicado por Joana às 04:59 PM | Comentários (5) | TrackBack
julho 20, 2004
Esquerda e Direita
A escolha principal nas actuais sociedades desenvolvidas, na esfera da política, não é entre esquerda e direita, mas entre quem gere melhor ou pior o Estado, a coisa pública, e consegue trazer para a sociedade uma maior ou menor prosperidade e bem estar.
O princípio actualmente aceite, embora muitos não tenham coragem de o anunciar publicamente, é o princípio da diferença: as desigualdades sociais e económicas devem ser organizadas de forma a trazer aos mais desfavorecidos as melhores perspectivas e serem compatíveis com o objectivo permanente da igualdade das oportunidades.
Este princípio é compatível com um aumento da desigualdade. Pouco importa, segundo este princípio, que o rico se torne muito mais rico se o pobre se tornar menos pobre. Não é a igualdade que é importante, mas sim a equidade. Equidade na política de educação, segurança social, ordenamento do território, etc., fazendo discriminações positivas.
Este princípio decorre da economia de mercado e da vontade de tornar os mercados eficientes: mercados dos produtos, mas também os mercados dos factores (capital e trabalho). Ora, por exemplo, a eficiência do mercado do trabalho só é possível com a sua liberalização e com a aceitação de derrogações à actual rigidez desse factor em Portugal.
Mas essas derrogações, se fossem totais, implicariam um grafo salarial, e nos rendimentos em geral, bastante mais amplo do que seria desejável em termos do bem estar entre os menos qualificados, ou menos aptos em concorrer no mercado laboral. Todavia o princípio da diferença tem outra face: o objectivo da equidade. A prossecução desse objectivo obriga à existência de uma política de transferências sociais que assegura não apenas equidade na educação, saúde, segurança social, como evita que o rendimento dos menos desfavorecidos seja inferior a um patamar fixado como nível mínimo de sobrevivência.
Em termos abstractos, estas derrogações levam a que os mercados sejam menos eficientes e a produtividade, medida em termos macroeconómicos, menor, devido ao aumento dos custos de produção para subsidiar aquelas transferências sociais. Todavia, em termos concretos, essas derrogações evitam a miséria e a exclusão social, aumentando o consenso e a estabilidade social. Ora uma sociedade tem que funcionar assente num consenso alargado. Sem esse consenso alargado e com instabilidade, geram-se expectativas pessimistas nos agentes económicos e a eficiência dos mercados é corroída pela instabilidade do mercado dos factores: fuga de capitais e menos bom desempenho do factor trabalho.
A solução óptima passa por maximizar a eficiência dos mercados, assegurando as prestações sociais suficientes para atingir o objectivo da equidade. Nesse óptimo, se as prestações aumentarem mais que o devido, a eficiência da economia diminui e todos perdem, mesmo que alguns fiquem, ilusoriamente, a pensar que ganharam; se as prestações forem inferiores ao limiar mínimo de sobrevivência, uma eficiência dos mercados, teoricamente superior, é contrariada e degradada pelo dissenso e instabilidade sociais.
Esta receita é independente de se ser da esquerda ou da direita, visto ser uma receita meramente técnica. Partidos socialistas, e do centro e da direita, do norte e centro da Europa têm conseguidodo aplicá-la, e com êxito razoável, até há alguns anos. O êxito da sua aplicação deveu-se mais à consciência cívica dos povos em questão, e ao rigor e ética dos respectivos políticos, que às diferenças de posicionamento nos hemiciclos parlamentares. A alternância eleitoral entre socialistas e não-socialistas não trouxe alterações significativas nos modelos económicos e sociais.
A questão complica-se em países onde a consciência social e cívica ainda é frágil. Se a administração pública é burocratizada e ineficiente, não há transferências sociais que cheguem para assegurar o objectivo da equidade. Por outro lado, a punção financeira excessiva degrada drasticamente a eficiência dos mercados, faz com que o tecido produtivo perca competitividade e não permite que esse país saia de uma situação de baixo desenvolvimento económico e de reduzido bem estar. A solução deste problema complica-se porque, para além da determinação do nível de transferências sociais, põe-se a grave questão de melhorar o desempenho do sector público.
Por isso, mais que a distinção entre esquerda e direita, a escolha é ditada pela distinção entre populismo/demagogia e rigor/sentido de Estado. Pela sua tradição ideológica e base social de apoio, a esquerda cai mais facilmente na demagogia e no populismo, que o centro ou mesmo a direita. Os governos de Guterres foram o exemplo da demagogia anestesiante que durou enquanto a crueza dos resultados não lhe puseram cobro e obrigaram Guterres a abandonar o cargo. Todavia essa demagogia não foi extirpada e o seu sucessor manteve, na oposição, uma postura de demagogia financeira e orçamental que nem os avisos do PR, durante a crise política recente, fez tergiversar.
Mas a ideia ontem expendida pelo governo centro-direita de diminuir o IRS na actual conjuntura é igualmente uma escolha populista. Apenas aumenta o rendimento disponível das famílias, com algum impacte positivo na procura interna, mas com um impacte negativo na nossa balança de transacções devido às importações induzidas. Isto para não falar no impacte a nível do défice orçamental. Já uma diminuição do IRC, se tal fosse permitido pela nossa situação orçamental, teria alguns efeitos positivos, aumentando o autofinanciamento das empresas e, portanto, quer a sua capacidade de investimento, quer a sua capacidade de diminuir o seu nível de endividamento, os seus encargos financeiros e os seus custos.
Mas a base social de apoio dos partidos de esquerda também pode facilitar políticas de rigor. As chamadas medidas impopulares, ou seja as medidas que se destinam a diminuir o peso das transferências sociais para aumentar a competitividade da economia, promover a retoma económica e, a prazo, o nível de emprego, são mais facilmente levadas a cabo por um governo com o rótulo de esquerda do que por um governo com o rótulo de direita. Um governo de esquerda tem mais facilidade em convencer os sindicatos e o seu eleitorado da necessidade dessas medidas. Além do que não encontra, normalmente, uma oposição forte da direita. As políticas dos governos socialistas do norte da Europa são exemplo típico disso. As medidas tímidas esboçadas por Pina Moura na ponta final do guterrismo poderiam sê-lo igualmente, se aquele não tivesse sido despedido pelo laxismo guterrista.
A luta que se perspectiva no interior do PS é justamente entre a ala «histórica» agarrada às concepções pseudo-sociais da política económica («pseudo» porque acabam por piorar a situação de todos, incluindo daqueles que pretendiam beneficiar) e uma visão mais moderna da política económica e social. Mas o PS está como a Convenção Nacional durante a Revolução Francesa: a luta entre duas minorias (reduzidas, mas combativas) os jacobinos e os girondinos, e uma larga maioria, o «pântano» que se pode inclinar para um lado ou para o outro, onde se encontra a maioria dos caciques e máfias locais, cujo apoio pode garantir a eleição, mas que irá cobrar mais tarde esse apoio, com juros.
Neste entendimento tenho sérias dúvidas que mesmo que Sócrates venha a triunfar, o PS tenha capacidade de conduzir uma política social e económica que ponha o país no bom caminho.
Dúvidas que também tenho relativamente ao governo actual, como certezas tive relativamente ao governo anterior. Todavia, quer num caso como no outro, pelo menos até agora, qualquer outra alternativa seria muitíssimo pior.
Publicado por Joana às 10:13 PM | Comentários (33) | TrackBack
maio 13, 2004
Abruptamente ... no passado
Um artigo publicado por Pacheco Pereira no seu blog Abrupto, e citado hoje numa notícia do Público, está a causar muitos incómodos.
Em causa não está, certamente, a similitude dos comportamentos entre a «vanguarda esclarecida e revolucionária» do MFA e os «torcionários com mentalidade fascista» do exército americano no Iraque. Não há qualquer similitude possível, se exceptuarmos os factos em si, ou seja, as sevícias, pois o contexto é completamente diferente. No caso da «vanguarda esclarecida e revolucionária» do MFA não existiu a insuportável componente racista: os torturandos não eram oriundos de um povo do 3º mundo, mas pertenciam ao próprio povo. Nestes casos o contexto é o critério fundamental. Conforme o contexto, assim as sevícias serão revoltantes ou irrelevantes.
Também não há qualquer semelhança entre os protagonistas dos dois dramas. Em Portugal, em 1975, quem praticava aqueles actos era a «vanguarda esclarecida e revolucionária» do MFA, uma vanguarda a quem a teoria política tinha então atribuído, como missão histórica, a redenção do proletariado e a construção de uma sociedade sem classes. Ora pelo postulado da superioridade moral da esquerda radical, postulado que ela própria criou e erigiu em dogma, os seus actos, por mais sanguinários que sejam, inscrevem-se na necessidade histórica de um processo que conduzirá, inexoravelmente, um passo em frente e dois para trás, aos amanhãs que cantam. Enquanto isso, no Iraque, quem pratica aqueles actos insidiosos é o imperialismo americano que não se pode reclamar daquela providência cautelar, porquanto o seu lugar, pelos mesmos postulados teóricos, é a sarjeta da história.
Aliás, o Barnabé, o blog-órgão do pensamento radical, num texto sóbrio, liminar, despojado de adjectivos e impudicamente despido de argumentos, manifestou a sua posição com a certeza tranquila de quem sabe que a teoria, por postulado, lhe dá sempre razão e que, por via disso, qualquer argumento é despiciendo. Pior, é pernicioso, pois pode lançar a suspeita iníqua e desnecessária de que a sua convicção nas certezas foi abalada, suspeita que obviamente não pode ser deixada fermentar por aí, à solta.
E no fim desta sólida in-argumentação, o Barnabé prometeu, ou melhor, condescendeu, que quando deixarem de tratar toda a gente como idiota, cá estaremos para o debate.
Mas, Barnabé, será mesmo necessária essa condição tão restritiva? O BE habituou todos os que não comungam dos seus postulados, teoremas e teses, a serem tratados como idiotas. Para o BE toda essa massa informe, viciada pelo canto de sereia da democracia representativa, não passa de um conjunto não-ordenado de néscios que não foram iluminados pela sua sabedoria doutrinal. Se a propriedade de só haver debate quando se deixar de tratar toda a (outra) gente como idiota, se tornar uma função bijectiva, como será possível estabelecer qualquer debate? Não ficarão cortados todos os canais de comunicação entre a elite intelectual do país (o BE, Barnabé und so und so ...) e a massa informe da população vitimada e intelectualmente diminuída pelo vírus da democracia representativa.
Mas quando se têm convicções alicerçadas em teorias tão sólidas, para que serve o debate? E para que servem os argumentos?
Publicado por Joana às 11:46 PM | Comentários (43) | TrackBack