dezembro 20, 2005
Refutação Absurda
O Vento Sueste, relativamente ao meu post de ontem, refuta, esta tarde, a parte referente ao papel da Convenção Nacional, produzindo abundantes citações de Daniel Guérin, cuja intervenção foi a de um publicista de causas e não a de um investigador de História. Aliás, ele nem teve formação de historiador. Limitou-se a interpretar factos, do seu tempo ou do que leu sobre outras épocas, à luz das suas opções políticas. Daniel Guérin como historiador (que nunca foi) não oferece qualquer fiabilidade e o livro que é citado foi escrito no fim da última guerra, num período de exaltação anarco-comunista, onde se tentava branquear o comportamento dos regimes totalitários de esquerda para melhor levar a água ao moinho de uma Europa a caminho do socialismo real.
Aliás, sempre que há a emergência do totalitarismo de esquerda, aparecem publicistas a branquear os principais protagonistas do Terror: Robespierre, Saint-Just e outros. Não foi por acaso que a A Luta de Classes em França na Primeira República, de Daniel Guérin, saiu em 1946, na época em que a influência do comunismo em França foi maior, e foi editada em Portugal em 1977 (Regra do Jogo), ainda no período da efervescência revolucionária.
Sobre este período, para além das seguintes obras gerais de referência:
Thiers - Histoire de la Révolution Française Bruxelas 1834- 6 vols. É uma história muito bem documentada. Foi escrita no fim da restauração e já reflecte a ascensão das ideias liberais após o período de ocaso que se seguiu ao fim da revolução. Thiers tinha cerca de 30 anos quando iniciou a sua redacção. Permanece talvez a história mais actual, mais lúcida e neutra das histórias produzidas no século XIX sobre esta matéria.
Michelet Histoire de la Révolution Française Paris 1877-9 vols. A obra de Michelet reflecte as suas convicções políticas e o seu anti-clericalismo. Está literariamente muito bem escrita, mas é muito menos factual que a de Thiers.
... recomendo as obras dos que viveram os acontecimentos:
Durand de Maillane Histoire de la Convention nationale Paris 1825. Estas memórias têm muito interesse porque Durand de Maillane fazia parte do chamado Marais, grupo numericamente dominante na Convenção, mas que vivia sob o terror dos líderes revolucionários de Paris. Durand de Maillane foi um dos interlocutores dos deputados do Marais com a facção da Montanha chefiada por Tallien / Collot dHerbois / Billaud-Varenne na resistência contra Robespierre e St.-Just nas sessões de 8 e 9 Thermidor. As memórias de Durand de Maillane permitem compreender as razões e os argumentos que para si próprios invocavam, para se justificarem, os deputados do Marais, menos progressistas que, por exemplo, os Girondinos, mas que foram votando, nos momentos decisivos, sempre do lado dos extremistas, até às sessões de 8 e 9 Thermidor. E permitem igualmente mostrar o enviesamento das leituras dos branqueadores do totalitarismo da Montanha, como Guérin. Frequentemente pensa-se que a força da Montanha correspondia à sua implantação eleitoral. Tal não é verdade. A força da Montanha resultava das instituições legislativas viverem reféns da Comuna de Paris e das secções mais extremistas de Paris. Ler Durand de Maillane e outros autores similares permite compreender os mecanismos que levaram a muitas das decisões da Assembleia Legislativa, Convenção, etc..
Mémoires de Meillan, député à la Convention nationale Paris 1823.
Apesar de deputado, Meillan teve que procurar na fuga a sua sobrevivência. Documento com interesse, mas sem o fôlego da obra de Durand de Maillane, embora escrito na mesma linha.
Billaud-Varenne - Mémoires inédits et correspondance, accompagnés de notices biographiques sur Billaud-Varenne et Collot-d'Herbois Paris 1893
Billaud-Varenne e Collot-d'Herbois foram dois membros de topo da Montanha, implicados em muitos morticínios. Collot-d'Herbois esteve implicado nas chacinas de Lyon. Todavia, juntamente com Tallien lideraram a resistência contra Robespierre que levou à queda deste. Os motivos dos 3 não seriam os mais nobres (Tallien estava principalmente interessado em salvar a sua apaixonada das garras do Tribunal Revolucionário, onde a esperava a certeza da guilhotina) mas o resultado salvou a França da continuação da ditadura sangrenta da Montanha e das suas consequências imprevisíveis. Todavia, quer Collot-d'Herbois, quer Billaud-Varenne foram posteriormente, em face da pressão da opinião pública, confrontados com as carnificinas que tinham organizado ou apoiado e condenados à deportação para a Guiana. Foi pela sua participação no Thermidor que escaparam à sorte de Carrier, o carrasco de Nantes, que foi executado.
Bertrand de Moleville_Histoire de la Révolution de France Paris 1801
1789-1791 (5 vols) 1791-1793 (5 vols) 1793-1799 (4 vols) - 14 volumes no total. Moleville foi ministro de Luís XVI durante o período revolucionário e, aquando dos acontecimentos de Agosto de 1792, escapou milagrosamente à perseguição policial que lhe foi movida, escondido várias semanas numa situação rocambolesca, numa casa em Paris, até conseguir fugir para Inglaterra. Foi o homem então mais procurado de França e os jornais de Paris deram-no várias vezes como capturado ou morto. Se tivesse sido apanhado teria tido a sorte dos restantes ministros a execução.
Mémoires de Madame Roland (Marie-Jeanne Phlipon) Écrits durant sa Captivité Paris 1864 2vols. Mme Roland foi guilhotinada no âmbito do processo dos Girondinos. O seu marido, ministro girondino, que havia conseguido fugir, suicidou-se ao saber da sua execução.
Mémoires de Barras Paris 1894 4 vols (o 1º volume é sobre a revolução e o 2º e 3º são sobre o Directório). Barras foi quem organizou a resistência militar da Convenção no 8-10 Thermidor, que liquidou as veleidades de reacção das secções populares.
Staël-Holstein, Germaine de Réflexions sur le procès de la Reine par une femme Août 1793
Staël-Holstein,Germaine Considérations sur les principaux événements de la Révolution françoise 3 vols sem data (presumivelmente 1815 ou 1816). Mme de Staël, filha de Necker, foi uma mulher notável, uma observadora atenta e objectiva do seu tempo. Escreveu muitos outros opúsculos durante o período revolucionário e napoleónico. Igualmente Olympe de Gouges escreveu dezenas de opúsculos durante o período revolucionário, alguns sobre os direitos das mulheres, até ser guilhotinada.
Alguns jornais da época merecem destaque, principalmente pela negativa :
Hébert Je suis le véritable Père Duchesne foutre 1790-94 - 6 volumes. O Père Duchesne era uma espécie de blog da época, extremamente ordinário na linguagem (como pode observar-se pelo título), publicado num in-folio dobrado formando 8 páginas. Vivia da exploração do boato e da calúnia e, escrito numa linguagem muito popular e vernacular que era do gosto de alguma populaça parisiense. A facção Robespierre achou que Hébert tinha atingido o limite do insuportável e que a sua continuidade poderia ser prejudicial politicamente. Hébert e os exagerados foram guilhotinados.
Camille-Desmoulins Le vieux Cordelier Paris 1793/94. Jornal com alguma influência nos meios revolucionários, iniciou a publicação em fins de 1793 com o intuito de tentar travar os excessos que estavam a ser cometidos. Camille-Desmoulins depois de ter sido um dos arautos da liquidação física dos aristo e dos girondinos, evoluiu no sentido de uma pacificação social. Embora inicialmente tivesse, ao que ele pensava, o apoio de Robespierre, rapidamente evoluiu para uma cisão e tornou-se crítico da política de Robespierre. O jornal acabou quando Desmoulins foi guilhotinado, no processo de Danton e dos indulgentes. O último número, o sétimo, já foi póstumo.
Há outros jornais da época, de interesse como o de Brissot Le patriote francois 1789/1793 - 6 volumes. (Brissot era um dos principais dirigentes dos Girondinos). Não conheço nenhuma edição compilada do LAmi du Peuple de Marat que será igualmente um importante documento de referência. Aliás todas as obras que citei, e as que citarei em seguida, referem-se a edições que estão à minha disposição por via familiar.
Obras gerais de interesse menor
Ternaux, Mortimer Histoire de la Terreur 1792-1794 Paris 1868 - 8 vols. Como o título indica, uma análise da revolução na sua vertente repressiva. Muito bem documentada.
Barante - Histoire de la Convention Nationale Paris 1851 - 6 vols.
Lamartine - Histoire des Girondins Paris 1881 - 6 vols (há uma ediçao portuguesa de 1854).
Georges Duval Souvenirs de la Terreur de 1788 à 1793 Paris 1841 4 vols
Georges Duval Souvenirs thermidoriens Paris 1844 2 vols (é a continuação da obra anterior)
Buchez e Roux - Histoire Parlamentaire de la Révolution Française ou Journal des Assemblées Nationales de Juin 1789 jusqu'en 1815 Paris-1834 - 40 vols (os acontecimentos de 8-10 Thermidor estão descritos nos vols 33 e 34 e o 18 de Brumário no vol 39). Portanto, os primeiros 34 volumes abarcam os anos 1789-1794! Por aqui se pode fazer ideia do acervo documental que esta obra representa. É uma obra notável pela documentação que tem todos os debates das sucessivas assembleias, autos dos principais processos do Tribunal Revolucionário, extractos de polémicas públicas, manifestos, etc. Há todavia que assinalar que os autores são favoráveis à facção de Robespierre. Isso nota-se nas introduções e notas explicativas que os autores vão apresentando ao longo da compilação e num certo enviesamento desta. É uma obra típica do espírito reinante na época da revolução de 1830. Mas a maioria da documentação está lá e é uma obra indispensável de consulta.
É também interessante a consulta de uns escritos de Vilate:
Vilate, Joachim_Causes secrètes de la révolution du 9 au 10 Thermidor
Vilate, Joachim_Continuation des causes secrètes de la révolution du 9 au 10 Thermidor
Vilate, Joachim_Les mystères de la mère de Dieu dévoilés
Estes 3 volumes foram escritos na cadeia após o 10 Thermidor. São edições de 1794. Julgo que foram reeditadas em França no bicentenário do Thermidor. Vilate era membro do júri do Tribunal Revolucionário e foi preso juntamente com Fouquier-Tinville e incluído no mesmo processo. Vilate tentava justificar-se perante a opinião pública e influenciar de fora o processo. Não o conseguiu. Todavia são obras importantes porque feitas por alguém de dentro dos mecanismos da carnificina organizada pelo Tribunal Revolucionário. Obviamente contêm muitas falsidades, tendo em vista os objectivos do autor, por isso devem ser cotejadas com outras obras sobre o assunto.
Uma situação interessante e que se repetiu diversas vezes na história foi o facto dos acusados no processo sobre as acções do Tribunal Revolucionário terem alegado que apenas cumpriam ordens, o que dá uma triste ideia da forma como era então encarada a independência do poder judicial.
Como contrapartida, o branqueamento posterior da figura de Robespierre passaria por afirmar que ele não saberia da maioria das barbaridades cometidas pelo Tribunal Revolucionário, o que é falso, em face da documentação existente, e que a conspiração de Billaud-Varenne, Tallien e Collot-d'Herbois no 8 Thermidor foi destinada a eliminar Robespierre que quereria pô-los a julgamento pelos crimes cometidos. Esta explicação é completamente perversa. Após a liquidação dos girondinos, Robespierre foi procedendo à liquidação dos seus adversários mais radicais (Hébert e os exagerados) e menos radicais (Danton e os indulgentes) e provavelmente continuaria, dentro do mesmo espírito, de forma a obter uma liderança pura, à semelhança do que aconteceu, posteriormente na URSS, com as purgas estalinistas.
É todavia provável que Billaud-Varenne, Tallien e Collot-d'Herbois estivessem na calha para serem as próximas vítimas. Certo era Thérésa Cabarrus, a futura Mme Tallien e a «Nossa Senhora do Thermidor», estar indicada para comparecer a 9 ou 10 no Tribunal Revolucionário e ser executada no dia seguinte, como era norma naquela justiça expedita. Ter-se-ia perdido a figura de proa da sociedade francesa e dos salões parisienses do post-Thermidor, a organizadora dos Bailes das Vítimas onde cada conviva ia mascarado de uma vítima do Tribunal Revolucionário.
Sobre esta época pode ler, neste blog, por exemplo:
A execução de um rei
Fouché revolucionário
Publicado por Joana às 11:22 PM | Comentários (16) | TrackBack
dezembro 02, 2005
Austerlitz
Austerlitz foi, provavelmente, o maior êxito militar de Napoleão, não apenas a batalha (que ocorreu faz hoje 200 anos), mas toda a campanha. O génio que desenvolveu nessa campanha pode ser comparado à da primeira campanha de Itália, mas foi mais sólido e mais abrangente. Napoleão tinha o Grande Exército estacionado à volta de Boulogne, preparado para invadir a Grã-Bretanha, à espera da esquadra de Villeneuve e de um dia de tranquilidade absoluta, sem tempestade, sobre a Mancha. Em meados de Agosto, Napoleão recebeu duas notícias que o fizeram mudar de planos a esquadra de Villeneuve atrasara-se e nunca chegaria em tempo útil à zona de Boulogne (aliás, seria 2 meses depois desfeita em Trafalgar) e as tropas russas avançavam para se unirem às austríacas. Pitt salvara a Inglaterra ao subsidiar, a fundo perdido, a mobilização russa e a austríaca. A Prússia e Nápoles também estavam na lista de pagamentos britânica.
Sem vacilar, como era seu hábito, Napoleão mudou imediatamente de planos se não estou em Londres dentro de 15 dias, estarei em Viena em meados de Novembro teria dito ao seu estado-maior. Em menos de 20 dias, o gigantesco exército aquartelado no campo de Boulogne passou da Mancha ao Danúbio. Os austríacos tinham concentrado um importante dispositivo militar no alto Danúbio, à volta de Ulm, no Wurtenberg, perto da fronteira com a Baviera, esperando que Napoleão entrasse pela Floresta Negra. Estava sob o comando de Mack e compreendia 80 mil homens. Todavia, Napoleão repetiu a manobra de Marengo, contornando o dispositivo austríaco muito pelo norte e inflectindo depois para o sul, colocando o grosso do seu exército entre Ulm e Viena e cortando a retirada a Mack. Todavia Mack poderia ter retirado enquanto o dispositivo francês não estava totalmente organizado. Simplesmente os serviços de informações franceses induziram Mack em erro. Fizeram chegar a Mack a notícia que tinha ocorrido um levantamento contra Napoleão em Paris e que este ia retirar as suas tropas para acorrer à capital. Como Mack pusesse dúvidas, Napoleão mandou imprimir (no próprio acampamento) um número falsificado de uma gazeta de Paris que trazia notícias da tal revolução imaginária. Mack deixou-se ficar em Ulm. Quando Mack compreendeu o erro, era tarde demais. A sua situação tornou-se desesperada e, intimado a render-se, capitulou com todo o seu armamento (20-10-1805). Apenas 15 mil homens conseguiram escapar ao cerco de Ulm. Esta capitulação foi a chave da vitória de Austerlitz praticamente sem baixas, Napoleão tinha posto fora de combate 65 mil soldados austríacos(*).
Napoleão avançou depois com grande rapidez sobre Viena, numa das mais impressionantes marchas militares da história, em pleno Inverno, com combates de premeio, e percorreu em 23 dias a distância que separava Ulm de Viena, que ocupou sem resistência. Tinha efectivamente entrado em Viena, em meados de Novembro, como previra.
Na Boémia, em Olmutz, os russos tinham-se reunido aos austríacos. Todavia, as hábeis manobras de Napoleão haviam dispersado o exército austríaco. O exército de Mack tinha sido aniquilado em Ulm; o exército do Arquiduque Carlos, talvez o mais capaz general austríaco daquela altura, composto de 90 mil homens estava retido no norte de Itália, face aos 50 mil homens de Massena. Dessa forma, as forças combinadas da Áustria e da Rússia, na Boémia, compreendiam apenas 75 mil russos e 18 mil austríacos.
A estratégia de Napoleão era agora evitar a união das forças prussianas, que poderiam mais que duplicar aqueles efectivos, convencendo os comandantes da coligação a darem-lhe batalha rapidamente. Napoleão saiu de Viena, para o norte, penetrando na Boémia. Aí pareceu mostrar debilidade e receio das forças da coligação. Enviou emissários aos imperadores russo e austríaco para os sondar sobre uma possível paz. Simultaneamente, as suas manobras de avanços e recuos criaram nos comandantes inimigos a ideia de que as forças francesas estavam fragilizadas, provavelmente extenuadas e desmuniciadas. A pedido de Napoleão, o Imperador Alexandre enviou um plenipotenciário com as condições para a paz. Napoleão burlou totalmente o plenipotenciário russo, um bom cortesão, um mau general e um péssimo negociador, dando mostras de vacilação, reflectindo pensativamente sobre as condições humilhantes propostas pelos aliados, hesitando entre aceitar ou não, mas finalmente, num acto de dignidade, de quem quer morrer com honra, dizer que não poderia aceitar as condições.
Até então Kutusov, o comandante das forças aliadas, tinha dúvidas sobre a fraqueza de Napoleão. Agora essas dúvidas tinham-se dissipado e os aliados resolveram dar batalha.
A batalha de Austerlitz, travada em 2-12-1805, ficou decidida logo nas primeiras horas. Todavia a espantosa destruição que o exército russo sofreu deveu-se a uma série de erros dos comandantes russos e à hábil estratégia de Napoleão. Uma parte importante das forças russas foi atraída a lagos gelados e colocada sob a metralha intensa da artilharia francesa que, quebrando a película de gelo, provocou o afogamento de regimentos inteiros.
Dos 80 mil homens que Napoleão empenhou na batalha, perdeu 9 mil. Todavia os aliados perderam 15 mil mortos (provavelmente mais), 25 mil prisioneiros e praticamente todo o trem militar. Muitos outros terão morrido numa fuga completamente desorganizada. Quando o enviado do Rei da Prússia chegou com a informação que a Prússia ia entrar em campanha, meteu prudentemente a carta de Frederico Guilherme III nos bolsos e felicitou efusivamente Napoleão pela vitória.
É célebre, pelo estilo grandiloquente e retórico, a proclamação de Napoleão ao exército «Soldados! Estou contente convosco ... haveis coberto as vossas águias de uma glória imortal ... regressareis a França ... e bastar-vos-á dizer: estive na batalha de Austerlitz, para que vos respondam: eis um bravo». Mês e meio antes, Nelson, em Trafalgar, tinha dito simplesmente «A Inglaterra espera que cada um de vós cumpra o seu dever». Sempre me impressionou a distância que separa estas duas mentalidades.
Na minha opinião e resumindo, a batalha de Austerlitz é apenas o culminar de um genial plano estratégico que compreendeu: 1) a fixação do exército de 90 mil homens do Arquiduque Carlos, na Itália do norte; 2) a movimentação rapidíssima das forças que penetraram pela zona do Meno, a norte, que levaram ao cerco e à inacreditável capitulação de um exército de 80 mil homens; 3) a rapidez do avanço sobre Viena e da posterior invasão da Boémia; 4) a comédia de enganos que fez com que os aliados não esperassem pelos prussianos e fossem atraídos a travar a batalha de Austerlitz nas piores condições.
A batalha de Austerlitz, em si, é apenas uma peça desse plano genial.
(*) No dia seguinte à capitulação de Ulm, a esquadra de Villeneuve que reunia navios franceses e espanhóis era aniquilada em Trafalgar, dando definitivamente o domínio dos mares à Grã-Bretanha.
Mapa das posições iniciais na batalha de Austerlitz. A escala está em toesas, pois a edição é de 1831 (Victoires, Conquêtes, Désastres, Revers et Guerres Civiles des Français ... etc., par une société de militaires, vol. 21)
Os rectângulos com faixa branca ao meio, são os regimentos franceses, os escuros são os russos e os em losango são os austríacos.

Publicado por Joana às 10:22 PM | Comentários (105) | TrackBack
outubro 24, 2005
Excessos de Pituitária
Marat era, politicamente, um facínora. Promotor dos massacres de Setembro de 1792, onde foram chacinadas mais de 1500 pessoas em Paris, e um dos principais impulsionadores da queda e execução dos Girondinos, Marat tem sido (juntamente com Robespierre e Saint-Just) o ídolo dos intelectuais totalitários que, periodicamente reescrevem a História, branqueando aqueles percursores de Estaline, Pol Pot e outros. Isto é mais que suficiente para atribuir a Marat o lugar que ele merece na História. Por isso discordo de um post de hoje do Blasfémias, na parte sobre Marat e a pituitária, por várias razões.
Marat não foi morto «numa das poucas vezes que terá tomado banho». Marat tinha uma doença de pele muito dolorosa, adquirida nos esgotos de Paris, no início da Revolução, quando andava fugido à justiça, cujo único lenitivo era estar imerso em água tépida. Escrevia sentado dentro da banheira e foi nessa situação que recebeu Carlota Corday, que o apunhalou como vingança da política sanguinária de Marat. Os contemporâneos são unânimes em considerar Marat fisicamente repelente (hediondo), mas se o seu odor corporal era inconveniente (não tenho dados sobre este assunto), não seria certamente por falta de banho, mas pela doença de pele.
Por outro lado, a questão dos deputados se sentarem à esquerda ou à direita, não tem a ver com questões de delicadeza de pituitárias. Começou com a Assembleia Constituinte (e não com a Convenção Nacional), em 1789, em que a facção que queria manter os poderes do rei se sentou à direita e a facção que queria o voto por cabeça e o rei sem direito de veto se sentou à esquerda. Os Girondinos sentaram-se à esquerda. Na Convenção Nacional, eleita 3 anos depois, os Girondinos sentaram-se à direita, no lugar oposto aos Montagnards, porque estavam em oposição irredutível à política dos radicais apoiados pelas secções populares de Paris e pela Comuna, cada vez mais extremistas, e cada vez mais distantes das aspirações da província. Foi pela chantagem permanente das secções da Comuna sobre a Convenção, periodicamente cercada pela populaça armada, que a Montanha, que disporia de cerca de 10% dos deputados, conseguiu levar avante a sua política de terror, que só acabou devido às divisões dentro da própria Montanha. Até ao Thermidor, o Centro (Marais) amplamente maioritário, votou aterrorizado tudo o que a Montanha e a Comuna de Paris exigiram.
Finalmente, a pituitária daquelas épocas não tinha os mesmos padrões de comportamento da actualidade. Estava habituada a cheiros fortes. Os banhos eram raros e a ausência de saneamento básico tornavam as povoações bastante pestilentas. Mesmo os corredores de Versalhes, nos recônditos menos iluminados, constituíam os locais predilectos onde a alta nobreza de França (de ambos os sexos) se aliviava das suas necessidades. E para além da alta nobreza, a nobreza em geral, clero e respectivos séquitos encontravam alívio naqueles extensos corredores. Por aqui se pode aquilatar a endurance daquelas pituitárias.
Marat foi mau ... muito mau ... mas exagerar só é contraproducente.
Publicado por Joana às 05:49 PM | Comentários (77) | TrackBack
setembro 29, 2005
Catástrofes e Irracionalismos
As grandes calamidades naturais, talvez pela sua dimensão desproporcionada à escala humana, agudizam as crises de irracionalismo. Buscam-se racionalizações baratas que justifiquem um fenómeno da Natureza. Buscam-se causas de índole ideológico-políticas pretensamente racionalizadas com chavões que não passam de hipóteses que continuam em debate na comunidade científica e cujo poder explicativo ou é contestado ou não lhe é dado a universalidade que pretende ter. Mas enquanto a comunidade científica prossegue as suas investigações, sempre pronta a submeter-se aos factos, sempre consciente de que mesmo a suas hipóteses mais ousadas nunca serão mais do que um patamar para as que vierem a seguir, há certezas inabaláveis entre os jornalistas de causas, os fundamentalistas do ambiente e os políticos émulos de Savonarola. A sentença de Mário Soares sobre o Katrina quem semeia ventos, colhe tempestades insere-se neste paradigma do misticismo em roupagens de racionalismo barato.
No fundo, Mário Soares não se afasta muito das teses do pregador Gabriel Malagrida que escreveu e pregava que o terramoto de 1755 era uma punição divina por Portugal ter abandonado a verdadeira religião, ou das teses de Cavaleiro de Oliveira que escreveu que o terramoto havia sido uma punição por Portugal seguir uma religião errónea e uma manifestação da cólera divina diante dos absurdos excessos da Inquisição. É um espelho da sociedade portuguesa da época um frade tonto e néscio se ter tornado o pregador predilecto da alta nobreza, e um filósofo medíocre e diplomata corrupto, completamente desprovido de ética, se ter tornado num dos expoentes do iluminismo português. Isto para não falar de Soares, antes do julgamento que a História lhe fará.
Tal como está a acontecer agora com o Katrina, o terramoto de Lisboa tornou-se o centro de acerbas disputas metafísico-ontológicas de então. Nos reinos e principados alemães (protestantes) e do norte da Europa, não havia uma réstia de dúvidas: A providência havia castigado Lisboa pela sua idolatria, por ter acumulado riquezas imensas e pecaminosas através da intolerância e da perseguição religiosa, no Reino e nos domínios do Ultramar. Lisboa era a nova Sodoma e Gomorra punida por Deus.
No caso do Katrina, os habitantes de Nova Orleães estão a expiar os malefícios do imperialismo americano, que dois anos antes havia invadido o Iraque; em 1755, os lisboetas expiaram o imperialismo político-religioso das potências católicas idólatras, porquanto em 1753 havia começado a campanha militar contra as Missões jesuítas dos Índios no Paraguai, que ainda durava e que era muito mal vista pelos iluministas da época.
Voltaire e Rousseau debateram o papel da providência divina e do fatalismo das coisas, Voltaire acentuando o fatalismo e Rousseau as causas naturais, perguntando que culpa tinha a Providência Divina se os lisboetas decidiram ao longo dos tempos construir vinte mil casas, algumas de seis ou sete andares, e arranjarem-se assim todos amontoados na margem do rio Tejo? Perguntas que muitos colocam actualmente sobre Nova Orleães, mas apenas com uma diferença: Rousseau acusou a pouca previsão dos lisboetas (naquela época o Estado ainda não era omnipresente), enquanto agora se acusam as autoridades americanas, nomeadamente aquelas que não têm nada a ver com o planeamento urbano, como as federais.
Até Kant, ainda jovem, publicou 3 folhetos sobre o tema, embora apenas preocupado em encontrar explicações naturais para o fenómeno. Era dos poucos verdadeiros racionalistas da época. As causalidades historicistas e oraculares não lhe diziam nada.
Os ingleses, mais pragmáticos e pouco dados a especulações místicas, passaram ao lado desse debate, quase sempre mesquinho. Assim que souberam do cataclismo, Governo e o Parlamento decidiram enviar imediatamente para Portugal, sem esperar por qualquer pedido de auxílio, 300 mil cruzados (moeda portuguesa), 200 mil patacas espanholas, 6 mil barris de carne, 4 mil de manteiga, 1.200 sacas de arroz, 10 mil quintais de farinha, 3.333 moios de trigo etc., e ferramentas para desentulhar as ruas (picaretas, enxadas, etc.). As únicas coisas que criticaram, e com toda a razão, foram a demora (o auxílio demorou poucos dias a reunir e a aportar a Lisboa e consumiu-se cerca de dois anos na sua distribuição, o que provocou a deterioração de muitos bens), a corrupção das autoridades e o descaminho de parte desse auxílio. Descaminho que teve uma excepção: O Marquês de Valença, cujo palácio e bens tinham ficado completamente destruídos, recusou o subsídio de 18 mil cruzados que o Secretário (o futuro Marquês de Pombal) lhe atribuíra, alegando que haveria outros mais necessitados que ele a quem ainda restavam rendas com que poderia subsistir.
Houve espectaculares avanços científicos dos últimos 250 anos. No conhecimento e nas metodologias. A ciência moderna deveria impor ao nosso intelecto a disciplina das comprovações práticas. É assim que ela avança. Todavia, na sua verbosidade mística, os jornalistas de causas e os políticos fracturantes são livres de afirmar o que quer que seja, porque não precisam de recear qualquer comprovação. Estão acima dela. As suas verdades são absolutas.
Por isso não há diferenças significativas entre os juízos sobre o Katrina e sobre o terramoto de Lisboa. Desde que apareceu o feiticeiro tribal, o pensamento místico não evoluiu qualitativamente.
Publicado por Joana às 12:05 AM | Comentários (103) | TrackBack
março 16, 2005
Os Idos de Março de 44AC 6
Política Monetária
Tenho tido a preocupação, nesta série de postas, e em anteriores, de sempre que me refiro a valores romanos, traduzi-los em termos actuais, para se ter uma ideia do valor de que estamos realmente a falar. Aproveito esta posta para fazer uma análise ainda que necessariamente superficial, do sistema monetário romano e da sua equivalência em termos actuais. César mandou cunhar o aureus de 8,186g (40 por libra romana). Quando Augusto, após a vitória sobre Marco António, regressou do Egipto trazendo um imenso tesouro saqueado daquele país, o pôs em circulação para reactivar os negócios que tinham estagnado após a instabilidade da guerra civil, estimulou-os, mas estimulou também os preços, o que provocou uma enorme inflação e uma crise financeira. Já naquela época o keynesianismo não era uma receita segura!
Os bancos e caixas económicas tiveram que fazer frente a uma corrida aos levantamentos, e foram obrigados a encerrar os balcões. As indústrias e as lojas, que vendiam a fiado, não puderam pagar aos fornecedores e tiveram também elas que fechar as portas. O pânico alastrou. A situação só se estabilizou completamente no reinado de Tibério. Augusto (-27 a +14) cunhou assim um novo aureus com 7,96g Au. No tempo de Augusto o sistema monetário romano era o seguinte:
Divisa........Equivalente a........Conteúdo metálico...Euros à cotação do Ouro
Talento...........384 Aureos........3.056,64gr Au...........36.361,10
Aureo..............25 denarios..........7,96gr Au...............94,69
Denario.............4 Sestercios........3,89gr Ag................3,79
Sestercio...........4 ases..............54,50gr Bronze..........0,95
Ase.........................................13,60gr Bronze..........0,24
Os valores em euros foram calculados de acordo com a cotação actual do ouro. A cotação da prata não colhe para o efeito, pois que o câmbio entre o ouro e a prata, que durante milénios, no mundo ocidental e no médio oriente, variou entre 12 e 13 para 1 (no tempo de Augusto era 12,2 para 1), a partir do último quartel do século XIX disparou, desvalorizando muito a prata, face ao ouro (actualmente o câmbio é de 61 para 1).
Mas não é óbvio que o ouro tivesse então um poder de compra igual ao actual. Tudo indica que a carência de metais preciosos fazia com que o ouro valesse mais então, em face dos restantes bens transaccionáveis. É bastante complexo avaliar em termos de paridade de poder de compra, pois teria que se ter uma ideia precisa do cabaz de compras de então, que desconheço, embora calcule que as despesas de alimentação pudessem constituir 70% a 80% do orçamento médio familiar e que o principal alimento fossem os cereais. Em face dos preços de alguns bens, retirados de várias fontes, nomeadamente do Édito de preços máximos de Diocleciano, de 301AD, estimei que multiplicar os valores calculados acima por 5 poderia fornecer uma avaliação mais correcta. Assim sendo, 1 sestércio de Augusto poderia equivaler a 5 actuais, mas isto é apenas um feeling, pois não fiz qualquer estudo rigoroso. Posso contudo afirmar que qualquer número entre 3 e 6 pode estar certo, mas não me parece relevante ir mais longe no rigor. O que me parece relevante é ter uma ideia aproximada dos valores de que falamos.
O Talento era obviamente uma unidade contável, de cálculo, e não uma moeda. Havia outra divisa, o Sestertium (HS), que valia mil sestércios, e que aparece frequentemente na literatura.
Aqueles cálculos são válidos para o tempo de Augusto. No tempo de Nero (54 - 68) o aureus já só continha 7,4g a 7,6g de Ouro, o que significava uma desvalorização de 5% a 7%. Essa ligeira desvalorização prosseguiu durante os Flávios e Antoninos, mas a partir de Cómodo foi a catástrofe. Só no reinado deste houve uma desvalorização de 30% provocada pela carência de reservas metálicas. A quebra de moeda de Cómodo foi a par com um Édito fixando os preços máximos. Mas como se tem verificado desde sempre, e até hoje, esse tipo de intervenção estatal na economia salda-se invariavelmente por um desastre total. Mas Cómodo, o último dos Antoninos, já não pertence à Antiguidade Clássica, pertence ao período de agonia do Império Romano que não foi mais que a antecâmara da Idade Média.
A partir daí e até Diocleciano não vale a pena fazer contas. O século que mediou entre ambos foi de completo caos na vida económica e política o que lançou o Império na anarquia fiscal e monetária. Uma moeda de prata introduzida então foi o antoninianus, equivalente a 2 denarius. Todavia depreciou-se a grande velocidade. No tempo de Sepímio Severo a moeda tinha 50% a 60% de liga e no tempo de Galiano e Cláudio II a liga passou de 90% a 95% e a 98,5%. Em 256, as moedas de prata estavam já tão adulteradas que não passavam de simples fichas de cobre cobertas por uma delgada película de metal fino. E, como os imperadores não estavam em condições de impor a sua circulação, o custo da vida subiu cerca de 1.000% entre 256 e 280.
Foi Diocleciano (285 305) que introduziu um novo aureus (5,45g) e estabilizou, momentaneamente, a moeda. Introduziu igualmente uma moeda de conta denarius communis (1/50.000 de uma libra de ouro de 327g) que se destinava, em caso de carência de metais e desvalorização, a servir de tabela de correspondência. Era uma forma engenhosa de não alterar as listas de preços oficiais com a desvalorização da moeda: mantinha a lista em denarius communis e alterava apenas o factor de conversão. Foi nesta unidade de cálculo que Diocleciano elaborou o célebre Édito de Preços Máximos de 301 (Edictum de pretiis rerum venalium), que chegou aos nossos dias e me serviu de uma das bases para avaliar a cotação do ouro face às outras mercadorias. Esse Édito foi um desastre económico completo. Os mercadores esconderam os bens e os preços subiram sem ter em conta o Édito, que foi mais tarde anulado por Constantino.
Constantino, 2 ou 3 décadas depois, mandou cunhar o solidus, que continha 4,55gr de Ouro, quase idêntico ao aureus de Diocleciano. Esta moeda teve a peculiaridade de dar o nome a uma série de moedas europeias soldo, sou francês, xelim inglês, etc.
Ler igualmente:
Os Idos de Março de 44AC 6
Os Idos de Março de 44AC 5
Os Idos de Março de 44AC 4
Os Idos de Março de 44AC 3
Os Idos de Março de 44AC 2
Os Idos de Março de 44AC 1
E como complemento sobre o mesmo período:
Orçamento de Estado para 14 AD
O Mercado de Trabalho
Publicado por Joana às 11:31 PM | Comentários (11) | TrackBack
Os Idos de Março de 44AC 5
O Triunfo da Contradição Cidade-Estado/Império
César quisera reinar sobre um império cosmopolita, e integrar Roma na tradição secular das monarquias helenísticas, mas foi assassinado. Cleópatra tentou algo de semelhante, com o apoio de Marco António, mas a prosperidade económica que as suas medidas trouxeram para o Egipto e próximo oriente, não tiveram o necessário suporte militar. Só havia uma força militar então as legiões romanas; e Marco António, longe de Roma, não tinha possibilidade de refrescar as suas legiões.
Augusto foi, em reacção contra estas ideias, o representante de uma política romana. Tendo o apoio das províncias ocidentais, forçado a transigir com o senado, procurou transformar a ditadura militar que exercia num poder legal, de acordo com as leis e os conceitos da Cidade-Estado e declarou restabelecida a república nas suas antigas instituições (27 AC). Juridicamente, a república subsistia; Augusto, a quem uma decisão legal dos comícios e do senado deu todos os poderes, era apenas, juridicamente, o seu mandatário.
É a opinião geral que com as reformas de Augusto a república deixara, na realidade, de existir. Não partilho dessa opinião. Os comícios, que constituíam outrora a base do poder, já não tinham qualquer autoridade. Os poderes do imperador foram sempre confirmados por uma lei, à sua subida ao trono; mas, votada pelos comícios curiales, e a partir de Tibério apenas pelo Senado, não passava de simples ficção à qual ninguém ligava já importância. O Senado, que até aí fora constituído por antigos magistrados eleitos, passava a simples assembleia de nobres, designados pelo imperador, que os escolhia entre os cidadãos da primeira classe do censo.
A legitimidade que o imperador pede a comícios fictícios e a um senado que ele próprio organiza, é apenas um compromisso entre a ditadura militar que se apoderou do poder pela força, e a oligarquia senatorial, a qual também pretende impor-se ao império.
Sob a república, a soberania pertencia ao povo. Sob o império, é o imperador que a detém, na sua qualidade de representante do povo, confirmado por uma oligarquia rica da qual aparece como o primeiro dos membros (princeps). O senado não representa Roma nem o império; na realidade, é apenas o guardião dos interesses da classe aristocrática. Os antigos magistrados republicanos, nomeados pelo senado sobre proposta do imperador, escapam daqui em diante à vigilância do povo, pelo qual antes eram eleitos; tornam-se mandatários do imperador e da oligarquia com a qual ele partilha o poder.
Criou-se assim um sistema aristocrático e autoritário. Doravante, a sociedade divide-se em classes hierarquizadas pelo censo e dotadas de estatutos jurídicos diferentes. No primeiro plano, os senadores que possuem um milhão de sestércios (aproximadamente 1 milhão de euros pela cotação actual do ouro); só eles tinham direito a ser nomeados governadores das províncias e generais à excepção do general em chefe. Vinham em seguida os cavaleiros; eram todos os cidadãos cujos haveres ascendiam a 400.000 sestércios; podiam obter no exército as patentes de oficiais superiores.
A reacção triunfa com Augusto. Confere a superioridade intrínseca dos romanos, raça dominadora. Para manter a sua superioridade, proíbe-lhes certos casamentos desiguais e, para lhes garantir o domínio do mundo, empreende uma política de aumento da natalidade, recusando a plena capacidade civil às mulheres que tiverem menos de três filhos, tirando aos celibatários o direito a herdar, restaurando o tribunal do pai de família e expulsando os bastardos do corpo cívico.
Augusto aproveitou as medidas tomadas por César relativas à supressão do arrendamento do imposto e ao estabelecimento dos orçamentos das províncias para as subtrair às especulações financeiras. Mas tomou o caminho dirigista no que respeita às minas. As minas representavam na antiguidade o papel que tem hoje a grande indústria. As antigas monarquias orientais tinham evitado sempre deixar sair das suas mãos as riquezas mineiras, mantendo-as monopólios do Estado. Mas Roma entregara as minas da Espanha, e em seguida as da Macedónia e da Ásia, à exploração particular, por concessão. O mercado dos metais, que estava na base da economia antiga, passara assim para as mãos dos financeiros romanos. Augusto, que não queria deixar subsistir ante o poder do imperador a força oculta dos grandes financeiros, susceptíveis de o pôr em cheque, voltou à concepção das monarquias orientais, e restabeleceu o monopólio das minas.
Ora, Roma não era um centro industrial nem uma grande cidade comercial, mas sim um centro financeiro. As reformas de Augusto fizeram com que os capitais não se sentissem atraídos por Roma, e estes, não podendo já empregar-se nas frutuosas adjudicações do Estado, nem nas sociedades arrendatárias do imposto, tornaram o caminho dos centros económicos do Oriente, e sobretudo do Egipto.
Enquanto isso, por estar fora das rotas comerciais, a economia do Ocidente permaneceu sobretudo agrícola. A sua riqueza principal continuava a ser a propriedade imobiliária, e a aristocracia senhora de terras representou aí consequentemente um papel preponderante. Os senadores, grandes proprietários de terras, sentiram-se sempre muito mais próximos dos proprietários da Gália, da Espanha e da África proconsular do que dos homens de negócios do Oriente. Assim se manifesta desde o início a dualidade económica entre o Ocidente, onde a terra domina, constituindo para a política conservadora e aristocrática, uma base estável contra a influência dos países helenizados, e o Oriente, onde o comércio é prevalecente e a grande propriedade fundiária não é dominante. Todavia, para as províncias orientais, o imperador não é o primeiro cidadão (princeps), mas sim um soberano. Exploradas, humilhadas pelos senatoriais e pelos cavaleiros romanos, estas só têm ódio à aristocracia romana. Mas o imperador trouxe a paz. Por isso mesmo, foi no Oriente que se formou espontaneamente o culto do imperador. Vêem nele um senhor, mas também um protector. E é por isso que, tal como César, Augusto é declarado «divino» pelas províncias helenísticas.
Aliás, o Imperium já existia de longa data e era compatível com o sistema republicano. Era o comando em chefe de um exército em campanha. Após o fim da campanha esse poder absoluto sobre a tropa que comandava, expirava. Na sua essência, o que a reforma de Augusto trouxe foi revestir o princeps de Imperium de forma vitalícia e ser ele o único a deter essa dignidade. A magistratura imperial não tinha por objectivo substituir a monarquia à república. No início, o Império era um expediente, uma espécie de ditadura permanente para remediar as convulsões sociais e políticas que ameaçavam a existência da República. O Imperador seria o 1º cidadão do Estado (princeps), mas os órgãos legais do Estado continuavam a subsistir (Senado, comícios). Desde o início, e até Diocleciano, partilhavam a administração das províncias: havia províncias senatoriais e províncias imperiais. A meio do século da crise (de Marco Aurélio a Diocleciano), o Senado chegou mesmo a deter o principal papel no governo do Império (no tempo de Severo Alexandre, 235AD). Só a partir de Dicleciano, o Senado foi despojado da administração das suas províncias, que passaram todas para a administração imperial. Mas a reforma monárquica de Diocleciano chegou numa época em que a decadência era total e foi acompanhada de medidas económicas boas no curto prazo (algumas) e absolutamente desastrosas no longo prazo (quase todas).
Antes de Diocleciano, ainda no século I, Vespasiano tentara instaurar um regime monárquico hereditário, mas havia falhado e o assassinato de Domiciano liquidou a questão. A dinastia dos Antoninos foi um compromisso entre uma República inviável na sua relação com as províncias, e uma Monarquia, preferida pelo Oriente, mas não hereditária (a sucessão naquela dinastia foi por adopção). Os imperadores Antoninos foram homens brilhantes, mas não resolveram a crise que se ia aprofundando, subtilmente. Quando Marco Aurélio, influenciado pelas suas ideias filosóficas, quis transformar o império numa monarquia igualitária de cuja vontade suprema o imperador fosse o intérprete, teve que optar pela concepção monárquica hereditária e, por conseguinte, nomeou herdeiro seu filho Cómodo (180 192). A luta reacendeu-se entre o Senado (e a aristocracia) e o imperador, que respondeu com o terror e acabou por ser assassinado. Estas duas tentativas falharam pelo irremediável antagonismo entre as ideias republicanas (que apenas correspondiam à reacção aristocrática romana e não tinham nada de democráticas) e a ideia monárquica, e pela manifesta incompetência e indignidade de ambos imperadores (Domiciano e Cómodo).
À federação de Estados sob uma instituição monárquica estável e hereditária ambicionada por César e Cleópatra, sucede um agregado compósito, constituído pelas colónias, Romas em miniatura, instaladas no coração dos países conquistados e províncias que são, ou expressões geográficas ou divisões artificiais, raramente antigos Estados (como o Egipto, que aliás não fora incorporado no império, constituindo, sob a soberania do imperador, uma monarquia de direito divino, uma espécie de apanágio do imperador). A verdadeira divisão orgânica do mundo mediterrânico era a cidade. O Império romano seria assim uma federação de cidades agrupadas em torno da mais poderosa entre elas: Roma.
O imperador é o elo que une as peças da máquina. O imperador não é porém um rei e o princípio da sucessão nunca se impôs. O império só tinha à sua disposição os velhos organismos republicanos inaptos para a administração de um vasto Estado. Não tinha instituições próprias. Na verdade tudo repousa na vontade de um Senhor e este, em teoria nomeado pelo Senado e pelo povo, é de facto eleito e um joguete nas mãos das legiões e dos pretorianos. Portanto, não partilho da opinião generalizada que Augusto estabeleceu a monarquia de uma forma encapotada. Augusto estabeleceu um expediente contraditório, tentando manter os conceitos governativos da cidade estado, completamente desadequados, juntamente com um centralismo autoritário necessário para governar um espaço tão vasto e diferenciado. Essa contradição nunca foi resolvida, enquanto tal foi possível e exequível.
Este vício radical ausência de instituições agrava-se a partir do fim da dinastia dos Antoninos sob a acção da regressão económica (Roma desbaratou as riquezas acumuladas desde Alexandre, e não as renovou pelo trabalho pois o seu capitalismo, ou melhor, economia monetária, foi usurário e estéril), da crise religiosa e da pressão dos bárbaros.
O Imperador, apesar do seu poder terrífico, não é de forma alguma respeitado pela população, nomeadamente no Ocidente, onde não havia o sentimento monárquico. A plebe urbana de Roma conservou, do seu passado republicano, o desrespeito, e a sua fidelidade não era fiável.
Não havia nenhuma base sólida e legal onde assentasse a designação do imperador, que justificasse o poder absoluto que tinha, de facto, mas não de direito. A designação pelo Senado, por vontade ou forçada pelas circunstâncias, embora carecesse de legitimidade legal, teria mais solidez, visto o Senado ser o primeiro órgão da república. Mas era o exército que tinha a força e impunha o seu imperador. E sempre que havia crise, cada um dos grandes exércitos (Reno, Danúbio, Oriente) tentava impor o seu chefe como imperador.
A partir da morte de Cómodo, o período designado por Baixo Império, é apenas um hiato entre o Mundo Antigo (que findou com Marco Aurélio) e a Idade Média. Não há diferenças significativas, quer a nível das estruturas económicas, quer a nível social, quer a nível da desertificação urbana, quer a nível do retrocesso comercial, quer a nível do vazio cultural, entre o Baixo Império e a Idade Média. A única, importante, e decisiva, foi a liquidação da pesada, ineficiente e odiada máquina administrativa e fiscal do Império.
Ler igualmente:
Os Idos de Março de 44AC 6
Os Idos de Março de 44AC 5
Os Idos de Março de 44AC 4
Os Idos de Março de 44AC 3
Os Idos de Março de 44AC 2
Os Idos de Março de 44AC 1
E como complemento sobre o mesmo período:
Orçamento de Estado para 14 AD
O Mercado de Trabalho
Publicado por Joana às 11:08 PM | Comentários (1) | TrackBack
Os Idos de Março de 44AC 4
Cleópatra strikes again
O assassinato de César colocava novamente o mundo em face da crise a que parecia ter escapado. Estabelecer-se-ia uma monarquia universal, baseada nas ideias do direito natural que se tinham desenvolvido no mundo helenístico, ou então um império dominado pela aristocracia romana? Em Roma, o partido republicano ressuscitava. Cícero fez com que o senado proclamasse uma amnistia geral e a abolição da ditadura. Todavia os republicanos foram frustrados pelo facto de Marco António, ao fazer o elogio fúnebre de César, ter sublevado a plebe urbana contra os seus assassinos.
Os conspiradores fugiram de Roma. Cleópatra, levando consigo Cesarião, abandonou precipitadamente Roma e passou a Alexandria. Marco António aliou-se a Octávio, jovem sobrinho de César. O partido republicano não se dera conta de que, ao repudiar a ideia monárquica, estava a defender uma fórmula ultrapassada. Ao reclamar, de acordo com o senado, o regresso às instituições republicanas, mesmo que tivesse como objectivo restaurar a liberdade em Roma, impunha a servidão a todo o império. Ora já não era possível considerar Roma independentemente deste. Aliás, o povo romano, cosmopolita e formado ao mesmo tempo por cidadãos e peregrinos, já não via na república a liberdade, mas sim o triunfo dos privilégios de classe dos senatoriais e da opressão capitalista. Desencadeou-se a guerra civil e os conspiradores foram vencidos.
Em Outubro de 43 foi concluído um acordo entre Octávio, Lépido e António, em virtude do qual passavam a constituir um triunvirato. Senhores do poder, partilharam entre si os exércitos e as províncias, empenhando-se nas proscrições contra o partido republicano, no decorrer das quais morreu Cícero. Fúlvia, a mulher de Marco António, mandou vir a cabeça do tribuno para lhe espetar alfinetes na língua, a língua que havia proferido as filípicas contra Marco António! Senadores e cavaleiros foram mortos aos milhares. Tanto o capital como o rendimento das classes aristocráticas e ricas foram sujeitos a impostos tais que melhor se diriam expropriações. Em 42, César foi declarado Deus.
Octávio instalou-se em Roma, onde o senado se inclinou perante ele. Lépido partiu para a província da África. António fixou-se em Efeso e Tarso, decidido, como cada um dos seus colegas, a conquistar o império só para si, e preparou-se para a luta decuplicando o tributo das províncias da Ásia, de modo a constituir um tesouro de guerra. Mas no Oriente só uma potência subsistia, o Egipto. E o Egipto vivia então uma notável retoma económica.
Cleópatra compreendera que, para o Egipto poder representar novamente um papel internacional, se tornava necessário acabar com o estatismo que o asfixiava. Não hesitou: suprimiu os monopólios do banco real, do azeite e do sal, e tornou o comércio novamente livre, inclusive o do numerário. Aboliu, nos domínios do Estado, os contratos perpétuos, e as terras foram postas em adjudicação pública. Estas reformas radicais, que tornavam a colocar o Egipto no topo da economia internacional, só podiam resultar com o saneamento da moeda. Cleópatra foi buscar esses recursos financeiros suprimindo a imunidade dos templos, pondo novamente sob a administração do Estado os domínios sacerdotais e restabelecendo o orçamento dos cultos. Os pesados empréstimos que Ptolomeu XIII Auleto contraíra outrora em Roma (para pagar os tributos a Roma!), inclusivamente junto de César, tinham sido tornados na sua quase totalidade a fundo perdido pelo ... próprio César.
Para tornar estas reformas sustentáveis, Cleópatra precisava de possuir um poderio militar que faltava ao Egipto. Foi simples, e o próprio Marco António forneceu a deixa. Um dos primeiro actos dele, ao chegar ao Oriente, foi enviar uma mensagem a Cleópatra, ordenando-lhe que fosse ter com ele a Tarso, para responder às acusações, que alguns lhe faziam, de ter ajudado e financiado Cássio. Cleópatra obedeceu.
No dia aprazado para a sua chegada, António preparou-se para recebê-la, sentado num trono majestoso no meio do Fórum, diante da população da cidade em polvorosa por aquele encontro histórico. Cleópatra chegou num barco de velas vermelhas, o esporão da proa dourado, e a quilha chapeada a prata. A tripulação era composta pelas suas camareiras vestidas de ninfas e por efebos, mascarados de Cupidos, que formavam um círculo em volta de um dossel de lamé, sob o qual ela estava reclinada, num diáfano traje de Vénus. Pífaros e flautas davam o necessário ambiente musical a esta superprodução que Hollywood não desdenharia. Contrariando os propósitos de Marco António, obrigou-o a ser ele a ir ter com ela. Chegou como juiz acusador e antes do fim do jantar, já estava rendido, aos pés dela. Ele e os generais passaram a noite a bordo. Havia ninfas e efebos para todos os gostos. Na manhã seguinte o Egipto era uma grande potência. Aquele jantar e aquela noite haviam custado a Roma algumas províncias orientais.
Cleópatra não era apenas uma política consumada. Loura, cheia de sensualidade, perita inigualável na ciência dos cosméticos e absolutamente destituída de pudor, no esplendor dos 27 anos, capturou numa noite o comandante de um exército romano (e triúnviro da República) e todo o seu estado maior.
Depois, levou-o para Alexandria. Cleópatra, ao contrário de António, estava perfeitamente consciente da precariedade da situação e do que era preciso fazer. Infelizmente para ela, Marco António não tinha, nem de perto, nem de longe, a sua clarividência e inteligência políticas. Cleópatra tentou fazer de Marco António e das suas legiões o suporte militar dos seus objectivos. Tentou aquilo que não conseguira com César. Simplesmente, com César teria conseguido juntar dois desígnios num único objectivo mais vasto. No fundo, os objectivos de César e de Cleópatra não eram irreconciliáveis. Com Marco António havia apenas o objectivo de Cleópatra e este era irreconciliável com os desígnios de quem então estava à frente dos destinos de Roma. Octávio teria que desaparecer.
Cleópatra incentivou Marco António à guerra com Octávio. Ele reuniu o exército e ela disponibilizou a sua frota. Ao desembarcar em Brindisi, sitiou a guarnição de Octávio. Mas os soldados de ambas as partes recusaram-se a combater, obrigando os seus generais a fazerem as pazes, que foram reforçadas com um casamento: o de António com a irmã de Octávio, Octávia. Os planos de Cleópatra goraram-se.
Todavia, Marco António não esteve muito tempo casado: mandou Octávia de volta para Roma e partiu com o seu exército contra os partos. Cleópatra foi ter com António a Antióquia, desaprovou a empresa, recusou-se a financiá-la, mas acabou por acompanhar o amante. Provavelmente não o deveria ter feito, pois teria sido a única forma de evitar que Marco António embarcasse numa expedição que foi um fiasco. Para mais, apesar de não ter tido nenhum êxito digno de menção, proclamou-se vencedor, ofereceu a si próprio um triunfo solene em Alexandria, indignando Roma, que se considerava a única depositária daquelas cerimónias e enviou uma intimação de divórcio a Octávia, rompendo assim o único vínculo que ainda o ligava a Octávio.
Para cúmulo da indignação de Roma, casou-se com Cleópatra, oferecendo como dote todo o Médio Oriente aos dois filhos que tivera com ela, e nomeou Cesarião príncipe herdeiro do Egipto e de Chipre. O Ponto, a Cilicia, a Capadócia, foram reconstituídas como reinos. Cesarião foi reconhecido ao mesmo tempo como herdeiro de César e, conjuntamente com Cleópatra, como rei do Egipto, ao qual ficava ligado a Síria, a Fenícia e Chipre.
Era o triunfo da política de Cleópatra. O Egipto retomava o seu papel hegemónico no Oriente. Desenhava-se assim no Oriente um enorme império dinástico, cujo centro deveria ser o Egipto, ao mesmo tempo que todos os países helenísticos eram percorridos por uma grande corrente de magnífico renascimento moral e cultural que neles deixaria profundos vestígios.
Todavia não é possível constituir um império baseado em forças militares exteriores a esse império. A base de recrutamento das legiões era a Itália, a Gália Cisalpina e as províncias limítrofes. O Oriente poderia fornecer tropa auxiliar, nunca o núcleo militar. Marco António não tinha lucidez política e sempre que saía fora da influência directa de Cleópatra, tomava decisões erróneas. A guerra era inevitável, mas Roma, sabiamente, não declarou guerra a Marco António. Para quê declarar guerra a uma nulidade política? Em 32, Roma declarou a guerra a Cleópatra e mais uma vez foi a supremacia naval que decidiu a vitória. Vencida em Actium (31) a esquadra de António, o império do Oriente, cujo suporte consistia apenas nas forças romanas de António, desmoronou-se. Octávio entrou como vencedor em Alexandria. António e Cleópatra suicidaram-se, e o prestigioso reino dos faraós foi incorporado no Império romano, do qual, sob o nome de Augusto, Octávio ia ser o único senhor.
Diz-se que quem não tem cão caça com gato. Foi o que Cleópatra tentou fazer. Só que aquele gato foi um fracasso.
Ler igualmente:
Os Idos de Março de 44AC 6
Os Idos de Março de 44AC 5
Os Idos de Março de 44AC 4
Os Idos de Março de 44AC 3
Os Idos de Março de 44AC 2
Os Idos de Março de 44AC 1
E como complemento sobre o mesmo período:
Orçamento de Estado para 14 AD
O Mercado de Trabalho
Publicado por Joana às 09:57 PM | Comentários (4) | TrackBack
Os Idos de Março de 44AC 2
A Economia Romana
Como explicar que o mundo romano, que manteve uma aparência de prosperidade financeira , embora com altos e baixos, desde unificação italiana, no apogeu da República, até Marco Aurélio, se arruinasse depois tão irremediavelmente? Não foi uma questão de personalidades. Depois de Marco Aurélio, Roma teve imperadores com grande capacidade e discernimento: os Severos, Aureliano, Diocleciano, Constantino, Juliano, etc., certamente melhores que a maioria dos imperadores da dinastia Júlio-Claudiana. Mas nenhum deles conseguiu opor um dique à decadência progressiva e fatal. Essa questão entronca com outras 1) teria existido em Roma uma economia capitalista? 2) Seria o Estado romano economicamente viável?
A monetarização da economia é uma das características do regime capitalista. Na Antiguidade existiram ilhotas de economia monetária: Babilónia, Fenícia, Grécia ou combinações de economia natural com áreas monetarizadas: Egipto (Império Novo) e o Império Persa dos Aqueménidas e, de uma forma mais alargada, o mundo helenístico.
Atenas era uma economia bastante monetarizada. A Ática, com menos de 3 mil km2, não conseguiria alimentar o meio milhão de habitantes que a povoavam no século de Péricles. Só subsistia com uma importante indústria alimentando um poderoso comércio de exportação de produtos industriais por troca com bens agrícolas (ou outros bens industriais). Quase metade daquela população era constituída por escravos.
A sucessiva ruína de todas aquelas ilhotas de economia pré-capitalista deve-se a vários factores. 1) Em primeiro lugar o serem ilhotas face a um mundo imenso bárbaro envolvente. A sua tecnologia mais avançada não era qualitativamente diferente de forma a assegurar-lhe uma superioridade militar decisiva e permanente sobre esse mundo; 2) em segundo lugar o facto de ter acontecido, em todos os casos, a progressiva fragilização da classe média, que fora inicialmente um dos motores da sua ascensão, mas que foi sendo eliminada pelas aristocracias dos ricos comerciantes. A existência do trabalho escravo facilitou essa fragilização e decadência; 3) a emigração, possibilitada pela abertura de vastos territórios à colonização, nomeadamente após as conquistas de Alexandre, e incentivada pelas crises políticas na cidade mãe, foi despovoando sucessivamente os grandes centros do mundo helenista, sempre que as crises sociais e financeiras os afectavam. Por todas estas razões as principais cidades gregas e helenistas passaram por períodos de ascensão, apogeu e declínio, relativamente curtos e desfasados no tempo. Atenas, Egina, Corinto, Rodes, Éfeso, Delos, etc. passaram sucessivamente por aquelas fases, com mais ou menos rapidez. Mesmo em Roma houve o progressivo despovoamento e desertificação do Latium, cuja população foi atraída quer pela vida ociosa da cidade, quer pela colonização e criação de novos municípios nas províncias.
Roma foi um caso de sucesso, apenas porque aquele ciclo foi mais longo, encontrou o caminho facilitado pela globalização das conquistas de Alexandre; dotou-se de uma técnica militar que embora não tivesse uma tecnologia qualitativamente diferente da dos seus inimigos, assentava num modelo de organização e disciplina que só modernamente voltou a conseguir-se.
Roma permaneceu em economia natural até à conquista da Magna Grécia (Itália do Sul 275 AC) ou ao começo das guerras púnicas (264 AC). A partir daí, o contacto com o exterior traduziu-se na monetarização progressiva da economia. A agricultura doméstica tinha dificuldade em concorrer com a agricultura egípcia, siciliana ou africana (África proconsular, correspondente ao norte da Tunísia actual). As crises agrárias do Lácio e do resto da península foram facilitadas pela importação maciça de escravos e pelo enorme afluxo de metais preciosos decorrente das conquistas e que ficou nas mãos da aristocracia. Esta riqueza conduziu a um capitalismo especulativo e financeiro, frágil na medida em que não assentava na produção sustentada de riqueza, mas na usura e na especulação usurária.
Em Roma havia uma indústria artesanal. Mas o capital em numerário, bastante abundante no fim da república e no início do império, não se dirigiu para a indústria, porque não encontra incentivos para tal. Roma não era uma cidade industrial. Em matéria de fábricas de grandes dimensões tinha apenas uma de papel e uma de corantes. Já desde os tempos antigos que a sua verdadeira indústria era a política, que proporcionava vias muito mais rápidas para obter lucros do que o verdadeiro trabalho. A fonte principal de riqueza dos senhores romanos eram a intriga nos corredores dos poderes e o saque das províncias. Gastavam muito dinheiro para fazer carreira. Mas, uma vez atingido qualquer cargo administrativo elevado, recuperavam tudo com grandes lucros, e investiam os ganhos na agricultura. Columela e Plínio deixaram-nos o retrato desta sociedade latifundiária e dos critérios que seguia para a exploração das fazendas agrícolas.
A pequena propriedade, que os Gracos, César, e Augusto tinham pretendido restaurar com as suas Leis Agrárias, não aguentara a concorrência com o latifúndio: uma guerra ou um ano de seca bastavam para destruí-la em proveito dos grandes domínios, que tinham possibilidades de resistir. Havia alguns grandes como reinos, escreveu Séneca, trabalhados por escravos que custavam pouco, mas que tratavam a terra sem critério nenhum, e especializados na criação de gado, que rendia mais do que lavrar os campos. Pastagens de dez ou vinte mil hectares, com dez ou vinte mil cabeças, não eram raridade.
A resistência ao capitalismo residia, em primeiro lugar, na própria economia doméstica, que estava muito implantada nos hábitos. Cada grande villa tinha os seus moinhos, os seus fornos, forjas, carpintarias, oficinas de tecelagem e vestuário. Nas villas mais ricas havia mesmo ourives, pintores, arquitectos, escultores, etc.. A grande aristocracia fornecia-se nos seus domínios, baseada no trabalho de escravos ou libertos. O capitalismo moderno implantou-se porque destruiu a economia doméstica dos domínios feudais, através da revolução tecnológica, da divisão do trabalho e do embaratecimento drástico dos produtos industriais. O atraso tecnológico da antiguidade não permitiu esse desenvolvimento. Algumas ideias, como a máquina a vapor de Hieron, não tinham quaisquer possibilidades de passarem à prática, pela inexistência de uma base técnica que o permitisse. Não passavam de trabalhos académicos, curiosidades filosóficas. Sem ruptura técnica a indústria capitalista, baseada na divisão do trabalho, na especialização das tarefas e na grande produção, não consegue competir com a indústria doméstica, nomeadamente quando o poder político está nas mãos dos que detêm os domínios onde essa indústria se desenvolve.
Mas, não havendo aperfeiçoamentos técnicos, o capitalismo não se poderia desenvolver baseado na utilização de um factor de produção a baixo preço o trabalho escravo? Houve tentativas nesse sentido, mas que não deram resultado. Em primeiro lugar um escravo tem um custo de aquisição (ou de criação, quando nasce na casa do dono) e de manutenção. Esse custo de manutenção é independente das flutuações económicas (e em altura de crise, obviamente se perde dinheiro na venda de um escravo); em segundo lugar tem uma produtividade inferior à do trabalhador livre (tem menos incentivos a aperfeiçoar-se e tem menos rapidez de execução); finalmente este tipo de trabalho indiferenciado não incentiva o aparecimento da divisão do trabalho. Portanto, o factor de produção trabalho escravo não era apetecível em termos de investimento capitalista. Em termos de rendibilidade deste factor de produção, ele não era competitivo economicamente. Essa situação foi admitida por Columella, que escreveu sobre as questões técnicas da agricultura, e considera o trabalho escravo como ineficiente, ponto de vista que é também admitido por Plinio.
As únicas indústrias orientadas segundo critérios capitalistas eram as extractivas. O proprietário do subsolo, teoricamente, era o Estado, que no entanto entregava a sua exploração, por concessão, aos particulares. Os custos de produção eram mínimos, porque o trabalho nos poços era confiado exclusivamente a escravos e a forçados, aos quais não se devia pagar nenhum salário e que não era preciso segurar contra qualquer acidente. Mas as minas foram exploradas até à sua exaustão (de acordo com as condições técnicas de então), e nos últimos séculos do Império a sua importância decaiu, nomeadamente no que se refere aos metais preciosos, base do numerário. A estatização da indústria mineira, medida tomada por Augusto numa tentativa para superar a diminuição da produção mineira e receber directamente os lucros da extracção, apenas acelerou o seu declínio.
Os escravos, bastante numerosos em Itália no período de transição entre a república e o império (constituindo cerca de 30% a 35% da sua população), eram frequentemente utilizados mais por ostentação que pela sua rendibilidade. Com o fim das conquistas deixou de haver o afluxo de escravos até então existente e os próprios mecanismos sociais baixo saldo demográfico, alforrias (muito numerosas por testamento), etc. encarregaram-se de fazer diminuir o peso dos escravos na sociedade romana. O colonato e outros regimes laborais substituíram o trabalho escravo que nos últimos dois séculos do império seria insignificante.
Um outro obstáculo foi que Roma, a capital do império, era também a capital da ociosidade. A população vivia numa semi-ociosidade. A distribuição livre de cereais pelos proletários romanos que, desde Clodio, em 58AC, se fazia gratuitamente, foi modificada por César e convertida num Rendimento Mínimo Garantido, pois foram excluídos das listas aqueles que tinham meios mínimos de subsistência. Os 320 mil romanos até então alimentados pelo Estado ficaram reduzidos a 150 mil, fazendo-se, além disso, uma revisão anual dos contemplados. Durante o seu curto governo conseguiu igualmente César estabelecer nas províncias cerca de 80 mil colonos, quer veteranos das suas legiões, quer parte da plebe assistida pela anona. Todavia após a morte de César aquele número subiu pouco a pouco, e o número dos que viviam permanentemente da anona manteve-se sempre flutuando à volta de 200 mil, apesar das distribuições diversas de terras nas províncias aos proletários romanos. Essa distribuição gratuita de víveres adquiridos no Egipto, Sicília e África proconsular tinha como contrapartida o dinheiro que Roma sacava às províncias. O comércio romano baseava-se na espoliação indirecta reembolsava as importações com os impostos com que taxava as províncias. Roma era uma cidade de pedintes.
Subvencionar e distrair a população de Roma tornou-se, depois de César, uma necessidade política. Além das distribuições gratuitas de cereais, os jogos constituíam um dos serviços públicos mais importantes do Estado. Os dias feriados passaram de 65, na época de César, para 135 no tempo de Marco Aurélio, e depois para 175 dias. A partir desta época pode dizer-se que a população de Roma passava a sua vida nos teatros, anfiteatros e no circo. O circo era o seu templo. No resto do tempo discutia-se os jogos do dia anterior ou os do dia seguinte. Este sistema manteve-se mesmo após o fim do Império do Ocidente, até que a destruição de Roma na sequência da reconquista da Itália, no tempo de Justiniano, despovoou a cidade (554). Foi para ganhar popularidade que Cómodo descia à arena (aliás, este facto e o nome do pai dele, são as únicas coisas verídicas no recente filme Gladiador). O mais grave dos jogos era o de promover a crueldade, a luxúria e a cobardia na populaça. Graças a este Estado Providência, a população vivia e divertia-se, com um trabalho muito moderado ou mesmo nulo. A plebe romana descuidada, apenas se interessava pelos seus prazeres e, depois de cristã, pelas controvérsias religiosas. As grandes ocorrências políticas passaram por esta populaça amorfa e inerte, como nuvens longínquas. Esta espantosa atonia da população, o amolecimento da sua vontade é o reverso deste sistema e está em completo contraste com o interesse pela coisa pública, ainda evidente no tempo de César, como se percebe pela reacção da plebe romana à arenga de Marco António nos funerais de César.
O comércio estava na mão de não romanos. Quando se refere a importância de italianos nas rotas comerciais do império, ou os 80 mil mercadores massacrados por ordem de Mitrídates, são quase sempre italianos do sul, que nos séculos anteriores haviam feito parte do mundo helenístico (Magna Grécia). O comércio estava nas mãos dos povos orientais sírios e judeus. A cidade mais activa no tempo do Império era Alexandria, que tinha como hinterland o Egipto, que era a província mais habitada do império (7 milhões de habitantes - 12% do império). Outra cidade com uma actividade económica importante era Antioquia da Síria. Roma seria apenas um Moloch consumidor e estéril.
A agricultura também não era apetecível como base de uma economia capitalista. A auto-suficiência dos grandes domínios e o facto de Roma ser abastecida pelo Estado não permitia a exploração dos latifúndios numa base capitalista. Os latifúndios foram os antecessores da propriedade feudal, nunca a base para um desenvolvimento capitalista. A rarefacção dos escravos e o facto dos libertos e colonos, sem outros meios que os seus braços, serem a nova base do trabalho agrícola, facilitou a sua passagem a servo de gleba a protecção do senhor em troca de ficar ligado permanentemente à terra.
Portanto Roma constituiu uma sociedade cuja classe superior era de uma enorme riqueza, obtida directa ou indirectamente através da espoliação de todo o mundo antigo. As riquezas produzidas durante séculos pelas civilizações da Antiguidade Oriental e Greco-helenística foram drenadas para Roma. Todavia a base sustentável da riqueza não é o capital-moeda ou os tesouros artísticos, mas sim o capital produtivo, investido em meios de produção. Essa base não existiu em Roma. O aparente fulgor do Alto Império (de Augusto a Marco Aurélio) escondia uma decadência progressiva e inelutável, pela inadequação da base económica e das instituições, que emergiu como uma catástrofe logo que a exaustão das minas e o deficit permanente das transacções com o exterior levassem ao colapso da economia monetária. Uma das razões da conquista da Dácia, por Trajano, foram as minas de ouro aí existentes.
Como escrevi anteriormente Plínio, século e meio depois de César, no tempo de Trajano, queixava-se das importações sumptuárias do Oriente (Índia, Pérsia, etc), sem contrapartida de exportações, que, segundo ele, ascenderiam a 100 milhões de sestércios por ano (cerca de100 milhões de , à cotação actual do ouro, ou 5 vezes mais em termos de paridade de poder de compra, segundo estimei) o que é de facto uma soma avultada (cerca de 5% da despesa pública anual ou 0,6% do PIB romano segundo estimativas que fiz então). Não é possível, durante dois séculos, manter esta sangria em numerário, sem contrapartidas de criação interna de riqueza. No caso de Roma, a dívida com o exterior levou ao esgotamento do numerário e à cunhagem de moeda de teor cada vez mais baixo (o antoninianus chegou a ter um teor de prata de menos de 2%! não passava de uma moeda de cobre e chumbo, com um revestimento de prata). A reforma monetária de Diocleciano tentou inverter a situação, mas foi sol de pouca dura, até porque foi acompanhada de uma estatização sufocante da actividade económica e da vida social que levou ao colapso do império, mais por implosão interna, que por acção dos bárbaros.
Neste entendimento, as sucessivas crises políticas que ocorreram a partir do fim do reinado de Marco Aurélio e até Diocleciano, com o seu cortejo de guerras civis, invasões bárbaras, epidemias, confiscações, etc., levaram a uma calamitosa decadência económica, com a desaparição do numerário, aniquilamento do comércio e regresso à economia natural. Roma havia atingido uma condição económica que tornava quaisquer leis impotentes e ineficazes, O Império Romano nos séculos III e IV não conseguia sustentar os seus habitantes, manter a sua administração e pagar às suas tropas. A base económica da Idade Média havia começado.
Portanto, a economia romana não foi uma economia capitalista, mas o grau de monetarização que atingiu e a grande extensão atingida pelo comércio que a globalização romana permitiu, criaram formas contratuais capitalistas. Percebe-se isso nas doutrinas desenvolvidas pelos juristas romanos sobre a regulamentação das relações económicas. Eles construíram uma ordem jurídica da propriedade privada, cujos direitos não tinham coacções extra-económicas, e levaram a liberdade contratual a um ponto que, em muitos aspectos, se mostra perfeitamente apropriada às condições do capitalismo moderno. Os traços basilares do Direito Romano reflectem a característica predominantemente individualista da estrutura económica romana. Esse individualismo sem limites considera lícito o próprio jus abutendi (Direito de abusar; isto é, direito de dispor da propriedade sem qualquer restrição), contrário, por exemplo, aos princípios éticos de Aristóteles.
Provavelmente por isso, Aristóteles foi a base do pensamento económico medieval cristão e do pecado do lucro, enquanto o Direito romano foi a base jurídica onde se ergueu o capitalismo.
Ler igualmente:
Os Idos de Março de 44AC 6
Os Idos de Março de 44AC 5
Os Idos de Março de 44AC 4
Os Idos de Março de 44AC 3
Os Idos de Março de 44AC 2
Os Idos de Março de 44AC 1
E como complemento sobre o mesmo período:
Orçamento de Estado para 14 AD
O Mercado de Trabalho
Publicado por Joana às 09:36 PM | Comentários (3) | TrackBack
Os Idos de Março de 44AC 3
Caio Júlio César
César nasceu em Roma no ano 100 AC (ou 102AC) de uma família aristocrata pobre, que fazia remontar as suas origens a Anco Márcio e a Vénus, mas que mas que nunca se ilustrara por qualquer outra coisa mais tangível. Embora de origem nobre, pertencia no entanto ao partido democrático por ser sobrinho de Mário. Foi notável a quantidade de mulheres que teve, entre esposas e amantes. Mas também o inverso ... Curião, num discurso, chamou-lhe o «marido de todas as mulheres e a mulher de todos os maridos».
Esta declaração tem a ver com César, moço de 17 anos, se ter tornado o favorito de Nicomedes, rei da Bitínia, que tinha um fraco por efebos. Segundo Suitas, no dia do seu triunfo das Gálias, os soldados cantavam: «Gallias Caesar subegit, Nicomedes Caesarem...». Cícero, a propósito da defesa que César fez de Nisa, filha de Nicomedes disse: «Passemos sobre tudo isto... Sabemos o que ele te deu e o que de ti recebeu» e sem menoscabo de Cícero, embora do partido adverso, considerar César o primeiro orador do seu tempo.
Sila, quando instaurou a ditadura, ordenou a César que se divorciasse de Cornélia, filha de Cina, alto dirigente do Partido democrático. César que, com menos de 20 anos então, já ia na 2ª mulher, recusou-se. Foi condenado à morte e o dote de Cornélia foi confiscado. Mas Sila acabou por desistir da pena capital e mandou-o para o exílio. Esta recusa teimosa de César é estranha porque o repúdio da 1ª mulher e o casamento com Cornélia foi um acto de conveniência. Seria certamente o orgulho de César a afirmar-se. Casaria sucessivamente com Pompeia (a mulher de César, acusada de ultraje ao pudor e à religião) e com Calpúrnia. E durante o seu matrimónio com Calpúrnia, casou-se no Egipto com Cleópatra!
César só regressou a Roma depois da morte de Sila, onde exerceu diversos cargos: membro do colégio dos pontífices, tribuno militar, questor, edil e era pretor quando rebentou a conspiração de Catilina, que havia sido, anteriormente, aliado de César e Crasso. Apesar de tal poder levantar suspeitas, procurou, sem êxito, salvar da morte os chefes dos conjurados entretanto aprisionados. Foi depois nomeado propretor em Espanha, onde combateu os rebeldes, e regressou a Roma com a fama de hábil cabo de guerra e de administrador competente, e também com uma grande riqueza.
Apoiado pelo exército e pelo povo, em 60 AC, Júlio César foi nomeado cônsul juntamente com Bibulo, a quem se sobrepôs de tal forma que se dizia: Vivemos sob o consulado de Júlio e César. Era costume baptizar o ano com o nome dos dois cônsules o ano 59 ficou assim conhecido como «o de Júlio e César» Enfrentando a hostilidade do Senado, fez promulgar leis importantes para uma melhor administração das províncias e para punir a concussão. Impôs que todas as discussões que se realizassem no Senado fossem registadas e publicadas diariamente. Assim nasceu o primeiro jornal, o Acta diurna, gratuito, pois era afixado nas paredes, de maneira que todos os cidadãos pudessem lê-lo e saber aquilo que faziam e diziam os seus governantes. A invenção teve um enorme alcance, porque sancionou o mais democrático de todos os direitos a transparência da informação sobre os actos governativos.
Estreitou a aliança com Crasso e Pompeu (que embora do partido aristocrático se tinha malquistado com o Senado devido à frieza com que fora recebido, depois dos seus triunfos no Oriente, e pela recusa daquele em distribuir pelos seus soldados as terras que lhes havia sido prometidas), tomando para lugar-tenente o filho do primeiro e casando a filha com o segundo. Mas o poder requeria, além do dinheiro, poder-se dispor dos exércitos. Com tal fim, os triúnviros, a coberto de um voto dos comícios, partilharam entre si o império. César ficou com o governo da Gália, Crasso com o da Síria e Pompeu com o da Espanha (59). Os triúnviros tiveram sorte diferente. César, entre 58 e 50, após uma guerra duríssima, conquista a Gália e aproveitou os enormes tributos que aí arrecadou para sustentar a fidelidade dos seus partidários. Crasso morre numa expedição contra os Partos (53) e Pompeu foi nomeado cônsul único pelo Senado para pôr fim às perturbações sociais em Roma.
O Senado, assustado com as vitórias de César, exonerou-o do comando e nomeou Pompeu para o lugar de cônsul, entregando-lhe a defesa da República (52AC). O que é que César tinha pela frente? Pompeu? Militar «colonial» de valor, mas político sem ousadia O Senado? Uma assembleia que se dava a si própria a ilusão verbal da forca. Cícero? Um advogado. César tinha as suas legiões treinadas numa guerra duríssima e habituadas a vencer, mesmo confrontadas com adversários superiores em 5 a 10 para 1.César enviou um ultimato ao Senado, intimando-lhe a demissão de Pompeu, e como não fosse atendido passou o Rubicão (49 AC), que definia a fronteira entre a Gália Cisalpina, onde o procônsul linha o direito de ter os seus soldados, e a Itália propriamente dita, para onde a lei o proibia de os levar, e marchou sobre Roma apenas com uma legião, apesar de Pompeu dispor de sessenta mil homens. Sucedeu a César o mesmo que mais tarde a Napoleão quando regressou da Ilha de Elba: à medida que ia avançando, as tropas juntavam-se-lhe. «As cidades abrem-se diante dele e saúdam-no como um deus», escrevia Cícero contristado.
Pompeu fugiu para o Epiro, mais toda a corte de aristocratas espavoridos com César. César foi a Espanha derrotar o exército sem general, e depois foi perseguir Pompeu que, batido em Farsália, fugiu e foi assassinado pelos esbirros de Ptolomeu Auleto quando ia a desembarcar no Egipto. César, que fora em sua perseguição, instalou-se em Alexandria e, a exemplo de Alexandre, fez-se reconhecer como filho de Amon. Elevado deste modo a rei legítimo do Egipto, desposou em 48 a jovem rainha Cleópatra (que havia nascido em 69AC), que nesse momento disputava o trono a seu irmão Ptolomeu. Da união do conquistador romano e da rainha do Egipto nasceu um filho, Cesarião. Esboçava-se o plano da reunião, sob a autoridade pessoal de César, dos dois únicos grandes Estados mediterrâneos que ainda subsistiam, a monarquia egípcia e a república imperial de Roma. Voltando a Itália, passa a África, onde havia partidários de Pompeu e bate-os em Tapsos. Os filhos de Pompeu, que tinham ficado em Espanha, serão posteriormente esmagados em Munda (45AC). Em cinco anos César percorreu a costa da Narbonense (Provença), a Hispânia, a Grécia, o Egipto, onde Cleópatra o conduziu até «às cataratas do Nilo», a África ... a todo o mundo romano
César voltou a Roma mas recusou-se a receber honras pelas suas vitórias na guerra civil. Os poderes de ditador, que lhe haviam sido dados em 48, foram-lhe prolongados por dez anos depois de Tapsos, e por toda a vida depois de Munda. Foi feito cônsul, censor, grande pontífice e declarado inviolável. Teve honras quase reais, estátuas, templos e altares. Depois proclamou uma amnistia e restabeleceu as estátuas de Sila e Pompeu. A sua obra governativa foi então imensa e de alcance extraordinário. Acalmou a plebe urbana distribuindo-lhe víveres e dinheiro. Depois, tratou do problema das dívidas, cujo montante se avolumara em consequência da guerra civil e das dificuldades económicas. Por meio de medidas de compromisso diminuiu os juros dos empréstimos na proporção de um quarto do capital emprestado, deu um prazo maior para os reembolsos e submeteu os julgamentos dos casos em litigância à autoridade do pretor urbano. Quando a agitação recomeça em resultado da má fé de devedores e credores, promulga várias leis fiscais: uma concede uma moratória de um ano aos locatários endividados, a outra convida os devedores insolventes em numerário a pagar em géneros com dedução dos pagamentos já feitos e fixação das avaliações na taxa anterior à guerra civil. Tenta aumentar a liquidez na economia, reduzindo a 60 mil sestércios o total das somas que cada qual podia conservar (já deveria ter lido algo sobre a Lei de Gresham ...). Faz votar uma lei para obrigar os capitalistas a investirem na própria Itália uma parte do seu dinheiro e a proporcionarem os seus empréstimos ao valor venal do seu domínio, diminuindo a especulação. Faz verificar as listas dos beneficiários da anona e reduz o seu número de 320.000 a 150.000. Diminui desta maneira as despesas anuais do Tesouro de 9 milhões de denários (36 milhões de euros à cotação actual do ouro). Reformou o calendário com o auxilio do matemático alexandrino Sosigenes. O novo calendário juliano apareceu a 1 de Janeiro de 45 AC, passando desde então o dia 1 de Janeiro a ser oficialmente o primeiro do ano (o calendário juliano manteve-se até aos nossos dias, com pequenos ajustes, e é actualmente utilizado em quase todo o mundo), reorganizou os municípios romanos, deu direito de cidade às populações fiéis da Gália, moralizou a acção de governadores e publicanos, reduziu o Senado a um corpo puramente consultivo, depois de lhe ter elevado o número de membros de seiscentos para novecentos, com a admissão de novos elementos, uma parte dos quais escolhidos entre a burguesia de Roma, outra parte entre a da província e outra entre os seus velhos oficiais celtas, muitos dos quais eram filhos de escravos, deu trabalho aos pobres e reconstituiu (ou deu início à reconstituição) as classes média e rural, restringiu a liberdade do divórcio e protegeu as famílias numerosas.
As reformas que César realizou em tão pouco tempo foram bem sucedidas em virtude do seu realismo e do seu oportunismo, e teve tudo o que faltou aos seus antecessores: os exércitos que faltaram aos Gracos, a calma que faltara a Cipião, a diplomacia que faltara a Mário, a clemência que faltara a Sila, a decisão que faltara a Pompeio. Tendo começado a sua carreira no partido democrático, este patrício soube conquistar o povo; apoiando-se sobre os nobres, soube restringir os seus privilégios; não tinha programa organizado, pelo menos na aparência, e fez reformas.
Em fins de 45 decidiu uma expedição contra os partos, a iniciar-se na primavera de 44, e cuja duração fora calculada em três anos. O regresso vitorioso de César da guerra contra os partos era evidente que havia de fundar e consolidar o regime monárquico. Uma eventual conquista da Mesopotâmia e da antiga Média abriria a Roma as rotas de seda, facilitaria o comércio com a Índia e tornaria Alexandria, já então a cidade mais industriosa do mundo mediterrâneo, como o centro económico do mundo antigo e do Estado Romano. César, regressado a Roma, continuava a coabitar com a sua esposa romana, Calpúrnia, embora Cleópatra, a esposa egípcia, que César mandara entretanto vir do Egipto, estivesse igualmente instalada na cidade, numa villa de César, com o seu herdeiro, Cesarião (o Cesarinho).
Tornava-se evidente que César pretendia reformar as velhas estruturas da Cidade-Estado, administrando contra-natura um império, transformando-as numa monarquia constituída por uma federação de Estados e províncias, assente na força e tradição militares de Roma e das regiões mais romanizadas Itália, Gália Cisalpina e nos centros comerciais e industriais do Oriente Alexandria e Antioquia. E Cleópatra, uma mulher dotada de uma grande capacidade política e de atributos físicos que soube usar com mestria insuperável ao serviço dos seus projectos políticos, era uma peça indispensável nesse projecto.
O Oriente inteiro estava preparado para aceitar a criação de uma dinastia juliana (César pertencia à gens Julia). Mas faltava convencer os Romanos. Mandara erigir a si próprio um santuário sob o nome de Júpiter Julius, e erguer estátuas suas nos templos, ao mesmo tempo que dedicava a Cleópatra, rainha e deusa, um templo de Vénus Genitrix (Vénus Genitrix é Vénus considerada como deusa mãe). Espalhando ele próprio a lenda da sua origem divina, instituiu um clero especial para celebrar o culto de «César deus vivo».
Não é possível saber em que medida Cleópatra influenciou César nos seus projectos. Haviam feito um cruzeiro de 2 meses pelo Nilo e, segundo Suetónio, teriam ido até à Etiópia se as legiões que acompanhavam César tivessem estado de acordo. Certamente que o tempo não foi unicamente ocupado na concepção de Cesarião. Projectos terão sido discutidos e traçados. Cleópatra era odiada pela aristocracia romana que via nela a base do projecto monárquico de César, do projecto oriental de ambos, do fim de Roma como o Moloch que sugava a seiva vital das províncias, transformada numa Roma apenas primus inter pares, apenas a metrópole política de um Império.
As preocupações de César acerca de criar uma base económica sustentável para Roma mostra que, para ele, Roma deveria manter-se a capital e fazer jus a essa situação pela sua própria actividade e não apenas pelo saque das províncias. O ocidente, mais romanizado, era indispensável como base demográfica para recrutamento das legiões e as reformas de César no sentido da reconstituição de uma classe média e do saneamento económico, mostram que a prosperidade de Roma era uma peça essencial no seu plano. Se sonhou reconstituir o império de Alexandre, não foi para o dar ao Oriente, às suas pompas, aos seus títulos, nem a uma das suas cidades uma proeminência sobre Roma, capital da Itália, do Ocidente e dos seus triunfos pessoais. Romano é, Romano fica. Unicamente.
Estes planos estavam muito para além do republicanismo aristocrático e estreito dos romanos aferrados à ideia de Roma, Cidade-Estado, dominadora das províncias. Na primavera de 44, os diversos elementos descontentes tramaram uma conspiração contra a vida de César. Entre os conjurados, em numero de sessenta, contavam-se Decimo Bruto e Caio Trebonio, antigos partidários de César, mas o principal era Cassio, que, depois da morte de Crasso, salvara a Síria e, após a batalha de Farsalia, fora perdoado por César e se aliara a este. Outro conjurado era Marco Junio Bruto, pretor da cidade, filho dum outro Bruto e de Servília, irmã do severo Catão e amante durante muitos anos de César. Há autores que encaram mesmo a possibilidade de Bruto ser filho natural de César, o que não parece provável pela diferença de idades. Bruto era um doutrinário, orgulhoso e sombrio, que César amnistiara em Farsália, e nomeara em 46 para o governo da Cisalpina e para a pretura urbana algumas semanas antes, no primeiro de Janeiro de 44. Mais ainda do que o ideal republicano (que ele não separava do direito que os senatoriais teriam de explorar o mundo em seu próprio proveito), Bruto representava a oligarquia romana. Não fora ele próprio quem arruinara a cidade de Salamina de Chipre, com os seus empréstimos usurários? Não fora ele (e os seus agentes) um voraz usurário na Capadócia, depredando essa província? Normalmente quem teoriza sobre virtudes, não está muito seguro de as praticar.
Nas Lupercais de 15 de Fevereiro de 44, César, no fausto da cerimónia, revestido da púrpura ditatorial, sentado numa cadeira de ouro, em face da multidão entusiasmada, afasta por três vezes o diadema que lhe querem pôr sobre a cabeça. Mas não foi convincente. Sente que a sorte está lançada: Roma vigia-o na pessoa dos partidários de Pompeu, indultados e ingratos, na dos cesaristas que César assusta, na dos pacifistas que a guerra apavora, na dos patriotas que receiam a influência de um orientalismo invasor.
Um mês depois, o plano dos conspiradores foi coroado pelo êxito mais completo; os conjurados escolheram a ultima sessão do senado, a que César devia assistir, antes de partir para a Ásia, a 15 de março de 44, para com segurança poderem ferir a sua vitima. Efectivamente, nesse dia, numa sala do teatro de Pompeu, conseguiram envolvê-lo e apunhalá-lo. Crivado com vinte e três golpes, César caiu sem vida ao pé da estátua do seu antigo rival que, sina do destino, fora ele próprio que ordenara que a restabelecessem ali.
Ler igualmente:
Os Idos de Março de 44AC 6
Os Idos de Março de 44AC 5
Os Idos de Março de 44AC 4
Os Idos de Março de 44AC 3
Os Idos de Março de 44AC 2
Os Idos de Março de 44AC 1
E como complemento sobre o mesmo período:
Orçamento de Estado para 14 AD
O Mercado de Trabalho
Publicado por Joana às 09:22 PM | Comentários (2) | TrackBack
Os Idos de Março de 44AC 1
Antecedentes Políticos e Sociais
Há episódios da História do Mundo onde os destinos do mundo se jogaram de forma dramática. Nunca saberemos qual teria sido a evolução se eles não se tivessem dado. Tudo o que podemos calcular é que teriam sido seguramente diferentes. A derrota dos persas às mãos dos atenienses; a morte prematura de Alexandre Magno; o assassinato de César nos idos (15) de Março de 44 AC, são exemplos. Nunca saberemos como teria evoluído o mundo romano se César tivesse levado a cabo as reformas que havia encetado e que, tudo o indica, estavam nas suas intenções.
O Estado romano não era, de raiz, um verdadeiro Estado territorial. As suas instituições e as suas magistraturas estavam adaptadas ao governo da Cidade Antiga e não de um grande Império. Os seus órgãos governativos tinham funcionado exemplarmente enquanto Roma se circunscreveu à cidade ou ao Latium. Foi a essas instituições, ao sentido do serviço público, às virtudes cívicas e à coesão social que elas desenvolveram que Roma deveu a sua expansão e a sua invencibilidade. A vitória de Roma sobre Cartago não é exemplo de um facto fortuito, pois Roma nunca poderia ter perdido aquela guerra. Basta ver como tanta coisa lhe correu mal nas duas primeiras guerras, os revezes da fortuna que teve, o ter tido pela frente um dos maiores cabos de guerra de todos os tempos, e como conseguiu sempre ultrapassar essas contrariedades e vencer. A sua obstinação e persistência eram uma das facetas mais poderosas das virtudes públicas e patrióticas resultantes do exercício das suas instituições.
Todavia, assim que ultrapassou o estádio da conquista e da exploração hipócrita ou brutal dos vencidos, Roma não soube verdadeiramente que atitude tomar face às suas conquistas. Era essa a contradição em que a República Romana vivia no século I AC. A cidade era um molde demasiado estreito para aí refundir o mundo. A partir do fim da 2ª guerra púnica, os governadores e os publicanos submeteram as províncias e inclusivamente os países «protegidos» a uma exploração desenfreada. Fazendo frutificar no próprio lugar os imensos rendimentos que tiravam da arrematação dos impostos, as sociedades de publicanos não tardaram a monopolizar a actividade creditícia em todas as províncias. As cidades gregas, arruinadas pelas requisições, não tiveram outra alternativa, para fazer face aos seus encargos, senão recorrer aos empréstimos dos banqueiros romanos, ficando assim à sua mercê. Governadores e publicanos operavam aliás com toda a liberdade; com efeito, os seus abusos não podiam deixar de ficar impunes, apesar de uma lei que, em 149, criara, para os julgar, uma comissão de senadores, pois que estes eram ao mesmo tempo juízes e réus.
A tutela da finança romana alargou-se ao decrépito Reino dos Selêucidas, na altura reduzido a pouco mais que a actual Síria, que para pagar a Roma o tributo anual, se viu obrigado a contrair empréstimos aos próprios banqueiros romanos e ao Egipto dos Ptolomeus, que vieram igualmente procurar em Roma uma ruinosa protecção.
Estas exacções provocaram diversas revoltas. As classes populares de Corinto, o principal centro industrial da Grécia de então, tomou o poder na cidade e na Liga Aqueia, até então dominada pelo partido dos grandes proprietários, e arrastou-a para a revolta contra a tutela romana e para o caminho das reformas radicais: abolição das dívidas, libertação dos escravos, lançamento de impostos maciços sobre as classes ricas. Roma interveio. Os seus exércitos esmagaram as forças aqueias, e o senado, para aterrorizar os revolucionários, ordenou que se arrasasse Corinto (146AC), significativamente o mesmo ano em que Cartago era tomada e arrasada.
A situação social na cidade eterna era periclitante. Até então Roma fora governada pela nobreza apoiada pelos cavaleiros. Ambos eram contra as distribuições de terras que a plebe rural reclamava. A classe média havia sido destruída durante as convulsões financeiras decorrentes das conquistas. O afluxo de metais preciosos e de escravos a bom preço havia arruinado a pequena propriedade, a base social de Roma e da sua grandeza. Recusando-se a fazer os sacrifícios indispensáveis para a reconstituição de uma classe média de pequenos proprietários, a nobreza achara melhor garantir-se os votos do partido popular nos comícios, constituindo uma clientela comprada pelas esmolas e pela corrupção eleitoral. Mas as reformas provinciais que tinham em vista limitar os lucros ilícitos dos publicanos levantaram a alta finança contra o senado. A coligação dos poderosos desfez-se, e os cavaleiros voltaram-se para o proletariado, para graças a ele obterem a maioria nos comícios. Para conservar a liberdade de explorar as províncias, os financeiros davam à plebe, como moeda de troca, as grandes propriedades da nobreza.
Esta aliança «da esquerda» não era consequente, porque havia clivagens nela. Não se pode ser «democrata» intra-muros e agiota e gatuno fora de muros. A revolta de escravos que estalou na Sicília em 135, e que só pôde ser dominada ao fim de três anos de luta, e, na mesma altura, a revolta de Aristónico, filho bastardo de Átalo III, Rei de Pérgamo (que havia legado, por morte, os seus Estados a Roma), que, para tentar conquistar o poder em Pérgamo e na Ásia Menor, chamou às armas o povo e os escravos, e punha em prática as reformas sociais preconizadas em toda a Grécia pelo partido revolucionário, abolindo as dívidas, libertando os escravos e concedendo o direito de cidade tanto a estrangeiros como aos libertos, incitou os extremistas do partido popular em Roma que chegou a preconizar a constituição de uma frente revolucionária, em que participariam o proletariado e os escravos. Era óbvio que a classe equestre nunca aceitaria semelhante política. O extremismo do partido popular retirou-lhe a base social de apoio e facilitou que se gorassem as tentativas de reformas de Tibério e Caio Graco e que estes fossem impunemente assassinados.
Esta aliança acabou por ocorrer, cerca de duas décadas depois, em 108AC, e por razões paradoxais. A classe financeira era partidária da guerra contra Jugurta, rei da Numídia, para vingar a morte de alguns mercadores romanos (e de passagem, adquirir mais uma província). O senado queria a paz. Mas a classe equestre convenceu a plebe que a vitória das armas romanas poderia proporcionar a distribuição de terras em África, e a guerra foi levada por diante.
Foi a coligação da finança com o partido democrático que fez perder ao senado, pouco entusiasmado com a guerra, a sua posição dominante nos comícios e levaram à ascensão de Mário ao consulado e ao comando militar. Coube a Mário, paradoxalmente o chefe do partido democrático, a criação de um exército profissional. Doravante, as legiões não seriam já a nação em pé de guerra, mas um exército profissional, ávido de saque e a soldo dos seus generais. Ou seja a aliança «da esquerda» chefiada por um líder do partido democrático teve como objecto a guerra, conduziu à profissionalização do exército e criou em Roma o hábito sanguinário, até então inexistente, de cada facção, logo que chegada ao poder, massacrar os adeptos da facção oposta.
Para vencer a oposição senatorial, Mário, depois de campanhas militares vitoriosas contra os Númidas, os Címbrios e os Teutões, e sendo nomeado cônsul pela sexta vez, fez com que os comícios, para constrangerem o Senado a ceder, votassem uma lei De majestate, que permitia dar-se a morte a todos os cidadãos culpados de crime contra a majestade do povo romano. Era entregar a Mário e ao partido democrático, de quem era o ídolo, a vida e os bens de todos os cidadãos. Seguiram-se horríveis carnificinas. Desencadeou-se a guerra civil entre o senado e o partido democrático, guerra que degenerou numa revolução dos proletários romanos. Aterrorizados, os cavaleiros aproximaram-se da nobreza. A revolta foi abafada, e à coligação dos partidos da esquerda sucedeu um governo da direita. Todavia a semente da guerra civil e da apetência pelos massacres dos opositores ficou latente na sociedade romana.
A guerra contra Mitrídates, para a qual Roma havia sido empurrada pelas provocações montadas pelos publicanos contra o Rei do Ponto, criou mais uma crise social gravíssima. Mitrídates, com grande habilidade política, chamou às armas os democratas de todos os países gregos e apelou ao massacre dos Italianos residentes na zona. A população grega e asiática, farta das exacções romanas, respondeu ao seu apelo massacrando 80.000 Italianos (88AC). Mitrídates instalou o seu quartel general em Atenas que, como toda a Grécia, o recebeu de braços abertos. A guerra que Mitrídates conduzia tomou o aspecto de cruzada democrática, libertando os escravos, abolindo as dívidas e dando o direito de cidade aos metecos e aos estrangeiros.
A revolta dos países da Grécia e da Ásia Menor, onde a finança romana investira tanto, provocou em Roma uma crise financeira, dentro em breve seguida por uma crise fiscal. Além disso, a perturbação que os piratas, aliados de Mitrídates, causavam à navegação, e a guerra na Itália, sublevada em virtude de não lhe haver sido concedido o direito de cidade, como tantas vezes fora prometido, provocaram a escassez e a fome em Roma com os consequentes movimentos populares. Para conseguir recursos, o senado secularizou os bens dos templos e desvalorizou a moeda em 50% do seu valor. Mas o resultado desta medida foi o pânico na bolsa que tornou ainda mais precária a situação financeira. A braços com as mais graves dificuldades, devidas ao ódio que suscitara por todos os lados, Roma mandou Mário contra os Italianos revoltados, e Sila, chefe do partido aristocrático, contra Mitrídates. Os Italianos foram vencidos, embora Roma lhes tivesse de seguida concedido a cidadania romana.
Mário, regressado vitorioso da sua campanha, pôs-se novamente à frente do partido democrático e entrou com o seu exército em Roma, onde organizou as proscrições e o massacre dos aristocratas. A sua morte (86AC) evitou o prolongamento desse massacre. Entretanto, Sila, vencedor de Mitrídates, impunha aos Estados deste o enorme tributo de guerra de 20.000 talentos (cerca de 750 milhões de euros à cotação do ouro, ou 5 a 6 vezes mais em termos de paridade de poder de compra). Senhor destes recursos, Sila regressou a Roma, apoderou-se do poder e reeditou as proscrições de Mário em escala porventura maior. Um jovem proscrito teve a vida poupada mercê da coragem então demonstrada (82AC), que Sila soube apreciar: Júlio César.
Sila estabilizou provisoriamente a situação, mas após a sua renúncia (79AC) sucedeu a revolta dos escravos de Spartacus (75-71), a tentativa de desforra de Mitrídates, apoiado na Grécia pelo partido revolucionário, e no mar pelos piratas. A anarquia regressou. Roma, bloqueada pelos piratas, passava fome e a gravidade da situação social fazia com que os capitais emigrassem. O partido da finança entrou novamente numa coligação com o partido democrático. O senado, cujo poder Sila havia restaurado, foi novamente vencido. E os comícios levavam ao consulado aqueles que, pela demagogia, conseguiam obter o favor das massas. Crasso, o mais típico representante da finança das negociatas, e Pompeu, que fazia a sua entrada na política, foram eleitos cônsules em 70.
Em 67, os cavaleiros conseguiram decidir os comícios a confiar a Pompeu o comando supremo do Mediterrâneo. A unidade de comando deu imediatamente os seus frutos. Pompeu bateu Mitrídates definitivamente, liquidou com o reino selêucida e fez dele a província da Síria (64), e destruiu as frotas dos piratas. Ao mesmo tempo, Cícero, cônsul em 63, decretando em Roma o embargo ao ouro, detinha o êxodo dos capitais provocado pelo temor da revolução social. Graças às suas vitórias e conquistas, Pompeu elevara os rendimentos da república de 8.000 para 14.000 talentos.
Roma parecia momentaneamente salva. Mas os tributos exigidos às províncias dominadas eram de tal modo pesados que estas só podiam pagá-los pedindo empréstimos, a juro muito elevado, aos próprios banqueiros romanos. Graças a este subterfúgio, as prestações puderam ser pagas durante alguns anos, mas não tardaria a resultar daí uma formidável quebra financeira, que iria contribuir para lançar a república numa crise que lhe seria fatal.
Roma tinha chegado a uma encruzilhada. As instituições da Cidade Antiga eram completamente inadequadas à governação de um Estado territorialmente extenso. E Roma, a cidade, uma democracia mais alargada que a maioria das democracias europeias do século XIX. Os seus principais magistrados cônsules, pretores e censores eram eleitos pelos comícios centuriais que incluíam todos os cidadãos. Era uma democracia censitária na medida em que o voto era por centúrias (havia 193) distribuídas por 5 classes, de acordo com a riqueza, e as classes mais ricas ou aristocratas tinham mais centúrias (os não possidentes estavam todos numa única centúria). Era uma espécie de votação ponderada pela riqueza.
Não era possível continuar como até então, com um governo democrático intra-muros e saqueando as conquistas fora de portas. Nem era possível manter permanentemente as conquistas a serem conquistadas, nem era possível conciliar intra-muros a democracia com o saque exterior. A perversão das espoliações e exacções nas províncias perverteria, como perverteu, o funcionamento da democracia intra-muros, tornando-a numa caricatura. Algo teria que mudar, nem que fosse para que continuasse tudo na mesma. Foi aliás esta a hipótese que acabou por vingar com a ascensão ao poder de Augusto. A reforma de Augusto permitiu um fôlego de 2 séculos, até ao reinado de Marco Aurélio.
O assassínio de César impediu que se soubesse o que poderia ter acontecido se a mudança tivesse constituído uma ruptura com as instituições anteriores.
Ler igualmente:
Os Idos de Março de 44AC 6
Os Idos de Março de 44AC 5
Os Idos de Março de 44AC 4
Os Idos de Março de 44AC 3
Os Idos de Março de 44AC 2
E como complemento sobre o mesmo período:
Orçamento de Estado para 14 AD
O Mercado de Trabalho
Publicado por Joana às 08:05 PM | Comentários (33) | TrackBack
março 03, 2005
Orçamento de Estado para 14 AD
Apresento seguidamente um exercício, com os mesmos pressupostos do exercício do post anterior, relativamente ao Orçamento do Estado Romano, genérico, durante o primeiro quartel do século I. Faço depois um exercício arriscado, relativamente ao cálculo do PIB do Império Romano (no conceito p.p.p. purchase power parity, obviamente), e algumas comparações interessantes com o Estado português.
Estas receitas e despesas não incluem os valores relativos aos diferentes municípios das províncias que tinham algumas despesas administrativas e recebiam taxas para as solver. Provavelmente esses valores em falta não excederiam 20% do OE Romano, visto que as despesas militares (a fatia maior) e a administração provincial faziam parte do OE.
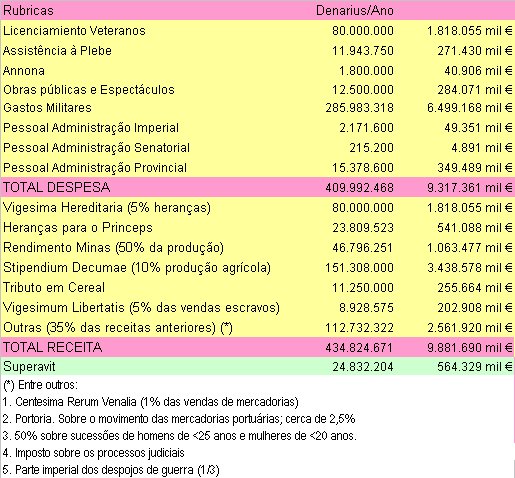
Estes valores são consistentes com o superavit financeiro encontrado no erário público à morte de Tibério (14-37AD), de 2.700 milhões de sestércios (13.500.000 mil ), que era 24 vezes superior àquele valor anual (Tibério havia reinado 23 anos). Portanto este OE Romano poderia considerar-se um orçamento anual típico daqueles anos.
O PIB que calculei a partir daqueles valores baseou-se nos pressupostos indicados no quadro. Considerei que as actividades não agrícolas correspondiam a 40% dos valores anteriores e adicionei mais 40% sobre o total obtido, para ter em conta as actividades que não eram taxadas (aliados, etc.) e a subestimação da produção agrícola e mineira. Mesmo assim o PIB deve estar algo subavaliado
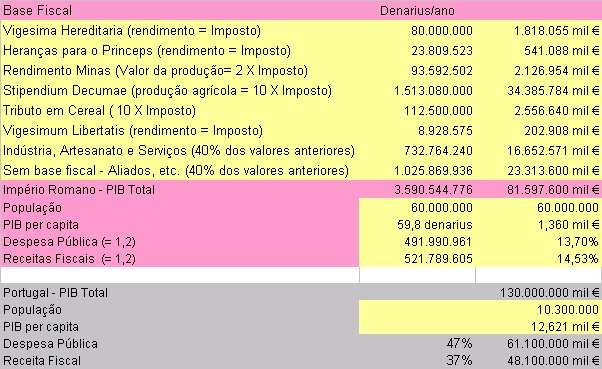
Plínio, quase um século depois, no tempo de Trajano, queixava-se das importações sumptuárias do Oriente (Índia, Pérsia, etc), sem contrapartida de exportações, que, segundo ele, ascenderiam a 100.000.000 sestércios por ano (500.000 mil ) o que é de facto uma soma avultada (cerca de 5% da despesa pública ou 0,6% do PIB).
Para comparar a fiscalidade e a despesa pública com o PIB, multipliquei aquelas por 1,2 para ter em conta despesas e receitas da administração própria dos municípios da província.
Não vale a pena fazer grandes reflexões. Todos falam do peso do Estado Romano que asfixiava a sociedade. É certo que, durante Tibério, as coisas funcionavam razoavelmente bem do ponto de vista administrativo. Mas comparando com o Estado português verifica-se que, este sim, asfixia a sociedade. É certo que o Estado português tem despesas sociais (o Estado romano também tinha algumas, como se pode ver), mas as nossas despesas não sociais representam 23% do PIB. E isso é asfixiante.
Publicado por Joana às 07:37 PM | Comentários (36) | TrackBack
março 02, 2005
O Mercado de Trabalho
... Há 2 mil anos ... em Roma
Aproveitando o silêncio socrático, vou-me debruçar hoje sobre a formação de preços no mercado de trabalho, no início do Império Romano. Há algumas curiosidades deveras interessantes.
Em primeiro lugar, é um erro supor que a economia romana se baseava fundamentalmente no trabalho escravo. Erro aliás que foi alimentado por uma leitura muito superficial de Marx. Numa população estimada de 60 milhões de habitantes (durante a dinastia Júlia-Claudiana, até à morte de Nero), ou talvez um pouco mais, 70 ou 80 milhões de habitantes, durante os Flávios (o apogeu do Império), os escravos não representariam mais de um sexto da população, embora na Itália (que só incluía a península) e na cidade de Roma representassem cerca de 30%.
Ora os Estados do sul dos EUA tinham, anteriormente à guerra civil, percentagens de escravos, relativamente à população total, superiores a 40% (Alabama, Luisiana e Geórgia) e mesmo 50% (Mississipi e Carolina do Sul), ou cerca de 40%, como na Virgínia e Carolina do Norte. Florida e Texas também tinham valores semelhantes, mas eram então muito pouco povoados. Todavia ninguém afirma que nos estados confederados o modo de produção era esclavagista. A diferença, profunda aliás, está em que a sociedade sulista livre tinha, toda ela, direitos iguais, ou seja, vivia em democracia, enquanto a sociedade romana estava muito estratificada.
Os cidadãos, cujo 1º censo, no tempo de Augusto, deu cerca de 4,5 milhões (só incluía os cidadãos capazes de pegar em armas) o que significaria cerca de 18 milhões de pessoas, e o último, no tempo de Vespasiano, 70 anos depois, deu cerca de 7 milhões (provavelmente 28 a 30 milhões de pessoas), aumento parcialmente devido à extensão da cidadania a alguns aliados, dividiam-se em diversas classes. Essas classes não derivavam de castas, mas da riqueza imobiliária, embora essa fortuna estivesse em paralelo com a nobreza da linhagem. Sem entrar na complicada divisão pelas centúrias, pode dizer-se, grosso modo, que havia os patrícios, a ordem equestre e os plebeus. Cada classe só podia aspirar a exercer certos cargos. Os outros estavam vedados. Os casamentos inter-classistas eram vedados ou tinham severas restrições. Todavia, as famílias ilustres tendiam a fortalecer-se através do matrimónio, e esses casamentos de conveniência eram a origem de uma crescente libertinagem de costumes. «Esta cidade» dizia Catão, «não passa de uma agência de casamentos políticos corrigidos pelos cornos».
Estas classes tinham, como escrevi, clivagens de acordo com a fortuna. A ordem senatorial obrigava a ter uma fortuna superior a 1 milhão de sestércios (o que estimo em 5,7 milhões ), enquanto que a dos cavaleiros impunha um limiar de 400 mil sestércios (2,3 milhões ). A população restante compunha-se dos cidadãos plebeus, libertos, aliados (gente livre que habitava as províncias) e os escravos. Portanto no tempo de Vespasiano, em cerca de 70 milhões, haveria cerca de 30 milhões de cidadãos, 10 a 15 milhões de escravos e 25 a 30 milhões de livres, mas não cidadãos. O Édito de Caracala, já na decadência do Império, estendeu a cidadania a todos os habitantes livres do Império. Todavia essa medida tinha apenas o objectivo de aumentar a base de incidência fiscal, que atingia sobretudo os cidadãos. Outra medida, para evitar a diminuição drástica de escravos, era a limitação às disposições testamentárias, quer fixando a proporção máxima de escravos que poderiam ser libertos, quer estabelecendo o máximo de 100. Durante a dinastia Flávia apareceu, no mundo rural, uma nova forma contratual, o colonato, que evoluiu para o que se denominou mais tarde servo de gleba. Nos finais do império a escravatura já era insignificante, tirando nalgumas grandes cidades, como Roma (mas nada comparável com o que era séculos antes).
Passemos aos salários. Comecemos pelos de diversas profissões:
Em primeiro lugar os romanos não cometeram o erro de todos os professores ganharem o mesmo. O salário dependia do nível e grau de ensino. Um professor de Retórica ou de Literatura ganhava 5 e 4 vezes mais que um professor de primeiras letras.
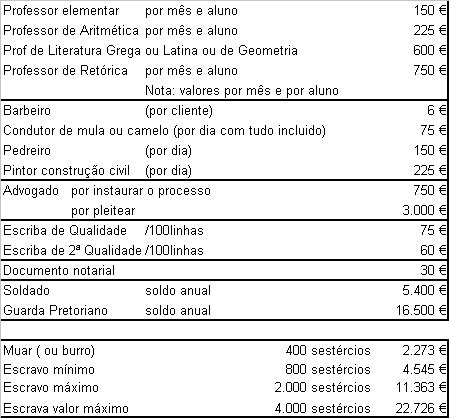
Comparando o ensino com o trabalho manual, o professor elementar deveria estar equiparado ao trabalhador manual. Como os romanos tinham muito mais feriados e dias inúteis que nós, um trabalhador manual não trabalharia mais de 15 dias por mês. Assim sendo, ganharia o mesmo que um professor elementar com 15 alunos. Mas os professores recebiam adicionalmente bens em espécie, donde a situação de professor seria melhor que a do trabalhador manual.
Os escribas eram bem pagos. Hei-de calcular qual seria o meu estipêndio pelo que tenho escrito neste blogue, mesmo como escriba de 2ª! Cerca de 15 por A4, eu deveria receber 30 a 50 por dia. Tanto quanto uma mulher a dias! Considerando que é um trabalho extra ...
Aparentemente os militares ganhavam menos que os trabalhadores manuais. Todavia tinham alimentação e alojamento grátis e recebiam, quando passavam à reserva, uma gratificação e uma propriedade rural. De notar que os pretorianos, tropa de elite que protegia o imperador, recebiam o triplo. Os efectivos militares variaram entre 250 mil e 350 mil soldados. Os pretorianos nunca atingiram os 10 mil efectivos.
Um escravo era mais caro que um muar, o que é lisonjeiro para a nossa espécie, e, no caso de uma jovem bela, pelos padrões da época, poderia atingir valores razoáveis.
Mas quem ganhava bem, eram os altos funcionários imperiais, senatoriais e da administração provincial. Há cargos que não tinham vencimento. O Imperador (Princeps) tinha o erário público por conta ... Os cônsules estavam um ano no cargo e a seguir iam como procônsules para as províncias, onde além do estipêndio avultado, recebiam extras. Às vezes tão volumosos, que levavam à sublevação da província.
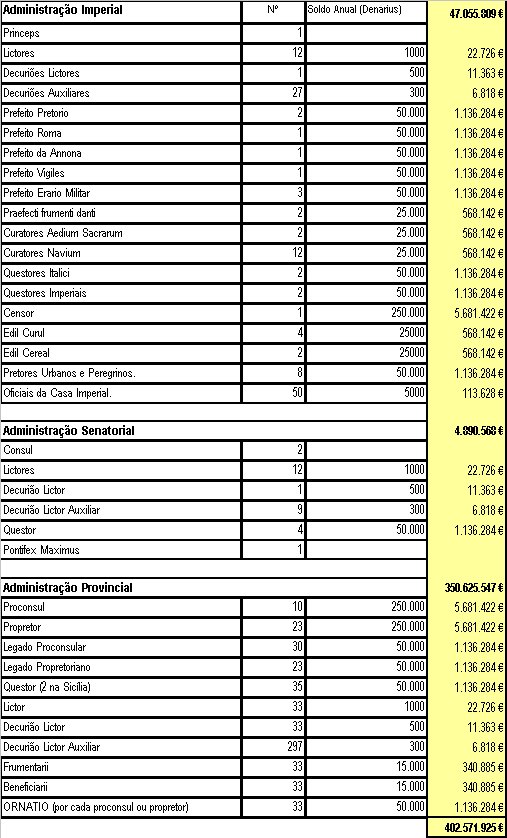
É óbvio que os decuriões ganhavam ao nível da tropa mais bem paga, mas cargos como o Prefeito do Pretório, ou o Prefeito de Roma (cargo que o assassinado Pedanius Secundus exerceu ver post abaixo), ganhavam mais de 1 milhão de euros por ano. O mesmo sucedia com o Prefeito da Annona. A Annona era uma espécie de Rendimento Mínimo Garantido... pois tratava-se da distribuição de víveres aos proletários romanos (da cidade de Roma), que viviam da assistência do Estado (número que variou ao longo dos tempos, ultrapassando frequentemente os 200 mil, apesar da distribuição de terras para os incentivar a ter meios de subsistência próprios).
Mas os mais bem remunerados eram os governadores das províncias (procônsules e propretores) que recebiam mais de 5 milhões de euros por ano, fora o que receberiam por baixo da mesa. Ganhavam várias centenas de vezes o salário de um trabalhador manual.
Nota: Os valores em euros foram estimados a partir do teor em ouro do Áureo, subentendendo uma relação entre o preço do Ouro e da Prata de 12 para 1, relação que se manteve praticamente idêntica até ao século XVIII. No século XIX era de 15 para 1. A partir do último quartel do século XIX, a prata desvalorizou-se muito perante o ouro. Por sua vez o ouro tem-se desvalorizado desde meados do século XX. Estimei essa desvalorização de 1 para 6. Igualmente é difícil comparar preços em sociedades com cabazes de compras muito diferentes. O preço da alimentação, na sociedade europeia, não representará mais de 15% a 20% do orçamento familiar, enquanto na sociedade romana representaria certamente bastante mais de 50%.
Isto foi apenas um exercício que fiz, com algum critério, mas sem aprofundar muito por escassez de tempo.
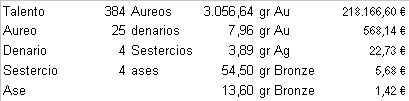
Publicado por Joana às 07:54 PM | Comentários (35) | TrackBack
fevereiro 25, 2005
O Caso Pedanius Secundus
A protecção da propriedade e do cumprimento das obrigações contratuais é essencial para o funcionamento de uma economia. Aliás, um dos entraves ao nosso desenvolvimento, como eu aqui escrevi por diversas vezes, é a morosidade e ineficiência da nossa justiça.
Na sociedade actual, a protecção da propriedade é contra terceiros. Mas nem sempre foi assim. A mercadoria em certas situações tem vontade própria ... e perigosa. O jovem Marx garantia que ela se erguia como entidade exterior, um poder independente. Era o fetiche da mercadoria. Mas segundo ele, a vítima dessa surpreendente vontade da mercadoria era quem a fabricava, o trabalhador alienado, e não o seu proprietário. Concentremo-nos portanto apenas na potencial relação conflituosa entre a mercadoria e o seu proprietário.
Em Roma o escravo era uma mercadoria, transaccionável em mercado. No início do Império, nos tempos da dinastia Júlio-Claudiana, cerca de um terço da população da cidade de Roma era escrava. Em todo o império a percentagem era bem menor e estima-se que, para a população total (que variou entre 70 e 50 milhões de habitantes), a percentagem de escravos seria cerca de 15%. Com a Pax Romana e a diminuição das importações provocadas pelas guerras, e com as libertações, quer em vida do proprietário, quer por disposições testamentárias, o número foi-se reduzindo e o seu preço aumentando. Isto fez com que muitos sectores económicos deixassem de utilizar escravos e outras formas de relações de produção se estabelecessem durante o baixo império.
Ora o escravo é uma mercadoria que se pode revelar pouco segura para o proprietário, quer por vingança contra maus tratos, quer apenas por aspirar a ser livre, pondo fim ao seu estado de servidão. O Direito Romano, sempre previdente, havia por isso instituído uma lei, ainda no tempo da república, que condenava à morte todos os escravos que estivessem sob o mesmo tecto, na ocasião do assassinato do proprietário.
Nos primeiros anos do reinado de Nero, em 61, o Prefeito de Roma (praefectum urbis), Pedanius Secundus, foi morto por um dos seus escravos por, segundo Tácito (Anais, Livro 14, 42-45), ou por se ter recusado a libertá-lo, após a transacção ter sido combinada e o preço definido, ou por ciúmes ... do mesmo homem, e o escravo ter ficado encolerizado por não poder competir com o amo por aquela afeição, em virtude do seu estatuto (servus ipsius interfecit, seu negata libertate, cui pretium pepigerat, sive amore exoleti incensus et dominum aemulum non tolerans).
Segundo aquela lei antiga, que aliás havia sido alargada e agravada por diversas leis, em particular por um senatus consultum promulgado no 2º consulado do próprio Nero, todos os 400 escravos (Pedanius Secundus era um dos homens mais ricos de Roma) que estavam na sua mansão, entre os quais mulheres, adolescentes e crianças, deveriam ser enviados ao suplício.
Esta condenação desencadeou um grande movimento popular de emoção e piedade por tantos inocentes que iriam ser punidos injustamente, que tomou contornos de sedição. No próprio Senado formou-se um partido que era contra tamanha severidade e pedia clemência. A maioria, fanatizada pelo discurso de Caio Cassius, o mais reputado jurisconsulto da época, votou porém a favor das mortes.
Disse Caio Cassius: Decretai agora a impunidade: quem entre nós encontrará na sua dignidade de senhor a salvaguarda que o prefeito de Roma não encontrou entre os seus? Quem poderá confiar no número dos seus servidores, quando 400 não salvaram Pedanius Secundus? e terminou dizendo que embora reconhecendo que havia inocentes qualquer punição rigorosa que se destina a servir de exemplo, contém sempre algo de injusto, e a utilidade pública é uma compensação pelo mal que os particulares sofrem.
Cumprir a decisão do Senado foi mais complicado, face à sublevação popular. Nero teve que mobilizar as tropas para fazer um cordão protector no caminho que conduzia ao local do suplício.
Esta decisão parece-nos hoje de uma crueldade abominável, e mesmo naquela época, em que a escravatura era admitida como normal, ela foi considerada bárbara. Nero cumpriu a decisão senatorial, embora tudo levasse a crer que ele e os seus conselheiros não fossem favoráveis a ela, por não querer entrar em conflito com o Senado. Todavia anulou o decreto senatorial que ordenava que fossem deportados da Itália os libertos que também se encontravam naquela casa, aquando do assassinato.
As palavras de Caio Cassius, de que só transcrevi pequenos excertos, são de uma frieza cruel. Mas a sua lógica cruel decorre do desvio do poder inerente ao facto de usar o rigor e a crueza da lei para servir de exemplo à sociedade. Quando, para além de punir o culpado, se pretende dar um exemplo à sociedade com essa punição está a cometer-se um erro. O caso Pedanius Secundus é apenas o limite odioso a que essa perversão legal pode conduzir.
Publicado por Joana às 07:49 PM | Comentários (82) | TrackBack
fevereiro 23, 2005
Decreto para a Salvação Nacional
Decreto Barère de 23-Agosto-1793
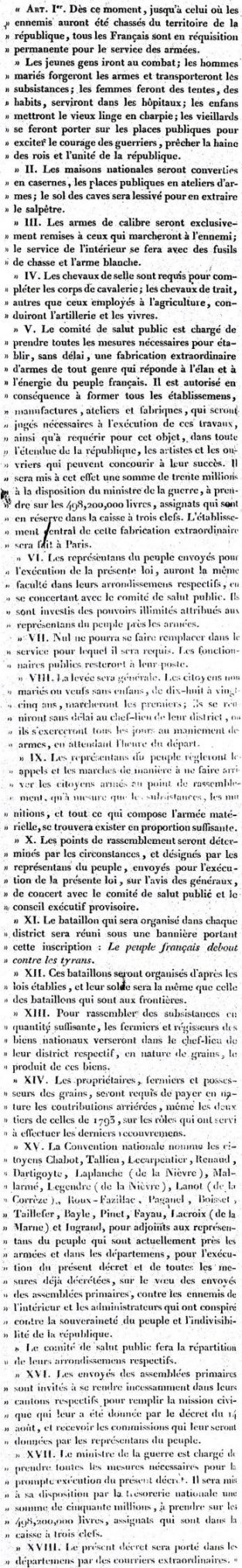
Embora a França republicana tivesse conseguido restabelecer a situação militar face às ameaças exteriores, facilitada aliás pela falta de empenho das potências da Europa Central, mais interessadas na liquidação e divisão da Polónia que numa guerra para repor uma dinastia que Valmy havia mostrado ser então detestada pela maioria da população, os excessos revolucionários, como a execução dos girondinos e as missões sanguinárias que a Convenção Nacional, dominada pelos radicais, enviava aos departamentos mais relutantes, revoltaram a população da província e levaram, por exemplo, à execução de Chalier, o Marat de Lyon, e à sublevação desta cidade, assim como de Nantes (e a Vendeia) e de outras cidades importantes, como Toulon que se entregou aos ingleses.
No exército as coisas não corriam melhor. A ingerência dos comissários políticos, como o demagogo Saint-Just, o Anjo da Morte, irritava os militares. Dumouriez, o vencedor de Valmy, desertou. Outros generais e figuras de relevo da República, como Lafayette, também desertaram ou abandonaram o país, por temerem pela própria vida. Nas fronteiras do Reno, da Flandres e dos Pirinéus, as tropas estrangeiras, pouco resolutas, mas perigosas face à situação interna da França, constituíam uma ameaça permanente.
No esforço de salvação da república, na crise de 1793, dois nomes merecem atenção:
Lazare Carnot por ser o extraordinário organizador dos exércitos franceses, da sua mobilização, da sua logística. Um homem exemplar que reunia a coragem militar e a coragem cívica, a honestidade, a sobriedade e uma enorme capacidade de trabalho.
Barère, subtil, pouco fiável, mas especialista em grandes tiradas, de resultados nulos ou incipientes, mas que aqueciam o coração, faziam vibrar os espíritos e acelerar a circulação sanguínea. O Decreto cuja fotocópia se apresenta aqui, é o famoso decreto da levée en masse, da mobilização total, que na época apenas conseguiu acrescentar 300.000 homens aos 480.000 já mobilizados (numa população de 25 milhões), mas que constituiu um precedente da concepção monstruosa da militarização de toda uma nação, utilizada posteriormente por Napoleão e pelas potências europeias nas guerras do século XX.
Este decreto é notável pela grandiloquência da linguagem. Os 4 primeiros parágrafos (e não só) do Artigo 1º, e único, são um paradigma do totalitarismo revestido de romantismo revolucionário. Define o retrato exacto do radical de todas as épocas, inebriado pela própria linguagem e criando um mundo virtual tanto mais portentoso, quanto mais forte são as suas palavras.
Barère decretou uma França virtual, sublime, guerreira ... mas inexistente. Este decreto foi aprovado em delírio, a 23 de Agosto, por uma Convenção dominada pelos Montagnards e cuja maioria dos convencionais (o Pântano) sobrevivia aterrorizada pelas manifestações de rua organizadas (e armadas) pela Comuna de Paris.
Na altura, não foi este decreto, mas Carnot quem salvou a França. Posteriormente este decreto tem servido para galvanizar o ânimo daqueles que acreditam no poder do Verbo e no totalitarismo político sob o álibi de populismo demagógico.
Publicado por Joana às 07:35 PM | Comentários (31) | TrackBack
dezembro 28, 2004
Ucrânia, a Fronteira
Uma digressão geográfica
Ukraina significa confins, fronteira longínqua, e a Ucrânia, ela própria, constituiu sempre uma fronteira entre a Europa e a Rússia e estepes asiáticas. E essa fronteira passava por dentro da actual Ucrânia, como a história o mostra e os mapas seguintes o provam. E essa fronteira interna, foi a fronteira entre Iuschenko e Ianukovitch, entre a base de apoio de um e de outro, entre a Ucrânia mais europeizada e a Ucrânia mais russificada.
Para tentar explicar a clivagem existente entre as bases de apoio de Iuschenko e Ianukovitch, nada melhor que olharmos a evolução geográfica das terras actualmente constituintes da Ucrânia e sob que domínio estiveram.

Vemos na viragem do milénio o Principado de Kiev, que russos e ucranianos reclamam com origem, e a costa sul dominada pelos petchnegos

A geografia em 1200, mostra o desmembramento desse principado, durante os 2 séculos seguintes

A continuação desse desmembramento em 1300, e a emergência da Lituânia. Os lituanos, que se tinham mantido pagãos apesar das cruzadas dos cavaleiros teutónicos, vão durante um século XIV, construir um extenso Estado onde a maioria da população não era lituana.

Em 1386 Jaguelão, Grão-Duque da Lituânia, torna-se também Rei da Polónia. A partir daí estes 2 Estados ficam em união pessoal, mas governando-se autonomamente cada um. Foi durante o reinado de Jaguelão que os lituanos adoptaram, pouco a pouco, o cristianismo, e os cavaleiros teutónicos foram vencidos em Tannenberg.

Se se observar o mapa referente a 1500, nota-se claramente a clivagem entre a actual Ucrânia ocidental, incluída no Reino Polaco-Lituano, e a Ucrânia Oriental, incluída nos principados russos e depois na Rússia. A sul, o que restou do domínio mongol, o Khanato da Crimeia. A Crimeia foi mais tarde, em meados do século XX, russificada, com a expulsão dos tatares. Provavelmente por isso ela é actualmente favorável a Ianukovitch. Estas fronteiras vão-se manter, com poucas modificações, até ao último quartel do século XVIII.

No mapa relativo a 1700 vêm-se os territórios sob o domínio dos Hetman dos Cossacos, no limite entre as duas Ucrânias. Entretanto os Lituanos, povo numericamente muito reduzido, que haviam conquistado um domínio tão extenso, que colocaram o seu soberano no trono da Polónia, acabaram engolidos por quem tinham anexado!

A partir daí, com o aparecimento de Pedro o Grande e o enfranquecimento do Reino Polaco-Lituano, vítima das disputas entre a sua nobreza irrequieta, a Rússia progride para o ocidente e, em fins do século XVIII, juntamente com a Áustria e a Prússia, repartem a Polónia. Neste mapa, relativo a 1809, no apogeu de Napoleão, vê-se o Grã-Ducado de Varsóvia, reconstituído por Napoleão, a seguir à derrota dos russos em Friedland e dos austríacos em Wagram. Após a queda de Napoleão, o Grã-Ducado de Varsóvia passou para o domínio russo. Esta situação vigorou até à Grande Guerra de 1914-18
A Polónia e a Lituânia só recobram a independência após a Grande Guerra de 14-18, embora a Lituânia tivesse sido incorporada na URSS em 1940. A Ucrânia teve uma curta experiência de independência no final da Grande Guerra de 14-18, mas foi rapidamente incorporada na URSS. A Lituânia e a Ucrânia recuperaram a independência com o colapso da URSS em 1990.
O futuro dirá que Ucrânia irá emergir do actual processo. Se a Ucrânia que esteve, durante quase um milénio, ligada à Europa oriental, que durante esse tempo foi os confins orientais da Europa, ou a Ucrânia que durante os 2 últimos séculos esteve dependente da Rússia. Ou se a Ucrânia se cinde em duas Ucrânias, Ucrânias que tiveram, ao longo da História, percursos tão diversos
Publicado por Joana às 12:08 AM | Comentários (27) | TrackBack
dezembro 22, 2004
Prova Presencial
Como é do conhecimento público, sempre fui muito rigorosa nas minhas investigações históricas. Perante dúvidas que um incontinente blogger pôs sobre essa matéria, venho aqui apresentar evidências presenciais:
Em primeiro lugar estive presente no episódio de Anagni (e não Agnani...). Numa reportagem da época eu posso ser entrevista, de costas, semi-oculta pelo Papa Bonifácio VIII, a fugir espavorida de Sciarra Colonna e do seu guante ameaçador:

Em segundo lugar, repare como estive presente à execução de Enguerrand de Marigny, como refiro no Tomo V da minha obra sobre o Código da Vinci. Estou de costas (nunca tive sorte com as câmaras ... falta-me a química do Santana!), entre os espectadores. Fui lá a pedido de um Templário sobrevivente, como gesto de vingança contra o odiado conselheiro de Filipe o Belo. Provavelmente o Luís Rainha exultou ao pensar que eu era a figura pendurada à esquerda ... Mas não ... desta vez safei-me, tomei a máquina do tempo e regressei.

Igualmente à atenção de Bernardo Motta, com mais um agradecimento pela gentileza.
Publicado por Joana às 01:19 AM | Comentários (35) | TrackBack
dezembro 19, 2004
Tosca e Marengo
Nem tudo é explicável. Ou talvez tudo seja explicável, mas por razões profundas e complexas. Há todavia um facto incontornável. Sinto um encanto muito especial pela Tosca de Puccini. Há três momentos que me tocam profundamente a forma espantosa como Scarpia enreda Tosca na sua teia de intriga, naquele final do primeiro acto, portentoso de força; o momento em que Scarpia é informado que afinal Melas havia sido derrotado em Marengo e Mario Cavaradossi entoa «Vittoria! Vittoria! ... Libertà sorge, crollan tirannidi!»; e o momento final do II acto, em que Tosca apunhala Scarpia «Questo è il bacio di Tosca!», e exclama numa voz de desprezo, profunda e ardente, debruçada sobre o corpo de Scarpia, deixando cair o braço inerte do chefe dos carrascos de Roma, de cuja mão retirara o salvo-conduto: «E avanti a lui tremava tutta Roma!».
A trama desta intriga desenrola-se em paralelo com as informações que, do campo de batalha de Marengo, chegavam a Roma, ao Estado Romanos, o "Patrimonium Petrii" de cujo soberano, o Papa, Stendhal afirmaria que fazia a felicidade dos seus súbditos no céu e a sua miséria na terra.
Dois anos antes os franceses comandados pelo general Championnet haviam ocupado Roma e nomeado Cesare Angelotti como Cônsul da República Romana. Seguidamente Championnet conquistaria Nápoles e criaria a República Partenopeia. Ferdinando IV, o rei das Duas Sicílias, teve que fugir com sua mulher Maria Carolina (irmã de Maria Antonieta) para a Sicília, onde organizaram a resistência e aproveitando as dificuldades das tropas francesas, pressionadas pela «2ª coligação», que incluía a Inglaterra, a Áustria e a Rússia, e com um governo (o Directório) desacreditado, desembarcaram na península, apoiados pela revolta popular contra um governo satélite de França, retomaram Nápoles e depois Roma, onde o barão Scarpia com sua polícia secreta, conseguiu restabelecer a monarquia papal e derrubar a República. Angelotti foi encarcerado.
Para consolidar o seu golpe de Estado do 18 de Brumário, que derrubara o Directório, Napoleão precisava de vencer a Áustria, a principal potência continental, subvencionada pela Inglaterra. Como na anterior campanha, enquanto Moreau mantinha a pressão sobre as forças austríacas, na Renânia, Napoleão, então apenas o general Bonaparte, 1º Cônsul da República, concentrou os seus esforços no norte da Itália, no intuito de destruir o imponente dispositivo militar que a Áustria havia estabelecido aí, com o apoio dos pequenos estados do norte da península.
Bonaparte não estudava, de antemão, os pormenores dos planos das campanhas; considerava os objectivos estratégicos essenciais e as vias possíveis de os conseguir. As preocupações propriamente militares só o absorviam quando o contacto com as forças inimigas estava próximo. Nessa situação mantinha um serviço de recolha de informações muito preciso sobre os movimentos do inimigo e mudava o seu dispositivo militar com muita frequência, consoante as informações de que dispunha. Essa rapidez com que alterava as suas posições e o imprevisto dessas mudanças foi um dos motores do seus êxitos.
Outro dos seus factores de sucesso, antes que os seus êxitos o fizessem acreditar que seria sempre invencível, foi nunca subestimar a capacidade de discernimento do inimigo e nunca supor que este agisse de uma forma menos inteligente que a sua.
O essencial do dispositivo militar de Melas, que no total compreendia 120.000 homens, estava no sul do Piemonte e empregava as suas forças principais com o objectivo de tomar Génova, ocupada por uma guarnição francesa. Era pela costa mediterrânica que Melas esperava Bonaparte e a tomada de Génova assegurar-lhe-ia uma forte posição que impediria o avanço das forças francesas.
Todavia Bonaparte atravessou o S. Bernardo, com 60.000 homens e todo o trem militar muares, canhões, etc. - e penetrou no Piemonte pelo nordeste, eixo que era considerado impraticável. Assim, enquanto Melas conseguia tomar Génova, as forças francesa invadiam à vontade as planícies piemontesas, eliminando pequenos destacamentos austríacos que encontraram, e Bonaparte marchou directamente para Milão, capital da Lombardia. As tropas francesas estavam na retaguarda de Melas. Conforme diria Napoleão, este operou contra Melas, como se Melas fosse Napoleão, enquanto que Melas conduziu-se perante Napoleão, como se este fosse Melas!
Melas viu-se numa situação complexa, com as suas forças dispersas pelo Piemonte, Ligúria e Lombardia e correndo o risco de Bonaparte poder bater, sucessiva e separadamente, os seus corpos de exército. Entre Alessandria e Tortona há a extensa planície de Marengo, onde Melas decidiu concentrar as suas forças. Foi para aqui que Napoleão se dirigiu depois de restabelecer o poder francês em Milão.
A batalha começou na manhã de 14 de Junho de 1800. As forças austríacas eram superiores em número e a rapidez de movimentos do exército francês não havia permitido a junção de todas as forças indispensáveis aos planos de Bonaparte. Durante toda a manhã e início da tarde, os franceses recuaram face a tenacidade e superioridade numérica dos austríacos. A batalha parecia perdida. A meio da tarde, Melas, cheio de júbilo, enviou correios com despachos para a Corte de Viena, e para as cortes dos estados italianos, entre eles Roma e Nápoles, comunicando a vitória completa dos austríacos, a derrota do ímpio Bonaparte, os troféus capturados, os prisioneiros e os canhões capturados.
Foram estes despachos que chegaram à corte papal, perto do fim do I Acto da Tosca. Angelotti, fugindo do Castelo de SantAngelo, refugiara-se na igreja de SantAndréa della Valle. Aí foi ajudado a esconder-se pelo pintor Mário Cavaradossi. A chegada de Floria Tosca, amante de Mário e ciumenta em extremo (È una donna... gelosa), precipita a acção e leva a que Tosca descubra o retrato da Marquesa Attavanti que Mário pintara sem que esta o soubesse (Chi è quella donna bionda lassù?). Mário inventa que seria Maria Madalena, mas Tosca reconheceu a marquesa, o que desencadeou uma cena de ciúmes que Mário conseguiu aplacar.
Foi na sequência desta cena que o Sacristão da Igreja de Sant'Andrea della Valle, entra radioso na igreja chamando os alunos do coro para cânticos festivos «Nol sapete? Bonaparte... scellerato... Bonaparte... Fu spennato, sfracellato, è piombato a Belzebù!». E as manifestações jubilosas só são interrompidas com a chegada do Barão Scarpia, acompanhado pelos seus esbirros e por aqueles acordes profundos e tensos que sublinharão sempre, durante o decorrer da ópera, as intervenções de Scarpia. Um tema, cheio de força, ressumando a terror e a ódio.
Mas Scarpia não é apenas o paradigma do polícia político torcionário e abjecto. É uma figura muito mais subtil que isso. Scarpia é o homem do poder que para saciar o seu desejo mistura a esfera política e a esfera privada. É o exemplo acabado da forma mais perversa do abuso do poder. Desde a sua entrada na Igreja «Un tal baccano in chiesa! Bel rispetto!», referindo-se às manifestações de alegria dentro do templo, até ao fim da ópera, mesmo depois de ser assassinado, ele é a figura central e todos os outros personagens não são mais que títeres manejados pelas suas mãos poderosas e peçonhentas.
E todo o fim desse I Acto será a urdidura da intriga de Scarpia, explorando os ciúmes de Tosca, que entretanto regressara para cancelar o encontro com Mário, por ter sido convidada pela Rainha Maria Carolina, então em Roma, para um sarau festivo em glória da vitória de Melas, mostrando-lhe o leque com o brasão dos Attavanti e fazendo insinuar um violento ciúme no seu seio «Va, Tosca! Nel tuo cuor s'annida Scarpia!... È Scarpia che scioglie a volo il falco della tua gelosia.»
Mas Scarpia, ao subverter a consciência de Tosca, sente despertar nele o desejo carnal pela diva do canto; a multidão entoa o Te Deum pela vitória sobre Bonaparte enquanto Scarpia exclama «Tosca, mi fai dimenticare Iddio!», antes de se penitenciar, associando-se, com empenhada religiosidade, ao imponente coro da Igreja de Sant'Andrea della Valle. É um final com uma força enorme, grandioso, de uma dimensão musical e cénica que perdura em quem quer que o tenha visto alguma vez.
Mas a partir do meio da tarde desse dia 14 de Junho, a situação mudou bruscamente no teatro das operações. A divisão do general Desaix, que foi morto logo no começo da operação, irrompeu no campo de batalha e arremeteu no momento decisivo sobre as tropas austríacas. Simultaneamente Bonaparte fez avançar as suas tropas que haviam recuado e tudo isto redundou numa completa derrota de Melas. Antes do fim do dia os austríacos tinham perdido metade da artilharia e deixado milhares de prisioneiros nas mãos de Bonaparte. A mortandade entre os austríacos havia igualmente sido enorme. Todo o dispositivo militar austríaco no norte da Itália havia sido aniquilado.
Meia dúzia de horas depois de terem partido os correios com as novas da vitória, partiram os mensageiros com a notícia do completo aniquilamento das forças de Melas. Foi esta notícia que Sciarrone, um dos esbirros de Scarpia traz, a meio do II Acto, ao Palácio Farnese, à câmara de Scarpia, onde estavam Cavaradossi, prostrado pela tortura, e Tosca regressada do sarau da Rainha de Nápoles. «Eccellenza! quali nuove!... Un messaggio di sconfitta... »
Scarpia - Che sconfitta? Come? Dove?
Sciarrone - A Marengo... Bonaparte è vincitor!
Scarpia - Melas...
Sciarrone - No! Melas è in fuga!...
E então Mário Cavaradossi, na agonia da tortura, encontra forças para entoar um belíssimo e comovente hino à liberdade:
Vittoria! Vittoria!
L'alba vindice appar
che fa gli empi tremar!
Libertà sorge, crollan tirannidi!
Del sofferto martîr
me vedrai qui gioir...
Il tuo cor trema, o Scarpia, carnefice!
Enquanto Tosca, sem pretensões políticas, apenas mulher, apenas amor, pressentindo as intenções de Scarpia, lhe pedia temerosa: «Mario, taci, pietà di me!».
Scarpia é o polícia sádico que procura o sofrimento e o ódio no objecto do seu desejo carnal. O seu fim último é a completa humilhação do objecto do seu desejo. O suplício de Cavaradossi é dirigido principalmente contra Tosca. Enquanto Mário é torturado, ouve-se o som do canto de Tosca no sarau da rainha. Mário é um mero, mas necessário, instrumento da dialéctica carrasco-vítima que une Scarpia e Tosca. Mesmo a notícia da derrota de Melas e do próximo fim do seu poder não perturba minimamente o seu percurso de carrasco sádico. E é morto por Tosca no momento em que ia gozar o prazer supremo de a possuir. Mas o seu poder e a sua arte da intriga perduraram para além da sua morte. O fuzilamento de Cavaradossi, que prometera a Tosca ser dissimulado, foi mesmo real. Tosca suicida-se lançando-se da plataforma do Castelo de Sant'Angelo, onde Mário acabara de tombar, fuzilado: «O Scarpia, avanti a Dio!». As suas derradeiras palavras seriam para Scarpia.
Já vi esta ópera ao vivo. Revi-a este fim de semana, em DVD, numa excepcional interpretação de Angela Gheorghiu, Roberto Alagna e Ruggero Raimondi (Scarpia). Não consigo ver a cena da ária «Vittoria! Vittoria!», de Cavaradossi, sem que uma lágrima furtiva (ou várias ... muitas) me embacie os olhos e me humedeça a face. É dos momentos mais belos e puros do espectáculo operático.
Publicado por Joana às 08:19 PM | Comentários (7) | TrackBack
dezembro 06, 2004
A Sagração de um César
A França está entusiasmada com o 2º centenário da sagração de Napoleão como imperador dos franceses. Um Napoléon que era Napoleone e que se tornou francês por um acaso. O governo de Luís XV adquiriu a Córsega à República de Génova um ano antes do nascimento do futuro César. Mas a França sempre soube chamar a si as glórias dos emigrantes ou anexados, desde Napoleone a Vieira da Silva.
Dois nomes avultam nessa sagração: Napoleão, o protagonista principal, e David, que a pintou.
Napoleão foi um génio militar e um hábil político cujos retumbantes êxitos militares e políticos fizeram com que acabasse num general mediano e num político autista. Jovem capitão, dirigiu o cerco de Toulon e conquistou a cidade. Graduado imediatamente em General de Brigada pelo governo revolucionário de Robespierre, esteve a um passo da guilhotina quando, meia dúzia de meses depois, se deu o 9 Thermidor (27-7-1794). Foi Barras que o foi buscar à obscuridade para defender a Convenção contra a insurreição realista. A 13 Vendimário (5-10-1795) colocou os canhões no enfiamento das ruas que levavam ao Palácio da Convenção e liquidou os insurrectos armados apenas de mosquetes e espingardas. Foi a primeira vez na história que uma manifestação de rua, mesmo com gente armada, foi varrida a tiros de canhão.
Mas foi a 1ª campanha de Itália que lhe deu o estatuto de genial. O Directório havia concentrado as suas melhores tropas no Reno, sob o comando de Moreau. Bonaparte apresentou um plano para invadir o norte de Itália e o Directório aceitou-o como uma manobra de diversão. O exército que Bonaparte tinha ao seu dispor era pequeno, esfarrapado e mal armado. A corrupção nos abastecimentos era enorme. Com a chegada de Bonaparte tudo mudou. Em menos de um ano as tropas francesas estavam a poucas dezenas de quilómetros de Viena, as forças piemontesas e os vários exércitos austríacos enviados contra Bonaparte destruídos. O que seria apenas uma manobra de diversão, levou à capitulação da Áustria.
Os seus êxitos militares e a instabilidade política em França facilitaram o golpe de Estado do 18 de Brumario (9-11-1799). A democracia representativa havia substituído a legitimidade monárquica com a Revolução. Com o 18 de Brumario, o plebiscito populista prevalecia. O denominação 18 de Brumario passou a designar a apropriação autoritária do poder referendada por plebiscitos populares. E foi com sucessivos plebiscitos que Napoleão Bonaparte se tornou 1º Cônsul, 1º Cônsul vitalício e Imperador.
E o estrépito das sua vitórias só tiveram paralelo com o fragor das suas derrotas. Após Waterloo, os limites da França regressaram às fronteiras de 1791, bem dentro das fronteiras que Napoleão encontrou quando começou a sua epopeia.
David é o paradigma do artista que se deixa seduzir pelos mitos políticos em voga, apoiando-os desapiedadamente, intolerantemente. Tornou-se um jacobino feroz, votou a morte do rei na Convenção, e foi um polícia impiedoso enquanto membro do Comité de Sûreté Générale. Imortalizou a figura de Marat, pintando A Morte de Marat, onde Marat aparece representado na sua banheira numa postura que lembra a Descida da Cruz de Cristo. As virtudes da caridade e do desapego do mártir revolucionário são acentuadas pelo vazio do fundo.
Preso após a queda de Robespierre, fez a sua travessia do deserto, até encontrar outro ídolo ... em Napoleão! Em 1801 pinta a Passagem do Grande São Bernardo, onde o então 1º Cônsul é representado numa alegoria prodigiosa do herói montado num cavalo empinado, apontando para as planícies de Itália, como o teriam feito Aníbal e de Carlos Magno outrora.
Finalmente, a suprema deificação do Ditador David trabalhou durante 2 anos (1806-1808) na passagem à tela da coroação de Napoleão. É uma pintura imensa, de um pormenor exaustivo, retratando todo o fausto e a glória da cerimónia e acrescentando algumas liberdades próprias, ou exigências do patrão. Avatares de um artista ...
Fanático dos jacobinos, regicida e fanático de Napoleão era uma mistura explosiva. Após a queda de Napoleão, e o regresso dos Bourbons, viu-se obrigado a exilar-se de França, morrendo alguns anos depois em Bruxelas.

David Imperial

e David revolucionário ... A Morte de Marat
Publicado por Joana às 08:08 PM | Comentários (17) | TrackBack
dezembro 01, 2004
Deriva Continental
Eduardo Lourenço, num curso promovido pela Fundação Mário Soares e pelo Instituto de História Contemporânea da FCSH da Universidade Nova de Lisboa fez uma comunicação sobre um tema que já várias vezes trouxe aqui à colação(*) a relação entre a Europa e os EUA e algumas similitudes que essa relação tem com a relação entre gregos e Roma na Antiguidade Clássica.
A tese de Eduardo Lourenço tem as mesmas raízes que as minhas, só que a sua análise dos acontecimentos e dos efeitos, actuais e potenciais, não consegue subtrair-se da influência da intelectualidade francesa que constitui a vivência cultural do ambiente em que vive e lecciona.
Para Eduardo Lourenço os «Estados Unidos são apenas o Frankenstein da História, feito dos pedaços da Europa que fugiram à Europa (e em seguida, ao mundo) e lá, depois de limparem a paisagem, (de índios), conservando a nostalgia dos seus ocupantes, se reconstruíram com energia quase desesperada, inventando, ao longo de quase duzentos anos ... uma identidade de tipo novo, não europeia, tendo no futuro o seu tempo utópico e messiânico».
Os Estados Unidos foram criados, mais ideologicamente que demograficamente, por europeus que fugiam às perseguições políticas e religiosas. Os Pilgrim Fathers eram, na maioria, aldeões ingleses que estavam numa situação social incomparavelmente superior à dos camponeses franceses e da Europa continental, subjugados pela sobrevivência de um feudalismo anacrónico. Um servo medieval nunca teria fundado as cidades livres a autónomas da Nova Inglaterra. O Canadá francês, formado na mesma época, foi a transplantação do camponês medieval sob a chefia do seu nobre feudal e do seu padre, enquanto a imigração colonial inglesa foi a transplante de uma sociedade muito mais moderna, semi-industrial e desperta para as transformações económicas e intelectuais (**). Era gente capaz de fundar instituições sólidas, onde podiam florescer, lado a lado, a agricultura, os ofícios mecânicos e o comércio. Mas simultaneamente fugiam da perseguição e da intolerância religiosa. Para eles, a liberdade individual era um bem precioso.
E as vagas que se lhe seguiram, ou fugiam dos despotismos e das coacções extra-económicas das sociedades feudais, ou fugiam da miséria e da escassez de recursos das suas terras. A emigração maciça de irlandeses durante o século XIX, que fez descer a população da ilha para cerca de um terço do que era anteriormente, foi causada pela miséria, mas também pelo colonialismo inglês. Dizer que os americanos, por serem descendentes de retalhos da Europa, são um Frankenstein da História é uma imagem enviesada por um intelectualismo blasé, pretensamente superior, tipicamente francês (ou português, na sua versão fotocopiada e ainda mais provinciana).
Quem demandou o Novo Mundo, fê-lo porque teve a coragem de quebrar as amarras e partir, enfrentando o desconhecido. Nas classes sociais economicamente mais desfavorecidas, entre as quais se recruta a emigração, são sempre os mais aptos, os que têm mais vontade em se afirmar e mais coragem em enfrentar o desconhecido que emigram. Os outros ficaram.
É evidente que as gerações se renovam e aquelas características não são genéticas. Mas as sociedades criadas por gente livre, quando os que ficaram eram servos, corajosa, quando os que ficaram lhes faltou ânimo, empreendedora, quando os que ficaram permaneceram apáticos, são sociedades que motivam os seus membros ao exercício da liberdade, às virtudes do trabalho e à busca da prosperidade e da felicidade. São sociedades que olham para a frente, para o futuro, enquanto as outras têm medo de encarar o futuro e reinventam o passado para explicarem, ou justificarem, a sua incapacidade e inanição actuais.
E se os EUA ganharam protagonismo na Europa, foi por necessidade vital desta, como reconhece Eduardo Lourenço: «Por mais imperialistas que nos pareçam hoje os desígnios hegemónicos dos Estados Unidos - pelo menos, de um dos EUA, aquele que se revê na tradição de Theodore Roosevelt e chega até Bush - esta intervenção nos assuntos europeus não foi (ou não foi só) de iniciativa, da então ainda inocente jovem América. Foi de conveniência da "velha Europa". Como, em tão pouco tempo, esse passado "salvador" dos EUA, se converteu - ao menos aos olhos de muitos europeus, em questão nossa, ou problema e, para alguns, - em "ameaça"?» ... «Como é que esta Europa, libertada duas vezes com a ajuda dos americanos (e, não pouco, dos soviéticos), se encontra nos alvores deste enigmático século XXI, de "candeias às avessas", para usar a expressão que convém ao nosso arcaísmo, com os detentores da luz do mundo, convertidos, como no mais puro dos seus sonhos de domínio, em "super-men" da História?»
Eduardo Lourenço não nos dá uma explicação, apenas reconhece que «O Império não tem exterior. Também a Europa, nos seus impérios sucessivos, o não tinha. Nós não jogamos já (ou ainda) na mesma divisão. A América não nos vê como nós gostaríamos de ser vistos para crer que ainda contamos no mundo. A maior parte do nosso tempo útil - político ou culturalmente falando -, gasta-se a saber o que a América "quer" ou "pensa". Mas esta aparente distracção, ou distanciamento da América e, em particular desta de Bush, em relação às "Europas" é um engano cego e pouco ledo. A América encarrega-se de "pensar" a Europa e na Europa, até porque ela está nela, mas não como estava quando lhe servia de escudo na sua luta contra o império soviético (e vice-versa). Ela pensa na Europa, onde reinou desde 1945 a 1989, como pensa nela como pedra de xadrez ainda importante no tabuleiro mundial. E só isso lhe interessa.».
E conclui: «Vae Victis. Ninguém venceu a Europa. Foi vencida por si mesma.», adiantando que «Pode ressuscitar», mas sem dar qualquer pista como essa ressurreição poderá ocorrer. Aliás, o estilo da comunicação é mais o de um epitáfio descoroçoado, que um apelo para que, no Dies Irae, o Senhor se compadeça da Velha Europa e a albergue no seu seio.
Há dias, no Público, José Manuel Fernandes, no artigo Derrotados?, propõe uma mezinha para a ressurreição da Europa. Segundo JMF, talvez «não seja inevitável sentirmo-nos derrotados como europeus se percebermos que o que hoje parece afastar irremediavelmente uma América triunfante de uma Europa acabrunhada teve origem no mesmo Velho Continente. E se sempre demos mais relevo ao Iluminismo francês, porque não questioná-lo à luz dos outros dois Iluminismos? [ JMF contrapõe aquele ao Iluminismo britânico]Talvez haja muito a aprender».
José Manuel Fernandes, os Iluminismos franceses, ingleses e alemães, para não referir os seus parentes mais pobres, não têm diferenças tão substantivas que possam justificar a Deriva dos Continentes que aflige Eduardo Lourenço. Há todavia no iluminismo francês uma diferença cortante, que está ligada à cabeça, mas não aos conceitos: os iluministas franceses que sobreviveram até 1793 foram todos guilhotinados!
A herança da França, do pensamento francês, mesmo o da direita, é a Revolução, que é glorificada no hino, com a sua letra sanguinária, nas comemorações da tomada da Bastilha, com as sua imponentes paradas militares, e cujos aspectos mais sanguinários do Terror, todos os intelectuais franceses (e da Europa continental) tentam branquear, ou varrer para debaixo do tapete. Mas esse vírus do terror e da intolerância como armas políticas ficou sempre latente na Europa Continental, agudizando-se nas épocas mais conflituais, elevado ao paroxismo do terror e da carnificina beligerante.
É essa a grande diferença entre os Iluminismos da Europa Continental e do mundo anglo-saxónico. Não é uma diferença em si, mas na forma como as suas heranças foram, ou não, subvertidas.
Notas:
(*) Ler, por exemplo:
Romanos, Gregos, Americanos e Europeus escrito em 4-Novembro-2004
Unilateralismo e poder escrito em 23-Janeiro-2003
(**)Basta observar a diferença entre a evolução da América anglo-saxónica e da América Latina. As gentes que as povoaram e moldaram as respectivas sociedades tinham vivências sociais diferentes, apesar de terem igualmente oribem na Europa.
Publicado por Joana às 07:10 PM | Comentários (26) | TrackBack
novembro 29, 2004
Descodificando o Código da Vinci 5
A Maldição dos Templários Les Rois Maudits
A Ordem, pela sua cupidez e riqueza, era temida e odiada pelas populações. No início do processo os povos estariam inclinados a aceitarem as acusações contra a Ordem. Todavia a iniquidade do julgamento e as execuções bárbaras de muitos cavaleiros e do mestre da Ordem fizeram com que as simpatias da posteridade, a cujos olhos a desapiedada violência do monarca foi o traço mais vivo deste drama, se inclinaram tanto mais decididamente a favor da Ordem quanto mais ambíguo era o papel nele desempenhado pela Igreja e quanto mais esta deu a entender, em interesse próprio, que a Ordem sucumbira inocente. Mas o que excitou mais a imaginação dos contemporâneos e da história foi a alegada maldição de Jacques de Molay e o destino subsequente do papa, do rei, dos seus filhos e noras, e da sua dinastia.
Há quem pretenda que Jacques de Molay, ao ver-se na fogueira, emprazou o rei e o seu cúmplice Clemente V a comparecerem dentro de um ano no tribunal de Deus e, devido a esta maldição, relaciona o vulgo as mortes de um e outro, ocorridas, a do papa, em 20 de Abril de 1314, menos de um mês depois da execução, e a de Filipe em 29 de Novembro do mesmo ano (faz hoje 690 anos). Na doença de que o rei foi acometido e nos reveses que caíram sobre a sua família, viram outros o castigo do céu pelo crime cometido contra a Ordem dos Templários.
Por sua vez, algumas semanas após o suplício, soube-se que as noras do rei, Marguerite da Bourgonha e Blanche de Artois, cometiam adultério com dois cavaleiros da corte e que Jeanne, a irmã de Blanche, e também nora do rei, estava ao corrente e dava cobertura. Foi a filha de Filipe IV, Isabel (*), casada com o rei de Inglaterra, Eduardo II, que denunciou as cunhadas ao pai, em Abril de 1314. Foi o chamado escândalo da Torre de Nesle, do local, onde segundo a lenda, se davam os encontros.
As duas adúlteras foram obrigadas a irem para o convento, em situação penosa (Marguerite sobreviveu poucos meses à clausura numa torre com todas as janelas abertas ao vento) e os amantes sofreram um suplício terrível: cortados aos pedaços ainda em vida, o sexo deitado aos cães, decapitados no fim. O castigo de Jeanne foi menos gravoso.
Para além da afronta à família real, do ónus da imoralidade que atingia, publicamente, pessoas da nobreza mais elevada, eram as próprias instituições e o futuro da dinastia que estava em risco. Quem certificaria que as noras de Filipe IV teriam filhos legítimos? O que se sabia do seu comportamento poderia ser utilizado para pôr em dúvida a legitimidade dos descendentes.
A Filipe IV sucedeu Luís X le Hutin (o Desordeiro) que apenas sobreviveu dois anos ao pai. Como a mulher (Marguerite) morrera em cativeiro, casou-se novamente, mas apenas teve um filho póstumo, João I, que só viveu 5 dias.
No curto reinado de Luís X, este ordenou, em 1315, a execução de Enguerrand de Marigny, o principal conselheiro financeiro de Filipe IV e um dos grandes responsáveis pela extinção da Ordem do Templo. A permanente crise das finanças tinha que ser resolvida, e que melhor solução se poderia encontrar senão mandar executar o encarregado das finanças? Enguerrand de Marigny foi executado e os seus despojos ficaram pendurados no cadafalso durante dois anos!
Após Luís X e o seu filho póstumo, cingiu a coroa Filipe V em 1316. Justificou o afastamento da sua sobrinha, filha de Luís X, do trono, por uma interpretação errónea da lei sálica. Todavia, a sua esposa reabilitada, Jeanne d'Artois, apenas teve 3 filhas e nenhum filho varão. Quando morreu, em 1322, a sua própria interpretação das regras da sucessão afastou as suas filhas do trono, e fez que fosse o seu irmão Carlos IV a suceder-lhe
Carlos IV divorciara-se de Blanche, casara novamente, mas morreu em 1328, sem herdeiro masculino.
Em face da extinção desta linha da dinastia dos Capetos, e perante os pretendentes, a nobreza escolheu Filipe de Valois, sobrinho de Filipe IV. Todavia Eduardo III da Inglaterra, neto de Filipe IV (era filho de Isabelle, a Loba de França) reivindicou o trono. Ia começar a guerra dos 100 anos.
Todos estes acontecimentos causaram profunda perturbação na época e a lenda da maldição dos Templários ganhou foros de verdadeira. O Papa e o Rei directamente responsáveis pelo suplício do Mestre do Templo morreram menos de um ano depois; todos os filhos do Rei reinaram sucessivamente, mas nenhum deixou descendência que pudesse cingir a coroa; o escândalo da Torre de Nesle, que veio a público menos de um mês após aquele suplício, deu uma machadada fatal à legitimidade da descendência de Filipe IV e causou a extinção da dinastia. O Conselheiro financeiro de Filipe IV, e o mais exaltado detractor dos Templários, foi executado um ano depois do suplício de Jacques de Molay.
E todos estes acontecimentos iriam fazer mergulhar a França e a Inglaterra na Guerra dos 100 anos.
Todas estas coincidências, espantosas e fatais, constituiriam fundamentos mais que suficientes para que surgissem as mais variadas lendas sobre os Templários. Algumas asseguram que a Ordem manteve-se viva, embora clandestina e que a maçonaria tem as suas raízes nela. Mas tudo isto não passa de lendas sem consistência histórica.
Nota (*): Muitos devem ter visto Sophie Marceau no papel de Isabel no excelente filme "Braveheart" de Mel Gibson. Neste filme Isabelle está pintada com cores muito benévolas. Os ingleses conheciam-na pela Loba de França, por causa do seu temperamento violento. Como o marido, com quem casara em 1308, se interessava mais por pajens, ela tomou por amante, de forma quase pública, Roger Mortimer. Segundo parece apressou a morte do marido, em 1327. Três anos depois, o seu filho, Eduardo III, atingiu a maioridade, mandou executar o amante da mãe e enviou esta para o convento.
Publicado por Joana às 12:38 AM | Comentários (19) | TrackBack
Descodificando o Código da Vinci 4
Os Templários A Queda
Ao nascer do dia da sexta-feira, 13 de Outubro de 1307, todos os templários de França são detidos nas suas comendadorias. Haviam passado dezasseis anos desde a queda de São João de Acre e o fim dos Estados Latinos do Levante. Ainda na véspera desse dia, o mestre da Ordem, Jacques de Molay, acompanhara o rei na cerimónia das exéquias da esposa de um irmão do rei. Essa detenção maciça, efectuada no mesmo dia, à mesma hora, nas cerca de três mil comendadorias repartidas por toda a França, representa sem dúvida nenhuma uma das operações policiais mais extraordinárias de todos os tempos.
Era necessário, para que surtisse efeito, que aquela operação tivesse sido minuciosamente preparada. Na realidade, a ordem de prisão fora enviada um mês antes, em 14 de Setembro de 1307, sob a forma de cartas fechadas, dirigidas aos bailios e senescais, com indicação de as abrirem numa determinada data. O texto dessas instruções continha acusações contra a Ordem do Templo, acusações essas que teriam chegado aos ouvidos do rei; ordenava que «se prendam todos os freires da dita Ordem, sem excepção nenhuma, se os mantenham prisioneiros e reservados para o julgamento da Igreja; que se apoderem dos seus bens, móveis e imóveis», e explicava cuidadosamente a maneira como se devia proceder: mandar fazer uma informação secreta sobre todas as casas dependentes da Ordem do Templo, situadas na circunscrição do bailio; escolher «homens probos e poderosos do país, ao abrigo da suspeita [...] e informá-los do trabalho a fazer, sob juramento e secretamente»; por fim, «em dia marcado, muito cedo», ir prender as personagens e apreender os bens.
Embora a operação minuciosamente montada pudesse ser considerada, em si, uma surpresa, já o mesmo não se poderia dizer dos riscos que corriam os Templários, cujo tempo corria então contra eles. A questão começara uma década antes na querela entre Filipe IV o Belo e o Papa Bonifácio VIII.
O clero francês havia-se dirigido a Roma queixando-se dos exorbitantes impostos que lhe exigia o rei, e do recente imposto de 2% sobre todos os bens eclesiásticos moveis e imóveis. Em vista disto, Bonifácio VIII publicou a bula Clericis laicos (1296), na qual se queixava da hostilidade que os leigos manifestavam contra o clero e contra a Igreja, e proibia aos leigos, sob pena de excomunhão, que recebessem contribuições ou impostos dos sacerdotes, ordenando ao mesmo tempo a estes que não pagassem nenhum, sem expresso consentimento do papa. Esta bula significava uma declaração de guerra à monarquia, que sem o auxílio do clero não podia subsistir, sobretudo numa época de transição entre o pagamento em espécie e o pagamento em dinheiro. É certo que o papa não nomeava a França directamente, mas ninguém duvidava que as suas ameaças se dirigiam a Filipe, o Belo, mais do que a qualquer outro.
A resposta de Filipe IV foi tão hábil quanto eficaz. No mesmo ano proibiu a exportação de cavalos, armas, dinheiro e objectos preciosos de França. Nesta disposição não se fazia a mais ligeira referência ao papa, apenas ao perigo da guerra na Flandres, mas indirectamente anulava quaisquer efeitos da bula papal, não permitindo a saída de França de bens para a cúria romana.
Embora a proibição de Filipe IV não fosse totalmente eficaz, pois a Ordem dos Templários conseguia iludir a proibição régia, secou-se a fonte dos abundantes recursos que a cúria ambiciosa costumava tirar de França, notando então Bonifácio VIII a oposição que existia entre as suas teorias e a ordem de coisas vigente.
Estas disputas conduziram a diversas picardias entre o clero francês, apoiado por Bonifácio VIII, e a coroa, à ameaça de convocação de um concílio para excomungar Filipe IV e ao episódio de Anagni (7 de Setembro de 1303), onde Guilherme de Nogaret, depois nomeado chanceler do reino, acompanhado de homens de armas, tentou raptar o Papa, com a pretensão última de o destituir. Foi a população de Anagni (situada a cerca de 40 kms a sul de Roma) e arredores que se sublevou e conseguiu impedir o rapto. Mas o Papa não se livrou de uns bofetões. Bonifácio VIII apenas sobreviveu um mês a esta cena violenta. O Papa que lhe sucedeu sobreviveu-lhe apenas um ano.
Numa tentativa de apaziguamento, e sob pressão de Filipe IV, o conclave elegeu um Papa francês, Clemente V, que se instalou em Avignon, por receio de ser vítima da hostilidade das populações italianas, e romanas em particular. Clemente V foi um fiel servidor de Filipe IV, eliminou as disposições tomadas por Bonifácio VIII e preparou, em conjunto com o rei de França, a operação que eliminaria a poderosa Ordem dos Templários e se apropriaria do seu riquíssimo espólio.
Portanto o autor do Código da Vinci equivoca-se ao colocar no Vaticano a sede do papado na época. Esta estava em Avignon (que na altura não pertencia à coroa francesa, mas ao Conde da Provença, dependente do Sacro Império), junto à fronteira dos domínios de Filipe IV, e aí permaneceu por mais 70 anos. Não foi a cúria romana a responsável pela destruição da Ordem, mas um Papa in partibus infidelis, eleito sob pressão de Filipe IV e que viveu para lhe satisfazer as vontades. Portanto as razões mais substanciais em que baseou a intriga são destituídas de fundamento.
Estas modificações na super-estrutura política e religiosa deveriam fazer reflectir os templários, mas tal não aconteceu. O mestre da Ordem, Jacques de Molay não parece que fosse pessoa clarividente e o poder de uma ordem que dispunha de uma força militar de 15 mil homens e de uma riqueza imensa parecia suficientemente sólido para arrostar com a animosidade do rei de França. Mas aquela força militar estava demasiado dispersa por toda a Europa para ser um argumento sólido contra a decapitação das suas chefias sedeadas em França.
No dia seguinte à prisão dos templários em França, um manifesto real é espalhado por Paris, tornando públicas as acusações contidas na ordem de detenção: os Templários seriam culpados de apostasia, de ultrajes à pessoa de Cristo, de ritos obscenos, de sodomia e, por fim, de idolatria. As suas infâmias manifestam-se, especialmente, aquando da admissão dos freires: obrigam-nos a renegar Cristo, três vezes, e a escarrar sobre o crucifixo; em seguida, despojados das suas vestes, são beijados na ponta inferior da coluna vertebral, no umbigo e na boca por aquele que os recebe; depois, obrigam-nos a prometer entregar-se à sodomia, se isso lhes for pedido; finalmente, adoram uma estatueta a que chamam Baphomet e trazem consigo um cordãozinho que foi, precedentemente, deposto sobre essa estátua. Baphomet, segundo parece o mais provável, seria uma corruptela de Maomé. Aliás os Templários eram acusados de manterem relações muito íntimas com o Islão e com o Velho da Montanha.
Em 16 de Outubro, Filipe, o Belo, dirigia aos príncipes e aos prelados da cristandade cartas incitando-os a imitá-lo e a mandar prender os templários que se encontrassem nos seus Estados. Essas cartas só obtiveram três respostas favoráveis: a do duque da Baixa Lorena; de Gérard, conde de Juliers, e a do arcebispo de Colónia. O bispo de Liège, o rei de Aragão, o rei dos Romanos (Alberto) respondem-lhe que o assunto é da competência do papa. Quanto ao rei de Inglaterra, Eduardo II (genro de Filipe, o Belo), longe de se deixar convencer, iria ele próprio escrever aos reis de Portugal, de Castela, de Aragão e da Sicília, para lhes pedir que não agissem senão depois de madura reflexão, pois as acusações formuladas contra o Templo lhe pareciam ditadas pela calúnia e pela cobiça.
No mês seguinte, cento e trinta e oito prisioneiros são interrogados em Paris, na sala baixa do Templo, peto inquisidor de Paris, depois de terem passado pelas mãos dos oficiais do rei, que, de conformidade com as instruções contidas nas cartas fechadas, empregaram «a tortura, em caso de necessidade». De facto, trinta e seis dos presos deveriam morrer em consequência dessas torturas. Perante o inquisidor, apenas três deles negaram ter cometido os crimes de que os acusavam
Embora Clemente V dirija a Filipe, o Belo, uma discreta carta de protesto contra as torturas, publica em 22 de Novembro a bula Pastoralis praeminentiaie, onde ordena a todos os príncipes da cristandade que prendam os Templários que se encontram nos seus Estados. Explica que se vira obrigado a tomar essa medida pelas confissões dos templários de França e que certos templários em serviço na cúria romana lhe teriam confirmado o bem fundado dessas confissões; seria efectuado um processo eclesiástico, em seguida ao qual, se a Ordem fosse reconhecida inocente, todos os seus bens lhe seriam devolvidos; caso contrário, esses bens seriam consagrados à defesa da Terra Santa.
O processo foi-se arrastando. A ordem era poderosa e tinha muitos defensores, nomeadamente nos países não sujeitos à coroa francesa. Em 1310, uma proclamação dos seus defensores afiançava que «Se os freires do Templo disseram, dizem ou viessem a dizer no futuro, enquanto se conservarem na prisão, seja o que for contra eles, ou contra a Ordem do Templo, isso não traz prejuízo à Ordem acima citada, porque é notório que falaram ou falarão forçados ou obrigados ou subornados pelos pedidos, pelo dinheiro ou pelo receio; e declaram que o provarão em tempo e lugar quando usufruírem de uma plena liberdade [...] Eles pedem, suplicam, requerem que sempre que actos sejam examinados nenhum laico esteja presente ou possa ouvi-los, nem nenhuma outra pessoa de cuja honestidade se possa duvidar com razão [...].»
Por fim, fazem notar que, fora de França, não se encontrou nenhum freire do Templo que dissesse ou apoiasse as «mentiras» proferidas contra a Ordem. Por conseguinte, a defesa do Templo estava a organizar-se e, aos olhos dos comissários eclesiásticos, tomava um novo aspecto. Era preciso agir. Em fins de 1311 reúne-se um concílio, em Vienne, no Delfinado, onde Clemente V, apoiado pelos prelados favoráveis a Filipe IV e numa situação «logística» onde os restantes teriam dificuldades em opor-se aos desígnios do rei, pretendia extinguir a Ordem.
Na verdade, Vienne tornou-se naqueles dias o pólo de atenções do favoritos do rei, como Enguerrand de Marigny e alguns conselheiros laicos de Filipe, o Belo. O próprio rei apresentou-se em pessoa, em Vienne, em 20 de Março de 1312 seguido de um grande cortejo. Dois dias depois, em consistório secreto, Clemente V faz aprovar a supressão da Ordem do Templo, pela bula Vox in excelso; o texto desta bula não condena a Ordem, mas invoca o bem da Igreja, para. pronunciar a sua supressão. Semanas depois a bula Ad providam atribui à Ordem do Hospital os bens dos Templários.
Restavam as chefias dos templários. A sua sentença foi proclamada em 18 de Março de 1314. No próprio dia foi preparada uma fogueira, perto do jardim do palácio. Nessa mesma tarde Jacques de Molay, o mestre da Ordem, e Geoffroy de Charnay subiram para o estrado onde se encontrava a pira. Pediram para ficar de cara voltada para Notre-Dame, clamaram mais uma vez a sua inocência, declarando que o único crime que haviam cometido fora o de se terem prestado a fazer falsas confissões para salvarem a vida. A Ordem era santa, a Norma do Templo era santa, justa e católica. Não haviam cometido as heresias e os pecados que lhes atribuíam. E diante da multidão paralisada de espanto, morreram com a mais tranquila coragem.
O rei de Portugal, D. Dinis, procedeu neste caso, com toda a sagacidade que lhe era própria. Parece que, num relance, vira toda a questão e as vantagens que dela poderia tirar para a nação. Cumpriu a bula pontifícia discreta e de forma calculista. Mandou instaurar processo judicial contra os Templários residentes no País, dando-lhes todavia o tempo necessário para poderem furtar-se a eventuais consequências. Os agentes do rei apoderaram-se dos bens da Ordem com fundamento de que haviam sido ilegalmente separados da coroa. O rei suspendeu quaisquer reclamações do clero regular sobre quaisquer daqueles bens e ordenou a penhora das propriedades em litígios, com fundamento na ausência do mestre e dos freires, protelando a questão até que houvessem apresentado a sua defesa perante o pontífice e dele tivessem recebido sentença final. Tratou igualmente de estabelecer uma convenção com o rei de Castela, em 1310, para o caso de a Ordem, como se suspeitava, vir a ser eliminada, e, por essa convenção, os dois monarcas comprometiam-se a auxílio recíproco e conduta comum, destinada a assegurar ao reino respectivo os bens e rendimentos dos Templários em cada país. No mesmo ano, o concílio de Salamanca, reunido a mandado do papa, investigava sobre a conduta dos freires nos três reinos de Portugal, Leão e Castela, e foi declarada por unanimidade e lealmente a sua inocência e inculpabilidade. Depressa o rei de Aragão procedia como os dos três reinos, de modo que, quando Clemente V, em 1312, suprimia a Ordem e concedia à do Hospital todos os seus bens, os reinos peninsulares ficaram exceptuados e apenas obrigados os respectivos soberanos a nada alienar sem a resolução definitiva da Santa Sé.
Todavia a coroa portuguesa acabou por não ficar com os bens da Ordem do Templo, ou pelo menos com a sua totalidade. As disputas com a Santa Sé acabaram numa solução de compromisso esta aprovaria a criação da Ordem de Cristo e faria a transferência para ela dos bens dos Templários, que foi o que veio a acontecer.
Resumindo, a supressão da Ordem e o processo dos Templários liquidou fisicamente algumas centenas de membros da Ordem, e fundamentalmente em França. A imensa maioria dos membros da Ordem sobreviveu, quer mudando de Ordem, quer passando à vida civil, quer ingressando no clero regular, etc. Apenas as chefias francesas foram decapitadas. Isto deve ser tomado em consideração ao ler o Código da Vinci, pois fica-se com uma ideia errada do grau de destruição dos membros da Ordem dos Templários.
Publicado por Joana às 12:16 AM | Comentários (14) | TrackBack
novembro 28, 2004
Descodificando o Código da Vinci 3
Os Templários Nascimento e Ascensão
Após a conquista de Jerusalém (em 1099), a situação era precária e havia a convicção entre muitos cruzados da posição difícil em que se encontravam. Dominavam toda a costa do Levante Principado de Antióquia (conquistada em 1098) e Condado de Edessa (regiões agora incluídas na Turquia e na zona costeira da Síria), o Condado de Tripoli (o actual Líbano) e o Reino de Jerusalém (actualmente Israel, Gaza, Cisjordânia e parte da actual Jordânia), mas eram demograficamente muito minoritários nas terras que dominavam e estavam rodeados por estados árabes hostis.
Das três grandes ordens militares criadas na Terra Santa, a Ordem do Templo foi a única fundada, não com o intuito de auxiliar peregrinos e doentes, mas sim para combater imediatamente os infiéis e proteger as rotas dos peregrinos. Os seus documentos oficiais designam-nos por Fratres militiae Templi ou Pauperes commilitones Christi Templique Salomonis. Foi fundada em 1119 por Hugo de Payens e Geoffroy de Saint-Omer. Outros seus companheiros aderiram elevando para nove o número de cavaleiros que constituíram inicialmente a ordem. Posteriormente muitos outros foram aderindo.
Nove anos depois foi confirmada pelo papa, a pedido de S. Bernardo de Claraval, que lhe deu o estatuto e escreveu um livro em louvor dos Templários. Alguns anos depois, o rei de Jerusalém, Balduíno II, por se ter ido instalar na Torre de David, cedeu aos «Pobres Cavaleiros de Cristo» (é o nome que eles inicialmente escolheram para designar o grupo a que pertencem) essa primeira residência real, a que chamam o Templo de Salomão, e que os Muçulmanos haviam transformado na mesquita Al-Aksa. A partir desse momento, a ordem passa a ser designada pela Ordem do Templo e os seus membros os Templários. A regra ditada por S. Bernardo, extremamente severa e promulgada no Concílio de Troyes, parece ter decaído rapidamente da primitiva austeridade que a aproximava da regra da Ordem de S. João (Hospitalários), sem que, todavia, essa regra tivesse afastado pretendentes à ordem, que, em grande número, a preferiram à do Hospital, talvez exactamente por não terem obrigação de prestar a doentes serviços muitas vezes desagradáveis.
A Ordem do Templo que nunca deixará de considerar como sua casa principal a casa dirigente, esse Templum Salomonis que sempre figurará no seu sinete constitui uma criação absolutamente original, pois fez apelo aos cavaleiros seculares para que dediquem a sua actividade, as suas forças e as suas armas ao serviço daqueles que precisam de ser defendidos. Por conseguinte, concilia duas actividades que pareciam incompatíveis: a vida militar e a vida religiosa. E, efectivamente, muito cedo compreendem a necessidade de uma norma precisa que, ao mesmo tempo que reprima os seus membros evitando irregularidades sempre possíveis, lhes permita serem reconhecidos pela Igreja na função que exercem.
Como a maior parte das ordens religiosas dessa época, prevê diversas espécies de membros: os cavaleiros, que pertencem à nobreza (nessa época, apenas os nobres podem assumir a função militar) e que são os combatentes propriamente ditos; os beleguins e os escudeiros, que são os seus ajudantes e podem ser recrutados no povo ou na burguesia; os padres e os clérigos, que se encarregam do serviço religioso da Ordem; finalmente, os criados, artífices, os servos e outros ajudantes diversos.
Em 29 de Março de 1139, na bula do papa Inocêncio II, Omne datum optimum, ficarão estabelecidos os privilégios da Ordem. O principal desses privilégios é a isenção da jurisdição episcopal; a Ordem poderá ter os seus próprios padres, os seus capelães, garantindo a assistência religiosa e o culto litúrgico, e que não dependerão dos bispos da região. Um privilégio desses será contestado e dará origem a muitos problemas com o clero secular. A Ordem também fica isenta de pagar dízimas. Além dos Templários há apenas uma ordem que está isenta desse pagamento: a dos Cistercienses. E é compreensível que esse privilégio fiscal tenha suscitado numerosas invejas, pois favorecia os domínios pertencentes a essas ordens. Além disso, os Templários tinham o direito de construir oratórios e de serem enterrados dentro deles. Por conseguinte, a Ordem dispunha de uma grande autonomia e de grandes recursos, pois as doações afluíram. E as acusações de orgulho e de avareza encontrarão nelas uma base sólida à medida que a Ordem se for desenvolvendo. O Templo torna-se num Estado, transversal aos restantes Estados da cristandade.
A sua passagem pela Palestina ainda hoje é visível nas suas fortalezas de arquitectura poderosa e eficaz, como Monte Tabor. Mas a sua acção não se restringiu aos Estados Latinos do Levante. Implantou-se fortemente na península Ibérica, onde, desde os primeiros momentos, os Templários vieram para uma luta semelhante à que travavam na Palestina e Síria; houve também a Ordem de Alcântara, a de Calatrava, a de Avis, a de Cristo e é nesta última que os Templários sobreviverão depois de a sua Ordem ter sido suprimida, a de Santiago da Espada, etc.
São Bernardo, abade de Clairvaux, e que contribuiu para que no concilio celebrado em Tours, em 1129, se fixasse a sua regra, faz-lhes uma apologia em De laude novae militiae (escrita entre 1130 e 1136), onde exaltou as profundas virtudes do cavaleiro do Templo:
Em primeiro lugar a disciplina é constante e a obediência é sempre respeitada; vai-se e vem-se, consoante a ordem daquele que tem autoridade; anda-se vestido com o que ele deu; nem sequer passa pela ideia ir buscar comida e vestuário a qualquer outro lugar [...] Vivem lealmente em. comunidade, uma vida sóbria e alegre, sem mulher nem filhos; nunca estão sem fazer nada, ociosos, curiosos [...]; entre eles não há nenhuma preferência por ninguém: honra-se o mais valoroso, não o mais nobre [...]; detestam jogar os dados e o xadrez, detestam caçar [...]; têm o cabelo cortado à escovinha [...], nunca penteados, raramente lavados, o pêlo descurado e hirsuto; sujos de pó, a pele curtida pelo calor e a cota de malhas [...]
Enfim ... uma descrição pouco condizente com muitas ideias românticas existentes e pouco propícia a uma adaptação cinematográfica. Quanto a não terem mulher, convenhamos que aquele estado de imundície descrito pelo piedoso santo não era muito motivador. É claro que este trecho foi escrito uma década após a criação da Ordem, ainda durante o seu período heróico. Um século depois aquela descrição estaria certamente muito longe da realidade.
Enquanto viveram na Palestina, houve sempre uma emulação entre os Templários e os Hospitalários, que não poucas vezes se traduziu por lutas armadas. Com a queda de São João de Acre, em 1291, e o fim dos estabelecimentos latinos na Palestina (Jerusalém já tinha caído em 1187, Antioquia em 1268 e Trípoli em 1289), ambas as ordens se transferiram para Chipre, que Ricardo Coração de Leão tinha dado ao rei de Jerusalém. Aí continuaram as suas desavenças com os Hospitalários, que, provavelmente, lhes cobiçavam as riquezas. Mas enquanto os Cavaleiros do Hospital se mantinham no Mediterrâneo Oriental (Chipre, Rodes), os Templários concentravam-se no Ocidente da Europa.
Na Península Hispânica mantiveram a sua acção militar, mas em França, na Inglaterra e no Império, onde não a podiam empregar, dedicaram-se sobretudo a uma actividade financeira que os tornou odiosos à maior parte das populações. Torneavam as disposições da Igreja que proibiam os cristãos de exercer usura, arrendando os seus bens por preços superiores aos que figuravam nos contratos. O seu grande poderio financeiro pô-los em oposição com os soberanos, que defendiam os interesses dos seus vassalos; por vezes demonstravam orgulho extraordinário nas relações com o poder real. Eram, por assim dizer, um Estado dentro do Estado e, muitas vezes, grave elemento de perturbação contra ele.
Na Península Ibérica, pelo contrário, tiveram actuação de relevo, reconhecida pelos reis e por estes recompensada com benefícios importantes. Os seus bens eram, por disposição da Igreja, isentos de muitos impostos, como os censos eclesiásticos gerais, e da jurisdição episcopal, mas, além disso, todos os reis peninsulares lhes concederam privilégios especiais e lhes fizeram importantes doações de territórios, que muitas vezes eram situados na fronteira, por preferirem sempre combater na vanguarda dos cristãos, mas também receberam benefícios importantes em pontos onde não tinham de combater, como os que lhes foram proporcionados pelos arcebispos de Braga. A sua acção no repovoamento de Portugal foi importante nas regiões de que eram donatários, além da intervenção importante que tiveram nas lutas da Reconquista. O seu chefe usou vários nomes: mestre, procurador, etc. Por vezes havia um só mestre nos três reinos: Portugal, Castela e Leão. Aragão manteve-se sempre autónomo.
A Ordem, progredindo rapidamente, adquiriu consideráveis bens e grandes rendas que lhe permitiram desenvolver cada vez mais a sua actividade. A maioria dos cavaleiros iniciados nesta Ordem era francesa e tinha entrado nela sob a influencia de S. Bernardo, antes da tomada de Jerusalém (1187).
Aos cavaleiros templários reconhecia-se a gloria do seu valor militar, mas em compensação censurava-se a sua ambiciosa política, que sempre antepôs os interesses da Ordem aos de toda a cristandade, podendo aduzir-se em prova disto, as ambíguas relações que manteve com o Islão. Esta Ordem procurou ampliar os seus domínios mesmo à custa dos magnates e príncipes cristãos, e desde o principio que mostrou uma excessiva cobiça. Como podia dispor de imensos recursos pecuniários, chegou a ser uma verdadeira potência financeira. Quando ocorreu a catástrofe da sua supressão, no início do século XIV, o seu capital em bens imóveis ascendia entre 3 a 6 mil milhões de euros (segundo estimativa minha em termos de poder de compra actual); e quanto a rendas, dízimos, juros, etc. receberia cerca de 200 milhões de euros anuais, igualmente estimativa minha.
Esta riqueza, superior à de um monarca de então, harmonizava-se muito mal com a pobreza imposta pelos estatutos dos «Irmãos Pobres do Templo», principalmente porque só uma pequena parte dela se aplicava aos fins para que a Ordem tinha sido criada e em beneficio dos Lugares Santos. Além disso, a Ordem não só se entregava à construção naval, mas dedicava-se a grandes empresas mercantis: nas suas galeras transportava todos os anos milhares de peregrinos para a Palestina, e o privilégio de introduzir, sem pagar direitos, os artigos exigidos pelas suas necessidades, permitiu-lhe dedicar-se a especulações em grande escala.
Como intermediária do tráfico entre o Oriente e o Ocidente, a Ordem adquiriu excepcional importância para o tráfico de dinheiro; nas suas seguras e rápidas galeras enviavam os papas as quantias destinadas à Terra Santa, confiando-as à guarda e administração da Ordem. Também serviu de intermediária noutras operações financeiras. A sua casa principal de Paris, o Templo, converteu-se numa espécie de Bolsa internacional, onde faziam as suas transacções os comerciantes dos países mais distantes: até os próprios príncipes se valiam dela, pois os reis de França depositavam ali os seus tesouros e realizavam nela as cobranças e os pagamentos. A Ordem não fazia naturalmente todos estes negócios por simples amor ao próximo, e sem lucro algum, cobrando obviamente comissões vultuosas, que pagavam os riscos das transferências, mas também a cupidez dos «Irmãos Pobres do Templo». A Ordem dos Templários, que era uma potência militar e uma riquíssima proprietária com a qual ninguém podia competir, veio deste modo a ser também uma grande potência financeira, cujo favor imploravam os reis, seus devedores. O próprio Filipe IV, o Belo, o seu futuro carrasco, teve que valer-se da importância da Ordem.
Com a queda dos estabelecimentos cristãos do Levante e o fim da Reconquista na Península (a partir de meados do século XIII restava apenas o pequeno Reino de Granada, que durou ainda dois séculos), terminara a sua antiga missão militar e uma vida de indolência e de prazeres precipitou a sua degradação. A opinião pública odiava-a, acusando-a de soberba: o povo não só atribuía aos seus membros um brutal empenho pelos prazeres, um grosseiro egoísmo e erros da pior espécie, senão que também dizia que tinha incorrido secretamente em heresia passando-se ao islamismo.
O ódio votado à Ordem do Templo tem, no fundo, as mesmas raízes do ódio aos judeus. A Igreja considerava pecaminosas e indignas de um cristão as actividades que envolvessem lucros, as actividades financeiras, os usurários, etc. Santo Agostinho, exprimira o receio de que o comércio afastasse os homens do caminho de Deus; e a doutrina de que nullus christianus debet esse mercator ( Nenhum cristão deve ser mercador) era geral na Igreja da Idade Média, embora com as cruzadas tivesse começado a haver uma evolução dos valores éticos da cristandade face ao comércio e usura. Portanto era fácil a revolta dos povos serem canalizadas contra judeus e templários. Foi o mesmo processo que, em pleno século XX, Hitler e os nazis utilizaram na Alemanha. Aliás, por vezes eram os monarcas que serviam de freio a tentativas de perseguição dos judeus, como sucedeu em Portugal nos séculos XIV e XV.
A própria cúria dirigiu severas censuras contra a Ordem e propôs-se rever e reformar o seu estatuto, propondo, por exemplo, fundir a Ordem dos Templários com a dos Hospitalários. Apesar de todas estas advertências, a Ordem, convencida da sua inexpugnável posição, resistiu com um certo desprezo à opinião publica que se lhe manifestava hostil, o que foi interpretado como confirmação dos rumores que circulavam.
Desde a criação de um clero especial para a Ordem, os sacerdotes que entraram ao serviço desta ficaram isentos de qualquer outra dependência eclesiástica, e nem mesmo estavam subordinados ao bispo em cuja diocese exerciam as suas funções. Em situação análoga estavam os leigos filiados. Nos seus domínios construiu a Ordem templos e capelas, provendo-os dos sacerdotes necessários: com eles nada tinha que ver o bispo, de cuja jurisdição se eximiram também todas as antigas capelas ou igrejas, que passaram ao poder dos templários. Sobre eles nem o bispo nem o pároco respectivo tinham poder algum para castigar, não podendo, portanto, lançar-lhes a excomunhão, nem pô-las em interdito. De sorte que vastas comunidades e com frequência extensos territórios ficavam fora da autoridade da Igreja. Isto causava, como era natural, graves prejuízos económicos ao episcopado e ao clero paroquial. Daqui a luta contínua dos bispos e dos párocos contra a Ordem: mas todos os seus esforços malograram-se sempre pela atitude dos papas que apoiaram a Ordem com toda a sua autoridade e aumentaram constantemente os seus privilégios. Os bispos consideravam que com isto a cúria rebaixava a consideração que lhes era devida. Por exemplo, quando um bispo ou um padre se recusavam a dar a alguém sepultura sagrada, resolvia-se esta dificuldade enterrando-o numa igreja da Ordem. Por todas estas causas nasceu entre o episcopado e o clero paroquial por um lado e a Ordem por outro, uma inimizade mortal, que motivou intermináveis queixas, mútuas recriminações, processos, e não poucas vezes, actos violentos de defesa própria.
Sob outro ponto de vista, os templários emanciparam-se pouco a pouco da Igreja. Alexandre III permitiu aos cavaleiros do Templo que se confessassem aos clérigos da Ordem por eles nomeados, concessão que, na prática, veio a converter-se no principio de que os templários só a esta classe de sacerdotes podiam confessar-se. E, como estes estavam completamente fora da influencia do episcopado, a Igreja não tinha qualquer influência sobre a Ordem e não podia exercer qualquer vigilância sobre as suas crenças e sobre a sua vida. Alexandre III concedeu além disso ao grão-mestre da Ordem o direito de alterar a regra, depois de se ter aconselhado com os «prudentes» irmãos, e deste modo a regra de Troyes perdeu a sua importância constitucional, e a Ordem adquiriu neste sentido a fisionomia estranha com que se nos apresenta no século XIII e que era filha da profunda mudança de ideias produzida pelas Cruzadas. Fim consequência do desengano sofrido com as derrotas sofridas no Oriente, rejeitou-se por erróneo o sistema até ali seguido, e os povos, separando-se do pontificado, criticaram acerbamente a Igreja e acabaram por duvidar do cristianismo. Formaram-se então associações piedosas que, em oposição à Igreja dominante, creram cada uma delas conter em si a ciência, o valor e a missão da Igreja. Surgiram então os valdeses; o sul da França viu-se dominado pelos albigenses, e um sem numero de seitas esquecidas, como a dos bogomílos e outras, deram novas e cada vez maiores mostras da sua actividade.
Portanto a mensagem transmitida pelo Código da Vinci de que haveria uma luta de morte entre a Ordem do Templo, guardadora de um segredo terrível, e a Igreja Romana que pretendia que esse segredo não viesse a lume, é completamente insensata. Foi exactamente a cúria romana a principal defensora da Ordem contra as queixas do clero regular, apoiado pelos povos, que a odiava pela sua riqueza e por se ter eximido às regras que a restante cristandade cumpria. Quando o Papa deixou de defender a Ordem, deu-se a tragédia.
No fim do século XIII a Ordem do Templo era mais rica e poderosa que nunca. Mas tinha criado tantos ódios e invejas que o seu futuro só na aparência era seguro.
Publicado por Joana às 11:57 PM | Comentários (5) | TrackBack
Descodificando o Código da Vinci
O papel da Igreja Oficial
Depois de ter resistido longos meses, acabei por capitular perante o entusiasmo popular ... não, não comecei a ver a Quinta das Celebridades, ...não estou assim tão desmuniciada e indefesa ... aproveitei este fim de semana e li o Código da Vinci!
Trata-se de um absorvente romance policial, jogando com a sede pelo esoterismo misterioso de uma sociedade que já não se reconhece nos seus valores tradicionais e que busca refastelar-se em mistérios baseados numa amálgama de religião, magia, mitologias, ocultismo e histórias fantásticas. Para mim o livro foi absorvente porque me perguntava como ia o autor sair da embrulhada que tinha criado e que ia empolando de capítulo para capítulo. Optou pela solução óbvia de regressar às origens ... isto é, o mistério continuar oculto dos olhos da humanidade ... excepto dos seus milhões de leitores.
Relativamente à herança cristã dos ritos orientais, eu já havia escrito neste blogue, no Natal do ano passado, Semiramis e o Natal, onde mostrei, embora em tom ligeiro, que muito da liturgia cristã é herdeira dos ritos e ícones de religiões anteriores, e resumi escrevendo que «A gestação do cristianismo durou vários séculos num meio político que o hostilizava. A religião cristã acabou por incorporar na sua liturgia imensos símbolos das religiões que a precederam a Virgem e o menino, o Natal, a Páscoa, o halo que se perfila por detrás da cabeça de Cristo (posteriormente alargado às representações dos santos), que representa uma reminiscência simbólica do sol invencível, etc.».
No que se refere ao pretenso "Priorado de Sião", julgo que se trata de um embuste inventado há duas ou três décadas. E a menos que me provem o contrário continuarei a dar ao "Priorado de Sião" o mesmo valor que a "Os Protocolos dos Sábios do Sião" que se descobriu ser uma fraude feita na Rússia pela Okhrana (policia secreta dos Czares), com o intuito de culpar os Judeus pelos males do país.
No que se refere à vida de Cristo, as fontes são os Evangelhos, sobre os quais existem dúvidas sobre a autoria, a época e sequência em que foram escritos. Pensa-se, por exemplo, que o Apocalipse seria o primeiro documento do Novo Testamento, escrito ainda no século I, pois a doutrina aparenta estar menos elaborada que nos restantes escritos. Basta ver a sua referência à Babilónia prostituída (Roma) que indiciava um ódio ao poder e às instituições romanas que depois se foi diluindo ... a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Portanto, contrariamente à ordem do Novo Testamento, o Evangelho segundo S. João seria o primeiro que foi escrito e não o último.
Assim, admitindo que este evangelho tivesse sido escrito entre 80 e 90 DC, então a versão oficial dos restantes teria sido escrita em meados do século II, portanto cerca de um século após os factos a que se refere. O tempo suficiente para muitas lendas se terem criado e acrescentado. Aliás há contradições entre esses evangelhos, como no caso de Jesus Cristo ter ou não irmãos.
Todavia, existe um outro testemunho da época. Flávio Josefo, judeu, escreveu sobre Jesus nas Antiguidades Judaicas 18,3,3 parágrafos 63 e 64, por volta do ano 95 dC. Existem, porém, duas versões sobre o mesmo trecho, uma mais antiga, em língua grega, que refere Jesus como o Messias, e uma tradução árabe que omite tal coisa. Aquela afirmação, no texto grego, poderá ser uma interpolação acrescentada posteriormente por piedosa mão cristã; mas também poderá ter sido omitida no texto árabe por motivos óbvios. Mesmo que o texto grego seja integralmente genuíno, poderá ser, todavia, uma opinião do Flávio Josefo, baseada no ouvir dizer.
Esta discrepância constata-se ao comparar Orígenes (185-254) na Polémica contra Celso (245-50 DC) e Eusébio de Cesareia (260-339) na História Eclesiástica (324 DC). Orígenes acusa Flávio Josefo de não reconhecer Cristo como o Messias, enquanto que o Bispo Eusébio o cita na sua versão actual. As versões que ambos citam não são idênticas. Quanto aos dois textos (grego e árabe) são os seguintes:
Texto Grego:
Naquela época vivia Jesus, homem sábio, se é que o podemos chamar de homem. Ele realizava obras extraordinárias, ensinava aqueles que recebiam a verdade com alegria e fez-se seguir por muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. E quando Pilatos o condenou à cruz, por denúncia dos maiorais da nossa nação, aqueles que o amaram antes continuaram a manter a afeição por ele. Assim, ao terceiro dia, ele apareceu novamente vivo para eles, conforme fora anunciado pelos divinos profetas e, a seu respeito, muitas coisas maravilhosas aconteceram. Até a presente data subsiste o grupo dos cristãos, assim denominado por causa dele.
Texto Árabe:
Naquela época vivia Jesus, homem sábio, de excelente conduta e virtude reconhecida. Muitos judeus e homens de outras nações converteram-se em seus discípulos. Pilatos ordenou que fosse crucificado e morto, mas aqueles que foram seus discípulos não voltaram atrás e afirmaram que ele lhes havia aparecido três dias após sua crucificação: estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre o qual os profetas anunciaram coisas maravilhosas.
A possibilidade de todo o trecho ser inserto posteriormente é inverosímil. Não me parece crível que, havendo várias versões daquele texto, todas inventassem aquele sub-capítulo. Repare-se que não é só a interpolação de um sub-capítulo seria toda a renumeração do capítulo 3 do Livro XVIII. Por outro lado essa inserção teria de ter sido feita numa época em que a Igreja ainda era perseguida e, de forma alguma, detinha as rédeas do poder, da cultura e do conhecimento, o que não é credível.
Tácito, historiador bastante consciencioso, nascido em 55 DC, relatou a perseguição desencadeada contra os cristãos pelo imperador Nero, logo após o incêndio de Roma ocorrido no ano 64 DC. (cf Anais, livro XV,44, escrito no início do séc. II (entre 115 e 120 dC)):
Nenhum meio humano, nem os gestos de generosidade do imperador [Nero], nem os ritos destinados a aplacar [a ira] dos deuses, faziam cessar o boato infame de que o incêndio havia sido planejado nas altas esferas. Assim, para tentar abafar esse boato, Nero acusou, culpou e entregou às torturas mais deprimentes um grupo de pessoas que eram detestadas por seu comportamento e que o povo chamava "cristãos".
Este nome lhes provém de Cristo, [um homem] que no tempo de Tibério havia sido entregue ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Reprimida no momento, essa execrável superstição surgiu novamente, não apenas na Judéia - seu lugar de origem - mas também em Roma, onde tudo aquilo que há de ruim e vergonhoso no mundo chega e se espalha.
É óbvio que estes textos poderão incorporar muito do ouvir dizer, embora sejam dois autores muito credíveis e nenhum deles cristão. Ainda no que respeita a fontes não cristãs temos Suetónio que, na sua obra "Vida dos Doze Césares" XXV,4 (por volta de 120 dC), alude à expulsão dos judeus de Roma ocorrida em 41 dC, sob o imperador Cláudio. O decreto de expulsão seria, segundo ele, resultado dos constantes distúrbios ocorridos nas comunidades judaicas em Roma em virtude de Cristo. Também é de referir as cartas entre Caio Plínio (Plínio o moço), governador da Bitínia entre 111 e 113, e Trajano, imperador de Roma entre 98 e 117 dC, onde Plínio solicita instruções de como proceder perante as denúncias contra os cristãos, o que indica que estes já seriam numerosos na Ásia Menor.
Obviamente que parte destes testemunhos foram por ouvir dizer. Todavia são textos de autores conscienciosos (Tácito, Suetónio, Plínio e Josefo), que não eram cristãos, que fazem fé e autoridade nas suas obras. Se aceitamos os seus testemunhos para fazermos a história daquela época, não podemos contestar liminarmente os testemunhos que, por qualquer motivo, não nos convêm. Aliás, nenhum dos textos acima prova a alegada natureza divina de Cristo.
Existem igualmente documentos cristãos do século I: Didaqué - um catecismo cristão escrito entre 60 e 90 d.C. As epístolas de Inácio de Antioquia (morto em102), o Cânon de Muratori, Clemente de Roma, tudo escritores e escritos do início do século II e Tertuliano (Apologeticus, De Spectaculis, etc.), nascido em 155.
A partir desta época a doutrina cristã já estava estabelecida, em linhas gerais, tal como a conhecemos hoje embora, por exemplo, tivesse sido apenas no século IV, que o 25 de Dezembro passou a ser a festa do "Dies Natalis Domini", por decreto papal. Antes aquele dia, embora já fosse o maior feriado em Roma, assinalava a festa mitraista do Natalis Solis Invicti. Os documentos coevos que não se inseriam na leitura oficial da Igreja sobre a vida de Cristo passaram, com seria óbvio, a documentos apócrifos do ponto de vista da ortodoxia eclesiástica, embora sejam conhecidos
Acusa-se frequentemente a Igreja de ter destruído os documentos que não lhe convinha. Na Europa Ocidental, a Igreja deteve o monopólio da cultura durante toda a Alta Idade Média. Mas, na destruição da maioria dos textos antigos, a Igreja apenas teve uma quota-parte e, provavelmente, a menor. Os textos antigos perderam-se:
1 por motivos naturais (eram materiais perecíveis e o uso vai-os degradando)
2 por catástrofes naturais (incêndios, terramotos, etc.)
3 por pilhagens, saques, etc. decorrentes das guerras;
4 para o seu suporte ser reutilizado. O pergaminho era caro e os monges, e não só, para escreverem coisas mais úteis devem ter raspado (feito palimpsesto) muitas preciosidades antigas por ignorância;
5 por maldade, ou antes, por uma visão perversa da fé.
Os últimos séculos do Império Romano foram, de todos os pontos de vista, uma época de terrível decadência as populações (na maioria escravos) vegetavam na mais degradante miséria e desnutrição, para sustentar uma camada social ociosa e numa grande decadência cultural, apoiada num exército que consumia todo o erário público. Muita da cultura antiga perdeu-se nesta época, e há muitos testemunhos que provam isso. Quando um sucessor de Constantino, o Imperador Juliano, apesar da sua capacidade, tentou restaurar a cultura antiga, não teve qualquer apoio. A cultura clássica estava morta. Do ponto de vista social, os novos regimes impostos pelos invasores germânicos, descontada a violência de actuação (mitigada todavia pela Igreja), traduziram-se numa melhoria significativa de vida. O mesmo aconteceu com os árabes que implantaram sociedades mais justas e humanas.
Por outro lado, havia muitas correntes e seitas dentro da Igreja que nem o Concílio de Niceia, nem o poder do Imperador Constantino conseguiram vergar. A Igreja Católica só teve poder absoluto sobre o conhecimento, na Europa Ocidental. No Oriente e Egipto o cristianismo estava organizado em facções e seitas rivais que se combatiam arduamente e utilizavam todos os textos disponíveis nessas disputas. 3 séculos após Niceia deu-se a conquista árabe do Egipto e da Síria, e parte importante do acervo cultural da antiguidade clássica acabou por nos chegar por via árabe. Portanto a importância da Igreja Católica na destruição do que não lhe convinha é bastante relativa. Em contrapartida os mosteiros permitiram manter viva, copiando e recopiando, muita da cultura antiga, cujos suportes materiais eram perecíveis e se teriam perdido sem esse esforço.
Isto é o que se tem conseguido apurar sobre a génese do cristianismo. Neste entendimento o alegado episódio da união de facto entre Jesus Cristo e Maria Madalena é de somenos. Se as provas da existência e vicissitudes da vida de Cristo são tão discutíveis do ponto de vista da exegese histórica, se houvesse uma fonte credível dessa união e dos seus frutos, ela seria a prova mais evidente da existência física de Cristo. Para quê eliminar essa fonte? A Igreja medieval fá-lo-ia, mas a Igreja actual acolhê-la-ia de braços abertos e encontraria seguramente uma leitura favorável à sua interpretação de Cristo.
Publicado por Joana às 07:26 PM | Comentários (5) | TrackBack
novembro 04, 2004
Romanos, Gregos, Americanos e Europeus
Ou o Mistério dos Casos que se Repetem
... fazendo votos para que nem todos se repitam ...
Nos tempos de Filipe, pai de Alexandre Magno, a Grécia caiu sob o domínio macedónio, após Queroneia. Quer durante o reinado de Alexandre, quer, após a sua morte, durante a dinastia macedónia que se lhe seguiu, houve revoltas frequentes contra o domínio macedónio, principalmente inspiradas por Atenas. No tempo da 2ª Guerra Púnica, com as tropas de Aníbal em Itália e Roma em riscos de sobrevivência, Filipe V da Macedónia, aliado de Cartago, encetou uma série de guerras para lhe assegurar um domínio mais absoluto sobre a Grécia e sobre a Ásia Menor e ilhas do Mediterrâneo oriental, agravando o jugo sobre os gregos.
O Senado romano via com apreensão a guerra que se ia alastrando no oriente, mas devido às feridas e às provações sofridas pelo povo romano na terrível guerra contra Aníbal, não desejava envolver-se nos negócios dos gregos e do Oriente. Todavia, as queixas dos helenos, as crueldades praticadas por Filipe contra as cidades gregas, a severa punição que este exercia sobre os vencidos, o dever de não consentir na destruição dos seus antigos aliados de Rodes e Pérgamo e do próprio Egipto, o temor natural com que via o aumento de uma potência inimiga, a Macedónia, aumento que podia ser altamente prejudicial ao comercio siciliano e itálico, foram motivos que levaram o senado a julgar necessária uma nova guerra contra Filipe. Apesar disso tudo, os romanos não quiseram precipitar-se e procederam por forma que Filipe fizesse algo que pudesse ser considerado um casus belli. E isso aconteceu com o ataque macedónio às fronteiras da Ilíria, quase em simultâneo com a liquidação do exército de Aníbal em Zama.
Depois de algumas tentativas com pouco sucesso, o comando das tropas romanas foi entregue a Tito Quintus Flaminius, que desbaratou Filipe da Macedónia em Cinoscéfalos (Cabeças de Cão), em 197. A falange macedónia sucumbia perante a legião romana. A Grécia estava livre do jugo macedónio e à mercê de Flaminius.
Flaminius era um homem de talento, jovem (tinha então 30 anos) e pertencia a uma geração que conjugava as virtudes patrióticas e o culto ancestral pelos seus maiores, com o sentimento da sua individualidade e o apreço pela cultura cosmopolita. Hábil diplomata, Flaminius era um apaixonado pela cultura grega e helenista. E era um «liberal». Não destronou Filipe, apesar dos protestos dos aliados gregos que reclamavam que a vitória de Cinoscéfalos era devida a eles, à semelhança dos franceses, após a 2ª guerra mundial, que se vangloriaram de terem vencido a Alemanha e merecerem o estatuto de ocupantes. Isto embora Filipe tivesse ficado reduzido às fronteiras antigas da Macedónia, e obrigado a pagar uma indemnização de 1.000 talentos (qualquer coisa como 100 a 150 milhões de euros em moeda actual) e a manter, no máximo, uma frota de 10 navios e um exército de 500 homens, não podendo fazer guerra sem autorização do senado romano.
Flaminius, durante os Jogos Ístmicos de 196, em Corinto, proclamou que todos os povos e cidades gregas eram livres, deixavam de estarem sujeitos a guarnições e a tributos, e podiam governar-se pelas próprias leis. Os ouvintes, que estavam à espera que o jugo romano viesse substituir o jugo macedónio, ficaram atónitos ao saberem que doravante poderiam viver em paz, gozando da plena soberania como aliados naturais de Roma.
Os gregos não tiveram tempo de pôr em dúvidas as intenções de Flaminius, uma vez que ele retirou imediatamente o seu exército da Grécia. Contudo, depois de o terem saudado como libertador e salvador encontraram motivos de censura pelo facto de ele, ao retirar-se, ter levado algum espólio artístico (era, na verdade, um apaixonado pela cultura!) e de ter emancipado algumas cidades da Liga Etólia, que nela estavam contra vontade, coisa que não satisfez os gregos, que só queriam a liberdade para alguns deles.
E os gregos chamaram Antíoco, Rei dos Seleucidas (cujo centro do poder era a Síria, mas que dominava a maior parte da Ásia Menor, todo o Crescente Fértil incluindo Babilónia a Palestina e parte do Irão) para os libertar. Libertar de quê? Flaminius ao retirar, 6 anos antes, tinha-os deixado livres!
Pérgamo e alguns pequenos reinos, aliados tradicionais de Roma, e que estavam no caminho entre Antíoco e a Grécia, pediram então protecção a Roma. O Senado, que nunca acreditara nas experiências «progressistas e liberais» de Flaminius, enviou um exército comandado por Cipião o Africano, que em Magnésia (190) desbaratou completamente o exército muito mais numeroso de Antíoco e regressou a Roma, mas sem tocar nas cidades gregas.
Esta época de liberdade teve como resultado, para além da hostilidade e desprezo para com os seus libertadores romanos, o aumento da cizânia entre os gregos (etólios, aqueus, beócios, espartanos e atenienses). A consequência natural deste comportamento foi os romanos, logo que conheceram o estado de coisas e a gravidade da desordem administrativa, ora sangrenta, desconfiada e aleivosa, ora ridícula e ambiciosa, sentirem, em vez da anterior simpatia, uma irresistível tendência para procederem para com os gregos sem consideração de nenhuma espécie.
Todavia, durante alguns anos Roma insistiu nesta política de tolerância e respeito, muito semelhante à que os EUA praticaram com a Europa a seguir à 2ª Guerra Mundial. Só intervinha nos assuntos internos se fosse solicitada e procurava apoiar a ordem estabelecida. Por isso colhia antipatias generalizadas, de todos os descontentes, em quase todas as cidades gregas, quer da aristocracia e timocracia, quer do partido democrático.
Era óbvio que os gregos estavam cheios de razão em se sentirem humilhados e em desprezarem os romanos: A Grécia fora o berço de uma cultura extraordinária, fértil em obras filosóficas, ciência e literatura. Também foi onde nasceu o conceito de democracia e algumas das ideias a ela associadas, embora estas apenas tenham sido praticadas por um número muito reduzido de cidades-estado, de forma intermitente e por um máximo de cem anos (até à conquista macedónica de Atenas, em 338). E os romanos não passavam de gente sem capacidade e competência teóricas, apenas interessados em questões práticas e comezinhas, como construir estradas, aquedutos, conjuntos urbanos funcionais e administrar a coisa pública (leis e jurisprudência sobre contratos, propriedade, compra e venda, responsabilidade, difamação, sucessões e património, igualdade de todos os cidadãos perante a lei, bem como os procedimentos relativos à fixação da prova, etc.). Ah! ... e manter forças militares com uma organização, disciplina e eficiência, sem paralelo na história, para os meios e equipamentos de que então se dispunha.
Perseu, o descendente de Filipe, ao suceder-lhe no trono da Macedónia, tirou partido deste descontentamento e uniu-se às cidades gregas para uma guerra santa contra Roma. Perseu foi rapidamente vencido em Pidna por Paulo Emílio e os seus arquivos mostraram a dimensão da conspiração contra Roma e o papel das cidades gregas nessa conspiração. Todavia, Roma apenas prendeu e trouxe para a Itália os indivíduos envolvidos na trama. As cidades foram poupadas, embora tenham sido colocadas sob uma espécie de protectorado romano, com o objectivo de as impedir de constituírem uma potência militar capaz de incomodar o poder romano, nomeadamente através de alianças com os potentados do oriente helenista, os selêucidas em especial.
Neste intermédio pontificava, em Roma, Marco Pórcio Catão, um político com o instinto moralizador de Bush, que zelava pelos bons costumes e pela destruição do eixo do mal, na altura reduzido a uma Cartago já desmuniciada de ADM, mas ainda vigorosa na actividade comercial. Terminava os seus discursos no senado exclamando Delenda est Carthago que significava Cartago deve ser destruída. Muitos consideram que esta obsessão de Catão pela intervenção militar em África, se destinava a desviar as atenções dos romanos do Oriente, e da Grécia em particular, onde a corrupção dos costumes poderia vir a constituir um exemplo péssimo para a simplicidade, a frugalidade e a austeridade da vida romana. Da Roma profunda, como diriam agora ... ou da Roma rural, como alguns amantes das contradições nos termos usam também dizer, quando analisam resultados eleitorais.
Quando deflagrou a 3ª guerra púnica, os gregos julgaram ter uma oportunidade e reconstituíram a Liga Aqueia para promover a libertação da Grécia. Mas Roma já tinha poderio suficiente para combater em 2 frentes. As legiões romanas tomaram, saquearam e destruíram Corinto e venderam os seus habitantes (os que ficaram, porque a maioria tinha entretanto fugido) como escravos, em 146 (curiosamente o mesmo ano em que Cartago era destruída e o Estado cartaginês aniquilado definitivamente). A Grécia e a Macedónia foram reunidas numa única província com um governador romano. Apenas Atenas e Esparta ficaram com alguma autonomia.
Todavia, os gregos foram tratados com mais benignidade que a maioria dos outros povos conquistados. Sob o ponto de vista do direito público, as municipalidades gregas conservaram intacta a propriedade de bens e terras e, posteriormente, tiveram também o direito de administração e competência jurídica, não sofrendo nenhuma modificação as disposições, leis e costumes existentes, perdendo apenas o direito de fazerem política própria, de resolveram por si a paz ou a guerra e de se despedaçarem umas às outras em lutas internas. Atenas manteve inclusivamente o direito de cunhar moeda até à época da ditadura de Sila (cerca de 7 décadas depois).
Se não foi possível uma colaboração entre Roma e as cidades gregas livres, mas sempre descontentes, passou a haver uma colaboração a outro nível: a exportação de cérebros (muitos na condição de escravos) da Grécia para Roma. Os gregos que, como um povo livre, desdenharam colaborar com os romanos, foram, como escravos ou libertos, preceptores ou mestres de várias gerações de romanos em matérias como retórica, filosofia, teatro, literatura, etc.
Foi o tipo de colaboração que escolheram.
E Catão, que morreu octogenário no ano anterior ao da destruição de Cartago e Corinto, afinal teve razão: Graecia capta ferum victorem cepit (a Grécia capturada conquistou o bárbaro vencedor). Políbio, o historiador, um dos cérebros que naqueles anos emigrou para Roma, retratou esta ainda com costumes sóbrios, austeros, quase monásticos, o que muito o surpreendeu, vindo ele donde vinha. E Políbio considerou esse Roman way of life a base do poderio da república e da sua invencibilidade. No século que se seguiu, toda a sobriedade e austeridade romanas foram desaparecendo. A república desapareceu pouco depois, substituída por um império semi-republicano, que não solucionou a crise, e finalmente por um império despótico, uma imitação dos despotismos orientais que Roma havia liquidado facilmente 3 séculos antes.
Publicado por Joana às 10:58 PM | Comentários (33) | TrackBack
julho 25, 2004
A Importância da Igreja na Formação da Europa
Tem-se discutido, a propósito da Constituição Europeia, se se deve incluir ou não o papel do cristianismo na formação europeia. Esta discussão foi colocada, quer por ignorância, quer sobretudo por proselitismo, pró e contra, num contexto absolutamente errado.
O Direito e Jurisprudência romanas foram elementos fulcrais para a fundamentação do Estado de Direito e do governo limitado nos seus poderes. Todavia, se não fosse a existência da Igreja Romana todos esses conceitos seriam hoje apenas história e a Europa, politicamente, não se diferenciaria significativamente do mundo islâmico mais atrasado. Vejamos porquê:
No mundo romano da época da decadência, os conceitos relativos ao Estado de Direito e ao governo limitado tinham esvaziado a sua substância com a queda da república, transformando-se, pouco a pouco, em meros procedimentos ritualizados e acabaram desaparecendo face à orientalização do absolutismo monárquico.
Constantino, o primeiro Imperador cristão, mudou a capital de Roma para a vilória de Bizâncio, que ele engrandeceu e transformou na nova capital da România. Pretendeu criar uma capital sem os vícios republicanos e sem uma história plena de referências ao Estado de Direito. Levou para lá a sua corte e os dignitários mais relevantes. Uma personalidade não o acompanhou: o Bispo de Roma.
Ora esta decisão teve enorme importância histórica. No oriente, os patriarcas de Constantinopla, Antioquia, Alexandria, etc., tornaram-se reféns do poder do Estado. A Igreja Oriental ficou sob o controlo do Estado e deixou de ter papel dinâmico no processo social, tornou-se uma mera correia de transmissão do poder.
No ocidente, uma Igreja independente do Estado (ou dos Estados que se desenvolveram no ocidente), durante muitos séculos em permanente disputa com esses Estados, nomeadamente com o Sacro Império, permitiu que à sombra dessas disputas florescessem as repúblicas italianas, com burguesias locais poderosas e prósperas, movimento que se expandiu à Flandres, Alemanha e resto da Europa. Desde o Imperador romano Teodósio até à derrota definitiva dos imperadores germânicos pela posse da Itália, vários foram os monarcas que passaram pelas Forcas Caudinas do poder papal e lhe prometeram submissão absoluta.
Não quero com isto dizer que tal correspondesse a um intuito deliberado do Papa e da Cúria romana que assim pretendessem a liberdade das cidades italianas, o desenvolvimento das liberdades públicas e do capitalismo. O Papa e a Cúria romana apenas pretendiam aliados na sua luta contra o Sacro Império e os soberanos de que suspeitassem veleidades de extensão excessiva do poder temporal. O Papa e a Cúria romana ao pretenderem aliados para se afirmarem contra o excesso de poder temporal dos Estados cristãos serviram-se igualmente das nobrezas, apoiando as suas pretensões nas lutas contra os absolutismos reais.
A liberdade nasceu na Europa ocidental nesta luta pelo poder, nesta dialéctica de contrários, onde a Igreja foi um dos motores decisivos. A Magna Carta não passou, no início, de um documento que regulava e limitava os poderes do rei face aos seus vassalos directos: a nobreza. A Magna Carta, e outros protocolos celebrados na Idade Média, estabeleciam corpos representativos para dar expressão orgânica às exigências da nobreza - Parlamentos, Cortes, Estados Gerais, Dietas que o próprio rei não podia violar. O tempo, e a continuação do avanço da liberdade, encarregou-se de dar à Magna Carta uma interpretação cada vez mais vasta e abrangente tornando-a no embrião das constituições modernas.
Por sua vez, as lutas entre os reis e os seus vassalos directos facilitaram o florescimento das cidades e a obtenção por estas de cartas de alforria. Os reis ou a grande nobreza precisavam de as ter como aliados nas suas guerras contra os seus vassalos, quer o auxílio militar das respectivas milícias, quer o precioso auxílio financeiro. O papel do Papado, e da Igreja romana em geral, em manter o equilíbrio de poderes e um certo ascendente temporal sobre as casas reinantes, foi portanto um dos principais motores do desenvolvimento europeu
O zénite deste processo foi o aparecimento da Reforma e a luta entre as Igrejas reformadas e o Papado. Na sua formulação inicial, as Igrejas reformadas, Luteranismo e Calvinismo, eram de um enorme ascetismo e intolerância, porventura mais que os aspectos mais negros da Inquisição de então. Todavia estavam ao serviço, ou serviram de bandeira, à formação de Estados governados por uma classe mercantil e industrial que foram a alavanca do capitalismo moderno, enquanto a inquisição espanhola (e a portuguesa, embora a expressão desta fosse muito diminuta face à sua vizinha) descambou para a perseguição aos elementos mais dinâmicos da sociedade cristalizando-a em formas de existência retrógradas.
Nada deste processo ocorreu no Islão nem nos países sujeitos à Igreja Ortodoxa. Foi por isso que o feudalismo da Europa ocidental foi um processo dinâmico apesar de ter então centros urbanos de muito menor dimensão que no Islão e Bizâncio: Constantinopla, Bagdad, Córdova (na época dos Omíadas) eram incomparavelmente maiores (dezenas de vezes) que os mais importantes centros urbanos europeus da época. Simplesmente estes eram livres, governavam-se a si próprios e tinham um enorme dinamismo económico e social, enquanto Constantinopla, Bagdad, Córdova viviam do clientelismo da corte, de um clero remunerado pelas rendas de feudos distantes e de uma nobreza de funcionários que subsistia de rendas feudais inerentes às próprias funções na corte. Haver uma Igreja livre e independente dos Estados, capaz de se impor foi essencial para alavancar esse dinamismo económico e social das pequenas, mas prósperas, cidades da Europa ocidental. Ao despotismo centralizado do oriente, a Europa ocidental contrapôs a liberdade descentralizada em numerosas ilhotas, aparentemente pequenas, mas que progrediam mercê da partilha instável de um poder em permanente disputa entre Igreja, monarcas e nobrezas
Por isso, na Europa Oriental aconteceu a estagnação e o desenvolvimento é recente e correspondeu ao esforço de alguns monarcas (Pedro o Grande e Catarina II, na Rússia, por exemplo) no sentido de acertar o passo pelo Europa ocidental. A Turquia, o estado islâmico de longe mais avançado em termos de direitos, liberdades e garantias, deveu essa aproximação à Europa à ditadura férrea de Ataturk. Sem as instituições cristãs medievais da Europa ocidental, esses países, e os países do ocidente europeu, não teriam regimes sociais, políticos e económicos muito diferentes dos países islâmicos mais retrógrados, ou os menos ocidentalizados.
Não seria porventura essa a intenção do Papado e da Cúria romana, mas a transmissão da herança romana do Estado de Direito e do governo limitado nos seus poderes, que é a base da nossa liberdade e democracia, para além do direito relativo aos contratos, propriedade, transacções, sucessões, património, etc., que constitui a base do nosso desenvolvimento económico e social, só foi possível pela forma como o cristianismo se institucionalizou no ocidente a partir do fim do mundo antigo e até à idade moderna.
As instituições cristãs do ocidente medieval foram imprescindíveis nesse desiderato. A elas devemos a transmissão de todos aqueles legados e o desenvolvimento da liberdade e da democracia. E, indirectamente, também lhe são devedores os países da religião cristã ortodoxa e islâmicos, como a Turquia.
Neste entendimento não percebo como se pode falar de herança grega e romana e esquecer a cristã. Aliás, percebo ... não se quer ferir algumas susceptibilidades. Todavia, não me parece imprescindível, numa constituição, falar de heranças culturais. Aliás, uma constituição deve ser simples e não deve conter elementos ideológicos. Os elementos ideológicos, mesmo que se julgue que não passem de meras referências teóricas sem efeitos práticos, acabam frequentemente por ganhar autonomia própria e servirem de travão ao progresso, complicando o que poderia ser simples e linear. Basta ver a Constituição portuguesa. Seria então preferível, se não se quer ferir susceptibilidades, omitir referências a heranças.
Publicado por Joana às 08:55 PM | Comentários (12) | TrackBack
maio 31, 2004
Fouché Monárquico
Uma das primeiras medidas de Napoleão, após o seu regresso da ilha de Elba, foi nomear Fouché, pela terceira vez, ministro da polícia. Não seria isto que Fouché quereria, mas Napoleão tinha receio em dar mais. Também não seria esta decisão aquela que Napoleão mais desejaria tomar, mas todos os seus fiéis foram unânimes em aconselhar o regresso de Fouché. Para mais, Napoleão estava fragilizado. Já não era mais que um condottiero militar.
Por outro lado Napoleão era obrigado a reconhecer que todas as previsões de Fouché se tinham realizado: o casamento austríaco, que havia combatido (Fouché havia sugerido que Napoleão se casasse com uma princesa russa), tinha levado à ruptura com a Rússia, sem impedir Metternich de organizar a coligação de 1813 que conduzira à capitulação de Paris; a campanha da Rússia, fortemente desaconselhada por Fouché, tinha sido uma catástrofe; a polícia, retirada da direcção de Fouché, tinha-se desorganizado em pouco tempo; etc., etc..
Napoleão aprestava-se para seguir os conselhos que Fouché lhe havia dado nos anos anteriores. Infelizmente para Napoleão o que importava era os conselhos que eram dados agora: uma tripla política de simpatia pela Revolução, concessões ao liberalismo e moderação para com os monárquicos, ou seja, a pacificação da sociedade francesa. E estes conselhos, Napoleão não estava disposto a seguir.
Quando tomou posse do lugar, Fouché teria tido uma longa conversa com um amigo de longa data, Gaillard, entretanto tornado monárquico, que estava desolado com o seu comprometimento com o império. Fouché confidenciou-lhe que sabia que Napoleão o odiava, que este havia voltado ainda mais déspota, não respirando senão ódio e vingança, mas que lhe parecia útil estar perto deste «louco furioso» para o moderar, ou mesmo para abater o seu poder. Teria então dito a Gaillard: «O meu primeiro dever é contrariar todos os projectos do imperador. Antes de 3 meses serei mais poderoso que ele e se ele não me mandar matar, estará a meus pés». Falhou por 10 dias!
Luís XVIII, os republicanos, os monárquicos, os ingleses, Viena e o seu Congresso, todos vêem então em Fouché o único homem com quem se pode negociar preferem a sua razão fria e calculista ao génio insensato do Imperador.
Quando a Vendeia se revolta, Fouché acaba com a revolta com uma mensagem que envia aos generais monárquicos: «Dentro de alguns meses o Imperador terá triunfado ou terá perdido. Para quê então combater por algo que se pode, provavelmente, obter sem luta? Deponde as armas e esperai». Escreveu Lamartine sobre a actuação de Fouché durante os 100 dias «Fouché intimida o imperador, lisonjeia os republicanos, tranquiliza a França, faz um sinal à Europa, sorri a Luís XVIII, corresponde-se com o senhor de Talleyrand (que estava então em Viena, no Congresso) e tem todos suspensos da sua atitude ... A História, condenando Fouché, não poderá recusar-lhe, durante o período dos cem dias, uma ousadia de atitude, uma superioridade no manejo dos partidos e uma grandeza na intriga que o colocará na primeira fila dos verdadeiros homens de Estado do século, se pudesse haver verdadeiros homens de Estado sem dignidade de carácter e sem virtude».
Napoleão, que tinha uma polícia secreta exclusiva para vigiar o seu ministro da polícia, descobre a existência de uma carta secreta enviada por Metternich e decidiu confrontar Fouché com a sua traição. Mas a rede de informadores de Fouché estava mais bem montada e Fouché foi informado da descoberta. No fim do despacho quotidiano com o imperador, Fouché, com a indiferença de quem se esquece de uma bagatela sem importância, revela: «Ah! Já me esquecia de lhe dizer que recebi um bilhete do sr. de Metternich. Tenho tantas coisas importantes que me preocupam! Depois, o seu enviado não me deu o pó para tornar a tinta visível e eu creio que se trata de uma mistificação. Enfim, hei-de trazer-lhe». Napoleão tremeu de raiva, mas conservou o ministro. Afinal, Napoleão, bastante fragilizado, precisava mais de Fouché que o contrário.
Pode parecer estranho que um déspota como Napoleão se fragilize assim perante o réprobo Fouché. Quando disseram a Napoleão que Luís XVIII estava a constituir um ministério em Gand, no exílio, e citavam os nomes dos ministros, alguém perguntou «e na pasta da polícia?». Napoleão chacoteou: «M. Fouché, sans doute!». Troça-se quando não se tem força para mais. A relação de Napoleão com Fouché, durante os 100 dias, é uma mistura de ódio e de impotência.
Quando Napoleão regressa, derrotado, de Waterloo, é Fouché quem comanda as operações: é ele que impede a dissolução da Câmara dos Deputados; é ele que força a abdicação de Napoleão; é ele que se instala na presidência do governo provisório, burlando Carnot; é ele que negoceia secretamente com Luís XVIII e consegue, contra a resistência do Conselho, da Câmara e do Senado, que aquele regresse ao trono.
Cometeu então um erro: vendeu o poder a Luís XVIII em troca de um lugar no ministério. Teria sido preferível fazer outra travessia do deserto, esperando por uma nova conjuntura política. Fouché esqueceu-se que a médio prazo não haveria ambiente para ele na corte de Luís XVIII. Havia sido um regicida. A filha de Luís XVI, Duquesa de Angoulême, que também tinha estado prisioneira no Templo, tinha asco ao velho político. Toda a corte o olhava como um réprobo.
É certo que os começos foram auspiciosos: Luís XVIII recebe o assassino do seu irmão, na sala de audiências, onde Fouché, várias vezes perjuro, lhe presta juramento de fidelidade. É Talleyrand quem o conduz apoiando-se no seu ombro (Talleyrand era coxo). Chateaubriand comenta com ironia: «é o vício apoiado no crime». Um mês depois, Luís XVIII e toda a corte apadrinham o casamento de Fouché (que havia enviuvado em 1812) com uma jovem da alta aristocracia.
Todavia, as eleições de Agosto de 1815 deram uma maioria esmagadora à extrema direita (350 ultra-realistas em 400 eleitos). Foi a «Chambre Introuvable», designada assim porque seria impossível encontrar uma assembleia tão à direita como esta. Esta Câmara era demasiado violenta no seu ódio e no seu fanatismo para tolerar ministros como Fouché ou Talleyrand. Talleyrand, para conservar o cargo, tirou o tapete debaixo dos pés de Fouché. Menos de seis meses decorridos da restauração da monarquia, Fouché é despedido e depois exilado, para nunca mais regressar a França. Talleyrand não ganhou muito com o negócio pois foi forçado a resignar dias depois.
Apenas a Áustria o aceita, desde que longe de Viena. Viveu sucessivamente em Praga, em Linz e em Trieste, onde morreu em 26 de Dezembro de 1820. No dia anterior à morte chamou o filho e encarregou-o de queimar todos os seus papéis. A História vinga-se, cruelmente, das figuras que apenas agem em função do momento que passa enterra-os em vida. Fouché, esquecido, completou essa vingança queimou a sua história.
As memórias que, anos mais tarde, em 1824, foram publicadas como sendo suas, merecem menos confiança que o próprio Fouché.
Bibliografia:
Louis Madelin Fouché 2 volumes Paris 1901
Mémoires de Joseph Fouché, duc d'Otrante, Paris 1824
Actes du Comité de salut public avec la correspondance des représentants en mission, 20 vols, Paris 1889
Publicado por Joana às 10:12 AM | Comentários (18) | TrackBack
Fouché Duque de Otranto
A oposição entre Fouché (e Talleyrand) e Napoleão começa a tornar-se mais evidente à medida que o desejo de paz entre os franceses é contrariado pela continuada política bélica do Imperador. Fouché e Talleyrand pensam na França; Napoleão pensa na sua glória pessoal. A resistência à obsessão guerreira de Napoleão aproxima Fouché e Talleyrand, que não nutriam qualquer estima um pelo outro. Ambos têm um pensamento claro e positivo. Ambos são discípulos de Maquiavel, realistas e cínicos. Ambos passaram pela escola da Igreja e pela escola da Revolução. Ambos têm nervos de aço e são isentos de quaisquer escrúpulos no que respeita a dinheiro e a honra. Ambos serviram com a mesma infidelidade Igreja, Revolução, Directório, Consulado, Império, Monarquia.
Apenas diferem pela origem e comportamentos: Talleyrand era de origem nobre e Fouché de origem plebeia. Talleyrand ama o dinheiro como um personagem de alta estirpe, para o gastar nos prazeres da vida; Fouché ama o dinheiro como um capitalista, para o economizar e obter juros, continuando a viver de forma espartana; Talleyrand é um espírito ágil, um improvisador e um analista brilhante, Fouché é um espírito analítico e um calculista lúcido e frio baseado na informação que, com trabalho árduo, pacientemente recolhe e tria.
O desencadear da guerra da Espanha, na tentativa insensata de colocar no trono espanhol um irmão incapaz, marca a aproximação entre os dois mais notáveis e hábeis ministros de Napoleão. Fouché pressentiu que aquela guerra iria transformar a Espanha, de aliada dócil, numa enorme Vendeia. E Napoleão, que até então se sentia seguro pela hostilidade que reinava entre Fouché e Talleyrand, ao saber do encontro público entre aqueles dois conspiradores profissionais, regressa imediatamente de Espanha, insulta ambos e despede o menos indispensável: Talleyrand.
Fouché mantém-se em funções e salvou a França. Com Napoleão ausente em Viena, os ingleses desembarcam em Walqueren e tomam Flessinga, na Holanda. Perante a incapacidade dos ministros em tomar decisões na ausência do amo, é Fouché quem convoca os guardas nacionais, organiza a defesa, obtém para Bernadotte o comando das operações militares e consegue a derrota dos ingleses. Quando os colegas julgavam que o Imperador o iria punir por tomar decisões sem esperar a aprovação do amo, Napoleão aprova a sua conduta e fá-lo Duque de Otranto.
Mas Fouché tem a sua própria política. A paz era indispensável para manter o statu quo e a estabilidade das instituições e conservar os Bourbons longe do poder. Com esse objectivo entabula negociações secretas com o gabinete de Saint-James para avaliar a hipótese de um tratado de paz. A Inglaterra era o Deus ex-machina da oposição ao Império napoleónico. Nunca havia reconhecido o Império, subsidiava as potências continentais para fazerem a guerra, mantinha em Portugal um dispositivo militar que se revelou invencível e que poderia servir de base para uma campanha contra o sul da França, arregimentava e subvencionava agentes monárquicos para destabilizar a sociedade francesa desejosa do fim de tantas e tão sangrentas guerras, aspirando ardentemente pela paz. Áustria, Rússia e Prússia faziam a guerra, perdiam a guerra, voltavam a fazê-la, voltavam a perdê-la, mas a Inglaterra permanecia incólume, sempre por detrás de todas as guerras e de todas as conspirações contra Napoleão. Quando Napoleão soube das diligências de Fouché, demitiu-o e substituiu-o por Savary, Duque de Rovigo. Entre 1810 e 1813, Fouché ficará sem funções ministeriais. Aquando da demissão Fouché teria declarado: «O profeta predisse que dentro de 40 dias Nínive será destruída. Mas eu poderei predizer, sem receio de enganar, que em menos de 4 anos o império de Napoleão deixará de existir».
Savary era um cortesão incompetente, um fanático destituído de engenho. Enquanto Napoleão estava na Rússia, dá-se a tentativa de golpe de estado de Malet. Além de não a detectar, Savary deixa-se aprisionar pelos golpistas, o que o cobre de ridículo. A facilidade como Malet, general obscuro, e mais dois generais em situação de detenção, desprovidos de meios, se conseguem apossar das sedes do poder em Paris mostrou a fragilidade das instituições imperiais e a incompetência do ministério na ausência do Imperador. A fragilidade dos autocratas reside em que não conseguem obter o servilismo e simultaneamente a competência.
Napoleão vê-se forçado a transigir com Fouché, mas, entre o reconhecimento da sua competência e o receio da sua capacidade conspirativa, apenas lhe dá funções que o mantenham longe de Paris. Quando os aliados entram em França e cercam Paris, Fouché regressa rapidamente, mas comete um erro político: chega tarde quando entrou em Paris já esta havia capitulado, o Senado havia proclamado Luís XVIII rei (4-04-1814), Napoleão abdicado em Fontainebleau e Talleyrand chefiava o governo provisório. Chegar tarde demais, ainda que apenas 4 dias, é um dos piores erros políticos!
Ninguém lhe liga, ninguém quer nada com ele, Fouché parecia ter-se tornado despiciendo. Todavia a insensatez dos Bourbons e da alta nobreza que regressara, uma mistura de despotismo e anarquia, e a perseguição encarniçada a quem tinha servido o império e a república, criou rapidamente um enorme mal estar em França e deu origem a que conspirações se começassem a desenhar. Os Bourbons pareciam não ter aprendido nada com a revolução, com o longo exílio e com o facto de só terem regressado a França atrás das baionetas dos aliados. O cenário estava construído para o regresso de Napoleão que, da ilha de Elba, estava ao corrente do que se passava no continente e do sentimento geral da população francesa.

Quando Napoleão, menos de um ano depois do regresso dos Bourbons, abandona a ilha de Elba e desembarca na Provença, aqueles que passavam ao largo de Fouché acotovelam-se agora pressurosamente na sua residência solicitando que ele salve a Monarquia. Sugerem-lhe uma pasta num eventual governo do Duque de Richelieu. Fouché não aceita porque sabe que, naquela altura, já nada havia a fazer. Responde habilidosamente que a sua «aceitação na hora presente seria nociva aos interesses do Rei». Apenas Fouché conseguiria trocar as voltas ao partido do Rei assegurando que lhe estava a fazer um favor! «Salvem o Rei, que eu me encarrego de salvar a monarquia», teria então dito. Mas a verdade é que os Bourbons não tinham apoios para se oporem a Napoleão. Haveria que esperar pelos inevitáveis erros de Napoleão.
O «Ogre de Corse» entrou assim sem resistência em Paris, após todos os exércitos enviados contra ele se terem passado para o seu comando.
Publicado por Joana às 09:55 AM | Comentários (4) | TrackBack
Fouché Bonapartista
À frente da polícia, Fouché estava numa posição privilegiada no duelo entre o Directório e Bonaparte, então no Egipto. Instalando uma sofisticada organização policial e de delação, corrompendo tudo e todos (entre eles Josefina), Fouché sabe mais que todos os comparsas deste drama. Sabe por exemplo que Bonaparte está a caminho de França, enquanto o Directório está tranquilo pois julga-o lá longe a contemplar as pirâmides.
Como ministro da polícia do Directório, Fouché deixou de ser o homem de Barras, para passar a ser o homem de ... Fouché. Barras já não interessava, pois Barras negociava com Luís XVIII a restauração da monarquia. Ora para Fouché, um regicida, este seria o cenário a evitar. A carta de Bonaparte, general que ambicionava o poder, era de longe mais interessante.
Assim, depois da chegada de Bonaparte a Paris, sabe que se prepara um golpe de estado, mas não diz nada. Três meses depois de ter sido nomeado sob proposta de Barras, Fouché trai Barras, pois verifica que os trunfos estão agora do lado de Bonaparte. Faz malograr as negociações de Barras com Luís XVIII, prendendo os agentes monárquicos que tinham os fios da meada e facilita a conspiração bonapartista, embora sem tomar parte nela. Dias antes do 18 de Brumário (9-11-1799) dá uma recepção em sua casa. Quando os convivas se encontram apercebem-se que apenas estão presentes todos os principais conspiradores e ... o presidente do Directório, Gohier (!?) contra o qual era dirigida a conspiração.
No 18 de Brumário, Fouché controlou sempre a situação. A situação do próprio Fouché, porquanto o nervosismo e as hesitações da camarilha de Bonaparte e a incompetência e a tibieza do Directório e dos corpos legislativas mantiveram durante horas as dúvidas sobre para que lado se inclinaria o poder.
Foi Fouché que se encarregou, logo que se desenhou quem seria o vencedor, de elaborar proclamações para a imprensa que davam uma visão completamente distorcida do que havia acontecido, redigidos de forma a evitar que se pusesse em dúvida a legalidade do que afinal não passava de um golpe de estado cesarista.
A primeira acção de Bonaparte, como 1º Cônsul foi a invasão da Itália, para eliminar o dispositivo militar austríaco. A batalha de Marengo selou o triunfo dos exércitos da República. É conhecido o seu desenlace considerada perdida, tornou-se, horas depois, num triunfo total. Não foi apenas o Barão Scarpia da Tosca que recebe a informação da vitória de Melas, no 1º acto, e da sua completa derrota, no 2º acto. A Paris também chegaram essas 2 informações opostas: quando chegou a notícia da derrota de Bonaparte, Carnot e outros dirigentes trataram logo da herança do 1º Cônsul. Fouché não se comprometeu, mas também não se opôs. No dia seguinte soube-se da vitória. Carnot foi despedido e Fouché manteve-se, mas sem a confiança de Bonaparte
No natal de 1800, um ano depois do 18 de Brumário, há um atentado contra Bonaparte, de que este escapa ileso, mas que vitima dezenas de pessoas. Bonaparte julga que foram os jacobinos e acusa, encolerizado, Fouché, antigo jacobino, enquanto este mantém que foram os monárquicos. Ao fim de 2 semanas, durante as quais a sua posição esteve periclitante, Fouché tem a sua vitória à Marengo afinal confirmou-se que os autores eram os monárquicos, chefiados por Cadoudal e subvencionados pelos ingleses.
Todavia, insatisfeito por Fouché não aplanar o caminho para a monarquia, Bonaparte demite-o de ministro, mas de forma rebuscada o ministério é suprimido e Fouché torna-se senador. Mas Bonaparte precisa de Fouché e, 2 anos depois, este volta a ser o ministro da polícia. A imperícia dos sucessores de Fouché foi suficiente para fazer dele um personagem imprescindível. Durante esses 2 anos foram cometidos diversos erros políticos: a ruptura com o general Moreau, o rapto e a execução do Duque de Enghien, etc. Balzac, que deu de Fouché uma imagem odiosa, sugere que este teria pressionado aquela acção. Não acredito. Aliás, Fouché declararia, numa frase cínica, que a execução do Duque de Enghien «foi pior que um crime, foi um erro».
Aqui revela-se outro traço do carácter de Fouché: ele nunca foi servidor de alguém e ainda menos o lacaio. Não sacrifica inteiramente a outrem a sua independência de espírito e a sua vontade própria. Fouché (como Talleyrand) não se comporta como os restantes próceres do império e quando, como qualquer ministro lisonjeiro e servil, aceita ordens sem replicar, há uma diferença: não as cumpre. Se lhe é ordenado proceder a prisões com as quais não concorda, adverte dissimuladamente os interessados; se não consegue eximir-se à aplicação de ordens com as quais discorda, sublinha que o faz expressamente por vontade do imperador.
A política de Fouché durante o império subordinava-se ao axioma de que o «Império deveria ser o herdeiro da Revolução» e que o trono imperial foi erigido «não sobre os despojos, mas sobre as instituições da Revolução». Portanto cabe ao Império defender e perpetuar a obra da Revolução, isto é, a manutenção e o aperfeiçoamento das instituições que permitiam a liberdade económica, a eliminação das coacções feudais e a igualdade de oportunidades para toda a sociedade. Para tal é necessário um Estado forte. Nesse sentido Fouché reprime à esquerda, acusada de destabilizar a sociedade, e à direita, acusada de querer o regresso do Ancien Régime.
A sua relação com a religião católica é típica da sua política do Juste milieu. Defensor do Estado laico e da doutrina da neutralidade do Estado e da integral igualdade de todos os cultos, Fouché reprime as autoridades eclesiásticas que contrariam estes propósitos, prende os pregadores mais exaltados, etc.. Mas à medida que as relações do Imperador com a cúria romana se degradam e que este pretende uma maior repressão sobre o clero, Fouché protege o clero do que considera serem os excessos de Napoleão.
Quanto mais Napoleão se torna prepotente e autoritário, mais Fouché se torna amável e conciliador. Em vez de lhe dizer as verdades desagradáveis directamente, escreve-as em relatórios dizendo que «consta» ou «um embaixador terá dito», obrigando Napoleão a tragar a leitura de escândalos familiares e notícias cáusticas de forma impessoal. Não trai a mínima emoção quando Napoleão o ameaça: «o senhor é um traidor e eu devia mandar cortar-lhe a cabeça», respondendo placidamente «Não é essa a minha opinião, Sire». Dezenas de vezes ouve ameaças; dezenas de vezes é informado de projectos para o destituir e proscrever. Fica tranquilo pois sabe que no dia seguinte o Imperador o chamará novamente.
Este poder deriva de Fouché conhecer todos os podres do Império e os negócios sujos da família Bonaparte (histórias de jogo dos irmãos, os deboches de Paulina, as aventuras extra-conjugais do Imperador e de Josefina). Fouché vigia quer os inimigos do império, quer os amigos, quer o próprio imperador e apenas fornece as informações que considera oportunas.
Publicado por Joana às 09:45 AM | Comentários (3) | TrackBack
Fouché Ministro da Polícia
Após a queda de Robespierre, Fouché tem uma evolução curiosa: recusa alinhar com a reacção termidoriana, senta-se na esquerda da Convenção e apoia, embora de forma dissimulada, Babeuf e a conspiração dos igualitários. Acusado na Convenção de Babovista (uma espécie de comunismo pré-marxista), defende-se bem e nada se prova. Consta aliás que teria enviado a Barras uma Memória, alertando para o perigo desta conspiração. Babeuf foi preso e executado.
O primeiro ano após o 9 Thermidor foi passado a defender-se das acusações dos massacres perpetrados nas suas missões proconsulares. Defende-se bem, mas o seu melhor argumento decorre da atitude dúplice que sempre havia tomado, nomeadamente em Lyon, onde se havia demarcado de Collot e granjeado o ódio de Robespierre. Os massacres eram explicados pelas ordens e instabilidade da situação e as suas acções de clemência tornadas o paradigma da sua conduta. Fouché jogou igualmente com o facto de que alguns dos líderes termidorianos tinham as mãos tintas de sangue, como Tallien, o carrasco de Bordéus, e de que a maioria moderada da Convenção, o Marais, tinha pactuado, por acção ou omissão, com a tirania de Robespierre.
A forma altiva e, na aparência, coerente como se defendeu surtiu efeito: ordenada a sua prisão, conseguiu que a Convenção o deixasse em liberdade. Pediu a suspensão do mandato e retirou-se da vida pública. Fouché sobreviveu, enquanto muitos dos Montagnards foram ou guilhotinados ou desterrados para a Guiana que, na maioria dos casos, também significou a morte.
Um ano depois, a jornada do 13 de Vendemiário (5 de Outubro), onde as tropas da Convenção, comandadas pelo jovem general Bonaparte esmagam a revolta monárquica e salvam a república, foi o toque a reunir das diferentes facções republicanas. Fouché, a fazer a sua travessia do deserto, é repescado por Barras, para testa de ferro de negócios de fornecimentos ao exército e, simultaneamente, para seu espião. Cargos políticos estavam-lhe vedados pela reputação que tinha.
Mas mesmo esse exílio interior findou com o golpe do 18 de Frutidor (4-09-1797), quando a ala esquerda dos termidorianos se apodera do poder. Segundo parece Fouché foi um dos artífices desta conspiração que levou Barras ao poder. Barras premiou-o nomeando-o ministro da república em Milão (capital da República Cisalpina, satélite de França) e, depois, na Holanda.
O Thermidor salvou-o do cadafalso; o Vendemiário da proscrição; o Frutidor salvou-o da obscuridade e do esquecimento. Em 20 de Julho de 1799, Fouché é nomeado, pelo Directório, ministro da polícia.
Um jacobino, ministro da polícia? Não, como dizia Mirabeau, os jacobinos, quando ministros, não são ministros jacobinos (o mesmo se costuma dizer agora dos socialistas). Barras havia lançado o nome de Fouché, a medo. Mas, para sua surpresa, Sieyés e Talleyrand apoiaram-no com entusiasmo. Sieyés e Talleyrand tinham aprendido o suficiente, na escola da revolução, para saberem que apenas um ex-jacobino se sentiria com a audácia necessária para esmagar os seus antigos correligionários com os métodos violentos que tinha aprendido com eles. Uma das primeiras medidas de Fouché foi, justamente, fechar o Clube dos Jacobinos.
Tomou essa medida, como sempre, sem tergiversações. Os jacobinos, para Fouché, protagonizavam então o papel dos vencidos recalcitrantes, expondo desnecessariamente, pelos seus excessos, a França e a Revolução à reacção e à contra-revolução.
Quando anunciou essa medida o Directório ficou incrédulo. Pois quê, dissolver um clube cujo poder fazia tremer o Directório há um ano? Fouché foi fulminante: manobrou os corpos legislativos para fazer passar a lei e foi ele pessoalmente ao clube dos jacobinos, em plena sessão, onde dissolveu a assembleia, fechou as portas e levou as chaves para as depor nas mãos de um Directório estupefacto.
No dia anterior havia avisado o general Bernadotte, presidente do clube que iria proceder ao fecho do clube e que se ele ainda estivesse à cabeça, a sua cabeça pagaria por isso. O futuro Rei da Suécia, perante a frieza e a firmeza do ex-metralhador de Lyon nem pôs em dúvida as palavras de Fouché. Afinal deveu a Fouché a cabeça e a coroa. E a família de Fouché encontrou na Suécia um local de exílio após a morte deste.
Fouché havia sido jacobino o tempo suficiente para saber que por detrás da retórica violenta não havia qualquer força consistente.
E a talhe de foice queria acrescentar que Bernadotte, quando granadeiro, no início do Terror, fez inscrever no braço, numa tatuagem, a divisa «Mort aux Rois», encimada pelo barrete frígio. Foi subindo na carreira militar e, no início do Império, Napoleão fê-lo marechal. Anos depois, em 1810, Carlos XIII, Rei da Suécia, adoptou-o como sucessor. Sucedeu-lhe no trono em 1818 com o nome de Carlos XIV. Mas para não ser prejudicado nos seus direitos colaborou com os aliados, Rússia, Áustria, Prússia e Inglaterra, na coligação para derrubar Napoleão. A sua dinastia ainda se mantém na Suécia.
Mas só deixou ver o braço, o braço tatuado, «in articulo mortis», impondo ao seu médico absoluto sigilo. A revolucionária tatuagem foi-lhe sempre uma obsessão muda, mas incómoda.
Publicado por Joana às 09:38 AM | Comentários (3) | TrackBack
Fouché revolucionário
Fouché nasceu em 31 de Maio de 1759 no seio de uma família modesta de pequenos comerciantes. A sua natureza reservada e estudiosa levaram os pais a fazê-lo ingressar na carreira eclesiástica. Entra na Congregação do Oratório e por aí fica, como professor de seminário, até ao início da revolução.
Nunca tomou ordens. Aliás, Fouché nunca se entregou inteiramente a quem serviu: Igreja, Revolução, Directório, Consulado, Império, Monarquia Fouché apenas se comprometeu consigo próprio.
Eleito deputado à Convenção por Nantes, em 1792, com a missão de pugnar pelos interesses da classe média, que desejava um regime monárquico ou republicano, mas constitucional e ordeiro, começou por se sentar do lado da Gironda. E sentou-se do lado da Gironda não, provavelmente, para cumprir promessas eleitorais, mas porque a Gironda era então a mais forte. E Fouché sempre esteve do lado do mais forte.
Naqueles dias turbulentos era preciso prudência. Fouché rapidamente se apercebeu que numa revolução os ídolos de um dia são os traidores do dia seguinte e que ela não pertence aos primeiros que a desencadearam, mas ao último que a termina e fica com ela como um espólio. Por isso Fouché permanece numa relativa obscuridade, evitando intervenções na tribuna e nos jornais, mas fazendo-se eleger para comités e juntas, onde pode, na sombra, pela sua discrição, influenciar os acontecimentos e proteger-se da inveja e do desgaste da imagem.
Há decisões que ficam indeléveis na história e na memória das gentes e Fouché teve que tomar uma. Em Janeiro de 1793 a Convenção julgou o Rei. A obrigação de Fouché para com os eleitores moderados que o tinham eleito e para com a Gironda, junto à qual se sentava, era votar contra a morte do Rei. No dia anterior à votação leu, aos seus amigos, o discurso que iria proferir afim de justificar o pedido de clemência. Mas, no dia da votação, ao ver a agitação das secções populares, Fouché, arguto calculista, apercebeu-se que o poder da rua iria intimidar muitos convencionais e que tudo fazia prever que a maioria pendesse afinal para o lado da morte do Rei, maioria pequena, mas maioria. Ora Fouché sempre esteve do lado da maioria. Votou a favor da morte do Rei. O ser regicida foi um facto que nunca conseguiu apagar e que se tornou um pesado ónus nos últimos anos da sua vida. Mesmo depois de ter traído Napoleão após Waterloo e facilitado o regresso de Luís XVIII, não conseguiu conservar o cargo de ministro que tinha sido a moeda de troca do acordo. Instado pelos ultra-realistas, Luís XVIII foi forçado a demiti-lo e exilá-lo de França.
No julgamento do Rei revela-se um traço fundamental do carácter de Fouché quando trai um partido nunca é de forma lenta e hesitante. É às claras, de um momento para o outro, que, com uma despudorada audácia, ele se transfere de um partido ao partido adversário, com armas e bagagens, e passa a adoptar a retórica e os argumentos do seu novo partido. Muitos anos mais tarde, confessaria, cinicamente, que então era preciso «uivar com os lobos e se submeter às necessidades das circunstâncias». Não teria sido necessária esta confissão tardia: as suas acções eram óbvias.
Fouché não gostava de situações de risco não controlável, como seja conviver com os radicais revolucionários da Comuna de Paris e das secções dos sans-culottes. Preferiu comissões de serviço longe de Paris, à espera de ver quem triunfaria na Convenção. Foi uma má escolha. Trânsfuga do Oratório, convencional regicida, se bem que outros o foram e a quem a opinião pública poupou e a história foi indulgente, o que perdeu Fouché perante a história foram justamente estas comissões, onde Fouché se distinguiu por um raro exagero declamatório, talvez para evitar ser acusado de ser moderado.
Fez um périplo pela província, organizando o recrutamento e os abastecimentos e fazendo discursos de teor comunista (ou igualitário) e terrorista : «Tudo é permitido aos que agem no sentido da Revolução» ... « todo o homem que tem mais do que lhe é preciso, já não usa, mas abusa. E assim, deixando o que lhe é estritamente necessário, todo o resto ... pertence à República». «Aos republicanos bastam a espada (du fer), o pão e 40 écus de renda» escrevia o futuro castelão do palácio de Ferrières.
As missivas que Fouché enviou a Paris durante estas missões são, talvez, o pior para o julgamento que a história lhe fez. São tenebrosas, de uma ferocidade fria e configuram a imagem de um carrasco sanguinário.
Após estas provas de acção e retórica revolucionárias, Fouché foi para Lyon, juntamente com Collot dHerbois, punir a contra-revolução, no cumprimento de um bárbaro decreto da Convenção que ordenava a destruição da segunda cidade da França e que a «reunião das casas que subsistissem usará de futuro o nome de Ville-Affranchie», onde se tornou conhecido como o Metralhador de Lyon, executando, a canhão e em poucas semanas, 1.600 pessoas. Isto sem falar em muitas centenas de execuções pela guilhotina.
Lyon tinha 140.000 habitantes, 5 meses depois, Ville-Affranchie tinha 80.000 habitantes. Escreve Fouché «sim, confessamos que derramámos muito sangue impuro, mas foi por humanidade, por dever». A hipocrisia da retórica revolucionária é uma constante em toda e qualquer revolução.
Todavia, quando Collot dHerbois abandonou Lyon, Fouché, talvez por ter farejado que a situação em Paris poderia mudar, mudou de postura, chegando a punir aqueles que o haviam ajudado antes. Em Paris Robespierre liquidava a extrema esquerda, os exagerados de Hébert. Para Fouché, tal deve ter soado a que a Revolução iria entrar por uma via mais moderada. O seu último acto em Lyon foi mesmo o de ordenar a execução do carrasco e respectivo ajudante.
Todavia equivocou-se. Robespierre havia liquidado a ala direita da Montanha (os Dantonistas) e a ala esquerda (os Hebertistas) apenas para governar sem empecilhos. O terror revolucionário prosseguia com menos exageros de retórica, mas com mais firmeza sanguinária. Portanto, a mudança de Fouché para uma atitude de maior clemência não passou desapercebida às autoridades revolucionárias, que primeiro o acusaram de moderado e depois de andar a oprimir os patriotas. O Comité de Salvação Pública ordenou o seu regresso a Paris. Fouché havia estado 9 meses ausente do epicentro revolucionário.
A guerra entre Robespierre e Fouché ia começar. Curiosamente haviam travado amizade em Arras, quando Fouché aí estivera colocado, como professor do colégio do Oratório. Fouché teria mesmo ajudado Robespierre a custear a viagem para Paris quando este foi eleito para os Estados Gerais.
Porém, Fouché não era um Hébert ou um Danton. Evitando debates incendiários na Convenção, onde não podia competir com os oradores da Montanha, Fouché adoptou a técnica de sobrevivência dos animais menos aptos para a luta física fingiu-se morto. Morto, isto é, trabalhando na sombra. Semanas depois, surpreendentemente, perante a estupefacção geral, Fouché é eleito presidente do Clube dos Jacobinos por larga maioria.
Robespierre, furioso, fulmina-o então com um discurso em que o qualifica de «impostor vil e desprezível» e consegue a exclusão de Fouché do Clube dos Jacobinos por conduta indigna. O destino de Fouché parecia traçado. Mas Fouché passa as seis semanas seguintes a conspirar na sombra, junto dos convencionais. Como Tallien e outros, não tem domicílio fixo, para não ser preso de noite, de surpresa. Robespierre teme-o mais que os outros «o indivíduo Fouché não me interessa ... denunciei-o aqui menos por causa dos seus crimes do que por se esconder para cometer outros e porque o vejo como o chefe da conspiração que temos que liquidar».
Se Tallien, Billaud, Collot dHerbois e Barras são os rostos mais visíveis do 9 Thermidor (27-07-1794), onde a facção de Robespierre é liquidada, Fouché terá sido o conspirador com maior peso na obtenção do apoio dos membros hesitantes da Convenção. Foi seguramente aquele que Robespierre mais temia.
Publicado por Joana às 09:28 AM | Comentários (2) | TrackBack
Fouché um Perfil
Fouché, um dos homens mais poderosos da sua época e um dos mais notáveis de todos os tempos, encontrou pouca estima da parte dos seus contemporâneos e, ainda menos, justiça da posteridade. Os protagonistas da Revolução e do Império produziram centenas de memórias e autobiografias. Todos, republicanos, bonapartistas, monárquicos, corre-lhes da pena um fel venenoso quando escrevem o seu nome. Nenhuma injúria lhe é poupada: traidor nato, miserável intriguista, réptil peçonhento, trânsfuga profissional, alma baixa de polícia. Os mais literatos apodam-no de Tartufo ou Scapin. Há um notável consenso dos seus contemporâneos sobre o seu carácter. Foi o homem mais desprezado e difamado da Revolução e do Império. Napoleão, nas sua meditações em Santa Helena, parecia não ter senão um lamento, o de não ter mandado enforcar «esse Fígaro, esse tratante»
Durante 23 anos, desde o dia em que o presidente da Convenção declarou a sessão aberta, em 1792, até àquele em que naufragou, na Chambre Introuvable, o ministério Talleyrand-Fouché, em 1815, esteve sempre em actividade, esteve sempre na crista da onda.
Os seus avatares são imensos: em 1790 professor eclesiástico e em 1792 salteador de igrejas; em 1792 próximo dos Girondinos e em 1793 partidário da Montanha; em 1793 comunista e poucos anos depois multimilionário; em 1793 regicida e pouco mais de uma década após, Duque de Otranto; em 1793 assegurando que uma renda anual de 40 écus (240 libras) era o bastante para um republicano e um quarto de século depois deixando, ao morrer, uma fortuna avaliada em 30 milhões de libras (cerca de 80 milhões de euros actuais, em termos da cotação do ouro, ou cerca de 400 milhões em termos de poder de compra) (*). Foi representante do povo e membro activo dos comités, comissário da Convenção em 6 departamentos, presidente do Clube dos Jacobinos, activista da revolução do Thermidor, conselheiro de Babeuf, agente de Barras, diplomata do Directório em Itália e na Holanda, ministro da polícia geral da República, participante do drama do Brumário, ministro de topo do Primeiro-Cônsul Bonaparte e do Imperador Napoleão e envolvido em todas as intrigas entre 1799 e 1810, governador geral da Ilíria em 1813, plenipotenciário do Imperador em Itália, conspirador eminente sob a primeira restauração, ministro e árbitro dos partidos durante os 100 dias, chefe do poder executivo e ministro da restauração, Fouché esteve em todos os actos desse drama imenso que foi da Revolução à Restauração passando pelo Império.
Foi um resistente. Os Girondinos caiem, Fouché fica; os líderes da Montanha são sucessivamente guilhotinados, Fouché sobrevive; Directório, Consulado, Império, 1ª Restauração, Império novamente (100 dias) desaparecem, afundam-se, mas Fouché permanece, graças à sua reserva subtil e à audácia que tem por ser absolutamente desprovido da mais pequena parcela de carácter e de ter uma absoluta falta de convicções.
O poder de Fouché reside no seu sangue frio inabalável. Paciente e dissimulado submete-se, sem um sobressalto, com a face impenetrável ou um sorriso gelado, às mais grosseiras injúrias e humilhações. Robespierre e Napoleão quebraram ambos contra esta impassibilidade marmórea. O sangue, os sentidos, a alma, o sistema nervoso, não têm qualquer papel neste personagem, apenas o cérebro comanda as suas acções. Espera dissimulada e pacientemente que o ardor dos adversários se esgote ou estes percam o domínio de si próprios, e que lhes consiga descobrir algum ponto fraco. Urdir a sua trama do fundo do seu gabinete, entrincheirado atrás dos papéis e ferir impiedosamente sem que ninguém saiba como e donde, é a sua arma.
Quem o conheceu pessoalmente é unânime em atestar que nunca um aspecto físico se coadunou melhor com o carácter ambíguo e insondável que era o seu. Alto, magro, ossudo, ligeiramente curvado, face exangue de uma lividez estranha que nunca corava, nem empalidecia, lábios descorados, um rosto fechado, impenetrável. O seu olhar, cinzento e inexpressivo seria, como disse Robespierre, «olhos que a natureza tinha escondido para permitir a este homem dissimular a sua alma atrás desse véu impenetrável». A sua fealdade, sem banalidade, acentuava o seu aspecto sinistro.
Porém, repentinamente, esta fisionomia fechada abria-se e fulminava um olhar acutilante, rápido e investigador que devassava o íntimo do interlocutor e os lábios crispavam-se num sorriso irónico. E surgia o grande inquisidor da polícia francesa.
Provavelmente Murnau inspirou-se nas descrições de Fouché para compor o seu personagem Nosferatu ...
Todavia, Fouché não é vingativo. Combate com determinação e impiedosamente quem se interpõe entre ele e o seu objectivo. Esmaga quem o quer liquidar. Mas passada a refrega não odeia nem se vinga. Pode lutar, usando toda a manhosice de que a sua mente é fértil, até à liquidação política total do seu adversário, mas tendo-o vencido, este deixou de ser seu adversário. Fouché perdoou sempre tudo velhas rivalidades, injúrias, ataques pessoais, etc. mas nunca perdoou a alguém que se lhe atravessava no caminho.
Como ministro da polícia, Fouché explorou e serviu-se do que mais baixo havia na humanidade. Conheceu, melhor que ninguém, como se trafica com a consciência humana. Viu de perto pessoas que ele julgava honestas capitularem vergonhosamente pela corrupção e gente que estigmatizava os tiranos cair no deboche que criticava. Comprou tantas consciências com reputação de íntegras, enganou tantos políticos que se julgavam hábeis, que concluiu que a sociedade se compunha de celerados mais ou menos hipócritas e de imbecis mais ou menos felizes.
No fundo, a sua benevolência e insensibilidade perante a injúria, e a sua clemência e moderação, decorriam do imenso e tranquilo desprezo que votava aos seus semelhantes.
A este universo corrupto apenas escapa o seu lar. Fouché foi sempre um marido fiel e terno (apesar da mulher ser, segundo escreve Barras, de uma «fealdade horrível») e um pai exemplar. Sempre.
Concluindo, Fouce, tal como este perfil o descreve, é um homem de Estado da escola positivista que perante uma situação complexa com diversos problemas vai analisá-los, decompô-los, resolvê-los uns após os outros, com o tempo e a oportunidade que as circunstâncias exigem. A sua mente está liberta de quaisquer peias: convicções, escrúpulos, amizades, ódios, receios. Não subestima nem sobrestima o adversário.
(*) As estimativas sobre o valor das moedas são minhas. Na época havia écus de 3 libras e écus de 6 libras. Presumo que Fouché se deveria referir ao écu de 6 libras (ou francos).
40 écus corresponderiam assim a cerca de 3.000 a 3.500 em termos de poder de compra actual, ou seja, cerca de 250 a 300 mensais. Julgo que Álvaro Cunhal também dizia que um comunista podia viver perfeitamente com o ordenado mínimo nacional ... nada é novo sob o sol!
Nota - ler igualmente:
Fouché Monárquico
Fouché Duque de Otranto
Fouché Bonapartista
Fouché Ministro da Polícia
Fouché revolucionário
Publicado por Joana às 09:17 AM | Comentários (6) | TrackBack
março 15, 2004
Os Idos de Março de Hitler
Março foi um mês emblemático no percurso de Hitler para o poder e para a guerra.
1 - Em 1933, Hitler foi indigitado chanceler num governo onde os nazis eram muito minoritários. Para governar conforme os seus desígnios, esta minoria não servia a Hitler. Do lado de Hindenburg, o presidente, não poderia contar com apoio. Hindenburg detestava Hitler, que designava por «böhmische Gefreite» (literalmente cabo da Boémia). A sua estratégia passou pela utilização dos meios legais para ampliar os seus poderes, enquanto esperava a morte do velho marechal.
Estavam marcadas eleições para 5 de Março. O clima de pânico propício para mobilizar o eleitorado para defesa da tranquilidade pública foi dado pelo incêndio do Reichstag (segundo as evidências, obra dos próprios nazis) em 27 de Fevereiro e pela campanha contra os comunistas (acusados do incêndio) que se seguiu imediatamente. Talvez por essa pressão as eleições tiveram uma participação recorde. O NSDAP teve 44% (288 mandatos em 647) e precisava de 50 lugares para a maioria absoluta. Foi fácil: apesar de muitos dos seus dirigentes terem sido presos, os comunistas tinham obtido 81 lugares. O KPD foi dissolvido, os seus bens confiscados e os seus mandatos no Reichstag cassados.
Em 24 de Março, o Reichstag (reunido no edifício da Garnisonskirche - «Tag von Potsdam» - as sessões seguintes, raras, passaram a realizar-se na Kroll-Oper) aprova a Ermächtigungsgesetz (Lei de plenos poderes, incluindo revisões constitucionais). A partir daí, nas raras vezes em que era convocado, o Reichstag passou a ser um mero auditório para representações políticas.
Dias antes, em 14 de Março, Goebbels havia assumido a pasta de «Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda» (literalmente Ministro do Esclarecimento Público e da Propaganda).
2 7 de Março de 1936: A ocupação da Renânia, referida em texto anterior.
3 12 de Março de 1938: As tropas alemãs entram na Áustria Anschluss (União).
A anexação da Áustria pela Alemanha não pode ser vista pelos olhos actuais. Durante séculos a casa de Áustria deteve igualmente a soberania do Império Alemão (I Reich) dissolvido por Napoleão. Durante o século XIX as tentativas de reunificação alemãs tiveram como protagonistas, quer a Prússia, quer a Áustria. A batalha de Sadova entregou a Alemanha à Prússia.
Nos últimos 50 anos do Império austro-húngaro, havia entre a minoria alemã, cada vez com menos peso nos destinos do império, à medida que progredia a democracia representativa, uma forte corrente que olhava a Alemanha como uma eventualidade preferível aos Habsburgos. Curiosamente os húngaros revelavam-se os adeptos mais convictos da monarquia dual: eles precisavam dos alemães para manterem uma maioria face aos povos eslavos que habitavam a monarquia.
Os tratados de paz a seguir ao fim da guerra (Versalhes, S. Germain e Trianon) tinham despedaçado a Áustria-Hungria e dispersado os alemães pela Áustria, pela Checoslováquia, onde constituíam mais de um terço da população da Boémia, e por outros países. Por isso mesmo era interdita a reunião entre a Áustria e a Alemanha. As potências vitoriosas sabiam que esse seria um dos cenários mais prováveis, em face da situação em que ficava a Áustria.
O processo de anexação da Áustria iniciou-se pela constituição de um forte partido nazi, entretanto interdito e passado à clandestinidade. Em 1934 o chanceler Dolfuss é assassinado e é descoberto um plano de insurreição das SA austríacas. As potências europeias (incluindo a Itália) reagiram negativamente e a Alemanha ainda estava no início do rearmamento: Hitler mandou regressar o embaixador alemão em Viena, alegadamente comprometido na ocorrência, e desaprovou a acção.
A situação precipitou-se em 1938. Em Fevereiro, em Berchtesgaden, o chanceler Schuschnigg aceitou as exigências de Hitler, amnistiando os nazis austríacos presos e aceitando a entrada de Seyss-Inquart, o chefe nazi austríaco, para o governo, como ministro do Interior. Este processo corre em simultâneo com o aumento do poder de Hitler na Wehrmacht o Marechal von Blomberg é destituído de ministro da Guerra após terem sido descobertas revelações sobre o passado de Erna Grühn (1), com quem casara semanas antes, em segundas núpcias, e de cujo casamento Hitler e Goering haviam sido padrinhos; o General von Fritsch, comandante supremo do exército é destituído por suspeita de homosexualidade. Hitler assume o comando supremo das forças armadas. Também nos Negócios Estrangeiros o moderado Barão von Neurath sai, entrando von Ribbentrop. Von Blomberg, von Fritsch e von Neurath haviam sempre manifestado grandes reservas e mesmo objecções aos planos do Führer. A sua saída, em Fevereiro de 1938, nazificou inteiramente as chefias políticas e militares da Alemanha. Na mesma remodelação Funk passou a sobraçar a pasta da Economia e Keitel tornou-se chefe único do Alto Comando.
Mas na Áustria, país católico e com uma importante minoria judia, havia um forte oposição aos nazis e, obviamente, à união com a Alemanha. Sob a influência dessas forças, Schuschnigg anuncia a 9 de Março, um referendo para o domingo, 13 de Março. Hitler não podia sujeitar-se aos resultados duvidosos de referendo e decide-se pela intervenção militar, apesar das hesitações das chefias militares. Mussolini, informado previamente por Schuschnigg sobre a decisão do referendo, declara: «é um erro, se o resultado for satisfatório, dirão que não é genuíno; se for mau, a situação do governo torna-se insustentável; se for indeciso, então ainda será pior».
No dia 11 a situação precipitou-se. Seyss-Inquart comunica a Schuschnigg um ultimato alemão exigindo a anulação do referendo. Schuschnigg decide-se pelo adiamento, mas é-lhe exigida a renuncia ao cargo e a nomeação de Seyss-Inquart. Schuschnigg resolve resignar mas, entretanto (12 de Março), as tropas alemãs entram na Áustria sem encontrar resistência. No dia seguinte, na sua cidade natal de Braunau, Hitler proclama a dissolução da República da Áustria e a integração desta no Reich.
3 15 de Março de 1939: o golpe de Praga
Aquando dos acordos de Munique relativamente à anexação dos Sudetas pela Alemanha, em Setembro de 1938, Hitler havia declarado que «não queremos um único checo». Todavia, a fraqueza militar checa, que perdera as suas defesas fronteiriças, e o separatismo eslovaco eram uma tentação muito forte. Hitler aposta no separatismo do governo eslovaco, presidido por Monsenhor Tiszo. Mas em 10 de Março, o governo checo, informado do complot de Bratislava, destitui Tiszo. Tiszo vai a Berlim onde pede o apoio de Hitler. É redigido uma minuta de um telegrama onde as autoridades eslovacas solicitam a intervenção do Reich.
O presidente checo, Hacha, em face da situação, pede uma entrevista a Hitler que se realiza na noite de 14 para 15. Entretanto, a Eslováquia havia, no dia 14, proclamado a independência e pedido a protecção do Reich o que fazia com que a Boémia-Morávia ficasse geograficamente isolada do mundo exterior. Hacha era um homem de saúde muito debilitada, tendo perdido a consciência por mais de uma vez durante as conversações. Não tinha qualquer hipótese de resistir, politica ou militarmente. Acabou por se submeter ao diktat alemão, assinando uma capitulação redigida pelos alemães, que autorizava a entrada das tropas alemãs e tornava a Boémia-Morávia num protectorado do Reich. Para apaziguar as potências ocidentais, nomeou o moderado Freiherr (Barão) von Neurath como Protector.
No protocolo assinado podia ler-se:
«As duas partes expressaram de comum acordo a sua convicção de que o objectivo de todos os esforços deve ser o de assegurar a tranquilidade, a ordem e a paz nesta parte da Europa Central. O Presidente do Estado Checoslovaco declarou que, para servir esses objectivos e conseguir uma pacificação definitiva, remete, com plena confiança, o destino do povo e do país checos nas mãos do Führer do Reich Alemão.
O Führer aceitou esta declaração e exprimiu a sua decisão de tomar o povo checo sob a protecção do Reich alemão. Ele assegurar-lhe-á um desenvolvimento autónomo, conforme ao seu próprio carácter».
Dias depois, em 23 de Março, Hitler deslocou-se a Memel, que havia sido cedida pela Lituânia, após uma sugestão alemã. A Lituânia nem pôs hipótese contrária. No dia anterior, as autoridades lituanas haviam evacuado Memel (Klaipeda).
Março, o mês fatídico do percurso de Hitler para a guerra. Curiosamente as outras ocorrências, Munique (anexação dos Sudetas) e a invasão da Polónia (que desencadeou a guerra), tiveram lugar em Setembro, a meio caminho entre dois Marços sucessivos. Coincidências?
Sobra a purga interna de 30 de Junho de 1934, onde Hitler se desfez de Ernst Röhm e das chefias SA. Mas essa purga era urgente face ao estado de saúde de Hindenburg (viria a morrer em 2 de Agosto de 1934) e à sua sucessão. Hitler tinha que garantir o apoio da Reichswehr e do patronato que viam com muito maus olhos os turbulentos e indisciplinados camisas castanhas (SA).
(1) De acordo com os ficheiros da polícia, Erna Grühn (35 anos mais nova que von Blomberg), para além de dançarina de um night-club, o que era sabido, havia trabalhado como prostituta e posado para fotografias pornográficas. Foi a publicação de fotografias da boda em jornais que levou esse facto ao conhecimento da polícia. Inicialmente, o chefe da polícia contactou discretamente von Blomberg para o pôr ao corrente dos factos. O marechal, então com 60 anos, estava apaixonado. Preferiu arrostar a tempestade. Foi exigido a von Blomberg que anulasse o matrimónio. Werner von Blomberg preferiu demitir-se, devolver o seu bastão de marechal e retirar-se da vida pública para viver o seu idílio com a sua jovem esposa.
Publicado por Joana às 12:15 AM | Comentários (9) | TrackBack
março 07, 2004
A Ocupação Militar da Renânia
Em 7 de Março de 1936, um sábado, as tropas alemãs penetraram na Renânia e procederam à sua ocupação militar. A Alemanha violava os Tratados de Versalhes (Artigos 42, 43 e 44) e de Locarno que interditavam a militarização da Renânia pela Alemanha (a margem esquerda do Reno e uma faixa de 50 km na margem direita). Foi considerada a primeira «agressão» de Hitler e o primeiro passo para a guerra de 1939-45. Enquanto Hitler anunciava no Reichstag, ao meio dia, a sua intenção da reocupação militar da Renânia, as colunas militares alemãs atravessavam a linha divisória e ocupavam as principais cidades alemãs.
As potências ocidentais não reagiram. A França estava em plena campanha eleitoral (eleições onde acabou por triunfar o Front Populaire) e o governo inglês era de opinião que não havia nada a fazer contra a decisão alemã e exprimiu essa posição ao governo francês durante os contactos telefónicos no domingo, exortando-o a contemporizar. O governo francês, depois de umas declarações contundentes do Presidente do Conselho, acabou por se ficar por um protesto diplomático.
E todavia o exército alemão estava na época ainda mal equipado, com poucos meios mecânicos e, segundo depoimentos de responsáveis militares alemães no julgamento de Nuremberga, como Jodl, os 3 batalhões alemães que haviam atravessado o Reno e as restantes forças que haviam ocupado a margem direita não estavam em condições de resistir ao exército francês. Se houvesse intervenção francesa a Reichswehr tinha ordem de recuar.
Foi o primeiro passo no mito da infalibilidade do Führer. Hitler havia prognosticado que as potências ocidentais não reagiriam, contrariamente à opinião das chefias militares, que temiam essa reacção. Hitler teve razão, como iria ter no Anschluss, nos Sudetas e na anexação da Boémia e Morávia.
A nossa leitura, depois da guerra de 1939-45, é muito influenciada pelos acontecimentos posteriores. Mas em 1936, quer na Alemanha, quer no resto do mundo, com excepção talvez da França e da Bélgica, poderia supor-se justa a reivindicação de soberania militar sobre uma parcela do seu território. E na Renânia as tropas alemãs foram recebidas com grande entusiasmo e o povo alemão apoiou maciçamente essa acção de Hitler.
E o mesmo se poderia dizer na questão dos Sudetas. Afinal a população alemã dos Sudetas apenas queria para si a mesma autodeterminação que os Tratados assinados no fim da guerra de 1914/18 haviam concedido a checos e eslovacos em face do extinto Império Austro-húngaro. Apenas no domínio das hipóteses se poderia admitir então que Hitler iria atravessar o Rubicão, e fê-lo com a anexação da Boémia e Morávia. Só a partir de então se tornou evidente algo que apenas alguns pressentiam como inexorável Hitler haveria de levar as suas pretensões até que alguém lhe barrasse o caminho pela força.
Assim como a nossa leitura daqueles acontecimentos reflecte a influência do que ocorreu posteriormente, a leitura em 1936 estava circunscrita aos acontecimentos precedentes, em que avultava o Tratado de Versalhes e a humilhação que representara para a Alemanha as respectivas cláusulas.
Quando a Alemanha capitulou, o exército alemão ainda ocupava a Leste um território maior que a própria Alemanha e a Oeste ainda se mantinha na Bélgica e em França. Todavia as tentativas de perfuração das linhas aliadas tinham levado o exército alemão ao esgotamento e a contra-ofensiva aliada, apoiada pelos tanks, não parecia capaz de ser parada. Por sua vez a Austria-Hungria entrara em colapso. Mas não era apenas o exército alemão que estava esgotado, a situação alimentar e dos reabastecimentos na Alemanha era caótica e deplorável. Enquanto o governo imperial estava a tentar negociar um armistício deu-se a sublevação da frota, a recusa do exército em jugular a sublevação e o alastramento da insurreição à população civil. É proclamada a república e o Imperador abdica a 9 de Novembro.
O Tratado de Versalhes foi considerado pelos alemães um Diktat. Na verdade eles não tinham alternativa à sua aceitação, dado o seu colapso político e militar. A Alemanha perdia importantes territórios na Europa, mas com fundamentos razoáveis do ponto de vista demográfico a Alsácia-Lorena havia sido conquistada à França cerca de 50 anos antes e os restantes territórios eram habitados maioritariamente por não alemães e entregava aos aliados todas as suas colónias. Todavia o pior, o que constituiu a maior humilhação para a Alemanha foi a questão das reparações: Le boche payera tout, era a tese de Clemenceau. Foi-lhe imposta uma contribuição de guerra pesadíssima e a Renânia seria ocupada como caução. O Sarre ficaria provisoriamente sob controlo da Sociedade das Nações, mas de facto sob ocupação francesa. Este tratado teve todos os contornos de um acordo de malfeitores que distribuem entre si os despojos da vítima. Todas as forças políticas alemãs se pronunciaram contra ele. Entre os aliados, ingleses e americanos acederam a contragosto.
Quando Napoleão foi derrotado, o governo inglês opusera-se a que a França fosse retalhada, como queriam a Prússia e a Austria. Na opinião do gabinete britânico, uma humilhação pesada da França poderia conduzir posteriormente à revanche. Esta tese venceu então, mas em 1919 os anglo-americanos não foram capazes de se oporem totalmente às pretensões da França relativamente à Alemanha.
Keynes havia previsto que as consequências económicas decorrentes do tratado seriam muito negativas Todavia, as consequências políticas foram muito piores e as consequências económicas, paradoxalmente, traduziram-se numa modernização e expansão da indústria pesada alemã. Como se produziu esse fenómeno?
A instabilidade provocada pela derrota militar, revolução spartakista, putchs de direita e deterioração da situação social levou a uma terrível crise económica na Alemanha. Durante 1923, mas com incidência especial entre Setembro e Novembro, houve uma inflação galopante e a queda do marco face ao dólar, em mais de um para mil. Os salários reais caíram imenso, para 40% a 25% do seu valor anterior. Em contrapartida houve um alongamento da jornada de trabalho. Portanto, todas as «conquistas revolucionárias» feitas durante o período 1918/19 foram liquidadas durante esse ano fatídico. As empresas aproveitaram para saldar as suas dívidas, contraídas em moeda forte e pagas em moeda desvalorizada. A crise de 1923 «limpou» a indústria alemã de alguns ónus e permitiu-lhe uma enorme modernização.
As consequências políticas foram piores. Em face do pedido de moratória de 5 anos no pagamento das prestações relativas às reparações, feito em Dezembro de 1922, pelo governo alemão, o exército francês ocupou, em Janeiro de 1923, a Renânia. Os franceses esperavam apropriar-se do carvão e de outros produtos do Ruhr. A resistência passiva dos alemães frustou-lhes os planos. E simultaneamente ajudaram ao aparecimento e desenvolvimento do partido nazi. Portanto, as circunstâncias em que a Alemanha capitulou e o Diktat de Versalhes criaram «a lenda da punhalada pelas costas» (die Dochstosslegende) que a direita e principalmente os nazis usariam com enormes dividendos políticos. Hitler foi o produto dos erros políticos cometidos pelos aliados, especialmente a França, na gestão da vitória militar sobre a Alemanha.
Portanto, os franceses ficaram com as custas políticas da crise de 1923 e o patronato alemão obteve grandes vantagens em termos de diminuição de custos salariais, aumento da jornada de trabalho e liquidação das dívidas. A estabilização económica da Alemanha a partir do início de 1924, e as condições favoráveis da indústria incentivam um importante afluxo de capitais estrangeiros que permite uma grande expansão no período 1924-29. Em termos reais o PIB alemão subiu 67% entre 1913 e 1929. A Alemanha prosperava, enquanto a França, tornada um país de rentiers, a viverem das contribuições de guerra, estagnava.
A crise de 1929-33 teve o impacte mais devastador nas economias mais desenvolvidas (EUA e Alemanha), mas quem ganhou politicamente com o aumento do desemprego foram os nazis que passaram de 2,6% (em 1928) para 18,3% (em 1930) e 37,3% (em Julho de 1932), havendo um pequeno recuo eleitoral em Novembro de 1932 (33,1%), mas que não favoreceu a esquerda, visto se ter dirigido para a direita clássica. Nos Estados Unidos os eleitores orientaram-se por critérios económicos e escolheram Roosevelt e o New Deal, apostando numa solução mais à esquerda. O que prevaleceu na Alemanha, perante a crise económica e o desemprego, foi o ressentimento face às potências vencedoras, especialmente a França, e um nacionalismo muito vivo que foi explorado pelos nazis que se propunham libertar a Alemanha da escravidão imposta pelo Diktat de Versalhes.
As eleições no Lippe, em Janeiro de 1933, mostraram uma nova subida importante dos nazis e serviram de argumento para a indigitação de Hitler, em 30 de Janeiro, como Chanceler (afinal ele era o chefe do maior partido do Reichstag) à frente de um governo onde os nazis ainda eram muito minoritários (para além de Hitler, Frick no Interior e Goering na Aeronáutica). Sabe-se da forma simultaneamente manhosa e brutal como os nazis liquidaram a democracia e se apropriaram do poder (die Machterschleichung) o incêndio do Reichstag (27-2-1933), as eleições de 5 de Março (43,8%), a dissolução do Partido Comunista (KPD), dias depois, o que permitiu maioria absoluta no Reichstag. Com essa maioria absoluta o Partido Nazi tornou-se rapidamente o partido único o SPD foi dissolvido em 22 de Junho, o Zentrum em 4 de Julho e os diversos pequenos partidos de direita, cujos líderes partilhavam o governo com o NSDAP, acordaram em que «o sistema de partidos era obsoleto» e desapareceram como partidos.
Publicado por Joana às 10:51 PM | Comentários (6) | TrackBack
fevereiro 15, 2004
Galileu Galilei
A redução ao silêncio e o castigo imposto a Galileu de pôr fim à sua actividade de investigação científica foi um acontecimento que marcou profundamente a nossa história cultural, científica e religiosa.
Não se tratou apenas de um conflito entre ciência e religião, ou da arrogância da autoridade social a oprimir uma opinião minoritária, mas principalmente o conflito entre o racionalismo dogmático da metafísica tradicional, instalado nas universidades e nas instituições religiosas da época, que postulava ontologicamente os conceitos e o ideal da razão e que, em relação à experiência, a reduzia ao princípio de um ordenamento teleológico e o método científico, um racionalismo metódico empenhado em definir universalmente as constantes estruturais da experiência. A Igreja foi o elemento mais notório da oposição a Galileu, embora o elemento motor fosse o escolasticismo académico. A Igreja estava dividida e mesmo quando condenou Galileu, três cardeais, entre os dez responsáveis, negaram-se a assinar a condenação.
Essa condenação acabou por ser muito mais prejudicial à Igreja que a Galileu. Ela tornou-se o símbolo do obscurantismo, da arrogância dogmática do poder instituído e continua sendo uma das manchas mais negras da história eclesiástica.
Galileu Galilei nasceu em Pisa, em 15 de Fevereiro de 1564, há 440 anos, completou os primeiros estudos de humanidades e de lógica em Florença e matriculou-se, em 1581, na Faculdade de Medicina de Pisa. Mas, fosse porque lhe faltasse interesse por esta disciplina, fosse porque o método do seu ensino ainda ligado à tradição peripatética não se adequasse ao seu engenho perspicaz na observação e na reflexão, voltou quatro anos depois a Florença. Aí se encontrou em contacto com uma cultura livre de estorvos académicos e que correspondia às exigências da vida civil e à própria natureza do engenho de Galileu. Tratava-se dos estudos voltados para a solução de problemas técnicos de mecânica, de hidráulica, de balística segundo métodos matemáticos.
Esses estudos permitiram a sua nomeação para a cátedra de matemática da Universidade de Pisa. Aqui continuou os seus estudos sobre o problema do movimento e a ele se referem de facto as conhecidas experiências sobre a queda dos graves. Manteve a sua relação de hostilidade com o ambiente académico de Pisa, cuja vida acanhada ele escarnece num capítulo «Del portare la toga». Curiosamente, em 1588, fez uma comunicação na Academia de Florença sobre a localização, tamanho e disposição do Inferno, a partir do Inferno de Dante, o que mostra que o percurso de Galileu no caminho para o pensamento científico despido de preconceitos escolásticos foi longo. Em 1592 foi nomeado para a cátedra de matemática da Universidade de Pádua, nos domínios da Sereníssima República, ponto de encontro de eruditos italianos e estrangeiros, um ambiente muito mais aberto à orientação empírico-técnica e às novas pesquisas científicas. Veneza era o Estado mais tolerante da Itália de então. As lições públicas e privadas de Galileu em Pádua tiveram larga audiência, frequentadas por gente desejosa de apreender os instrumentos essenciais da matemática para os aplicar às soluções dos problemas técnicos, mecânicos e artísticos. Em casa de Galileu depressa surgiu uma pequena oficina para a preparação de instrumentos de precisão. Foi deste período Le meccaniche, onde os princípios matemáticos são postos ao serviço da solução de problemas técnicos e onde os conceitos mecânicos empíricos são enunciados recorrendo à fundamentação científica. Todavia, no seu Trattato della sfera o Cosmografia, de 1603, Galileu revelava-se ainda um adepto do sistema ptolomaico, embora já estivesse familiarizado com a obra de Copérnico. Aliás, o dinamarquês Tycho Brahe, o maior astrónomo da época, postulava uma cosmografia em que o Sol girava à volta da Terra e os planetas em órbitas à volta do Sol, rejeitando o movimento da Terra como contraditório com a Bíblia e com os factos vulgares vistos na Terra. Do ponto de vista puramente matemático, o sistema de Tycho Brahe era idêntico ao de Copérnico. É tudo uma questão de relativismo do movimento.
A sagacidade da pesquisa, a agilidade do pensamento, a precisão cada vez maior do método, são acompanhadas em Galileu por uma notabilíssima habilidade técnico-prática. A esta deve ele a fabricação, a partir de notícias vagas provenientes do norte da Europa, em 1609, de um telescópio que foi durante anos o mais perfeito modelo do género e que se tornou instrumento para as descobertas astronómicas. Dedicado, com a ajuda do telescópio, à observação do céu, este revelou-lhe, no breve decurso de algumas semanas, segredos que se mantiveram ocultos durante milénios ao olhar humano. A Via Láctea e as nebulosas apareceram como longínquos amontoados de estrelas, o número dos astros multiplicou-se no firmamento, foram descobertas as rugosidades da superfície da Lua, os quatro satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as manchas solares, etc..
O anúncio das descobertas que Galileu lançou ao mundo com o Sidererus Nuncius, publicado em Março de 1610, abalou todo o mundo do saber, entre adesões entusiásticas e objecções malevolentes e invejosas. Os filósofos e astrónomos na sua maioria (com excepção de Kepler que aceitou as descobertas como reais) declararam que se tratavam de ilusões de óptica e de uma fraude de Galileu. Em contrapartida, astrónomos jesuítas de Roma, que haviam construído nesse ano um telescópio muito potente, confirmaram as descobertas de Galileu. Mas para Galileu esboçava-se aqui uma nova tarefa científica, porquanto a interpretação dos fenómenos descobertos levava a pôr em dúvida todo o conjunto dos dados empíricos sobre que se apoiava a antiga astronomia e, sobretudo, a negar os princípios tradicionais da perfeição e inalterabilidade dos corpos celestes, da unicidade do centro de movimento, da luz própria dos planetas.
Para ocupar-se com liberdade de tais estudos Galileu precisava de um mecenato esclarecido. Encontrou-o na pessoa do grão-duque da Toscana, Cosimo II, que o nomeou primeiro matemático e filósofo do grão-ducado e primeiro matemático da Universidade de Pisa, sem obrigação de residência e de ensino.
Em Março de 1611, foi a Roma defender as suas descobertas das dúvidas dos seus opositores. Ainda não havia sinais de oposição teológica a Galileu ou às suas descobertas. Nesse mesmo Verão, num encontro científico promovido pelo grão-duque, combate o princípio da incorruptibilidade dos corpos celestes e aponta claramente para a verdade da hipótese coperniciana, defendendo os direitos da experiência e do método indutivo.
Quando Copérnico (1473-1543) propôs a teoria heliocêntrica (a sua obra foi publicada poucos dias antes da sua morte), os astrónomos já conheciam os movimentos dos planetas. A teoria heliocêntrica permitia apenas uma explicação científica coerente. Todavia essa explicação era “estranha” – afinal qualquer pessoa podia “ver” que a Terra não se movia. Ora as observações de Galileu e do seu telescópio mostravam as manchas solares a girarem, as fases de Vénus (que mostram que os planetas não brilham com luz própria, mas reflectida), os satélites de Júpiter e os seus eclipses, realidades só explicáveis admitindo a teoria de Copérnico.
Assim, a actividade de Galileu, e a entusiástica adesão de discípulos cada vez mais numerosos, levantavam críticas progressivamente mais insistentes, e entre estas a mais fácil de compreender e mais grave, de que as novas doutrinas eram incompatíveis não só com os princípios da filosofia tradicional mas também com a palavra das Sagradas Escrituras. Galileu procurou esclarecer, reconhecendo a incondicional validade das Escrituras no que se refere aos princípios morais e religiosos, afirmando todavia, no tocante aos problemas de filosofia natural, os direitos do pensamento científico.
A primeira acusação é formulada de um púlpito e transmitida à inquisição romana por um frade dominicano. Essa acusação caiu muito mal nos meios cultos de Florença. Galileu replica e em fins de 1615, está em Roma a defender a tese coperniciana. Mas em 24 de Fevereiro de 1616, a Sagrada Congregação condena a doutrina heliocêntrica como absurda e herética e a teoria do movimento diurno da terra como errónea. Galileu, cuja pessoa, protegida pela fama, pelas altas amizades, pela autoridade do grão-duque, tinha sido retirada da causa, recebia do cardeal Bellarmino a intimação de abandonar a opinião coperniciana, renunciando a ensiná-la ou defendê-la, quer por escrito quer de viva voz.
Galileu inclinou a cabeça à sentença que cortava cerce as suas esperanças, não convencido e não resignado. Os seus principais acusadores eram os filósofos da época para os quais o método científico de Galileu era contrário ao seu sistema escolástico. Foram eles que primeiro afirmaram que as teorias de Galileu contradiziam as escrituras e foram eles que aliciaram o frade dominicano para a denúncia pública.
A elevação ao pontificado de Urbano VIII, prelado culto, curioso das novas doutrinas, persuadiu Galileu de que tinha chegado a hora da desforra e da plena afirmação da nova orientação de pensamento. Assim, de 1623 a 1630, ele recolheu-se num trabalho assíduo e tranquilo de revisão dos problemas postos pela hipótese coperniciana à luz dos novos métodos e resultados científicos, que lhe pareceram adquirir em relação àquela um significado mais coerente e definitivo. Não é apenas uma nova orientação metodológica e sistemática de pensamento que neles alvorece e se determina numa oposição cada vez mais clara ao saber tradicional; é a sensação segura de que tal orientação teórica é a garantia para o desenvolvimento de uma civilização humana livre, progressiva e senhora dos seus destinos. Foi nesse período que Galileu compôs o Dialogo sopra i due massimi sistemi dei mondo. A sua publicação encontrou muitas dificuldades da parte da autoridade eclesiástica. A necessidade de exames, de revisões, de juízos, o adiamento inútil, a incerteza das decisões, o jogo do alijar de responsabilidades, mostra, da parte das autoridades inquisitoriais, uma incerteza e uma perplexidade facilmente explicáveis: por um lado, era o decreto de 1616, a hostilidade de muitos ambientes académicos e dos grupos de estrita ortodoxia; por outro, era a fama do autor, as suas incessantes pressões, o apoio do grão-duque, a expectativa do público; e no meio de tudo isto, as intrigas de cúria e o humor inquieto e dificilmente determinável do Pontífice, autoritário e altivo. Finalmente, a autorização foi concedida e a obra saiu em 21 de Fevereiro de 1632.
Galileu tinha consentido nas poucas modificações impostas: a atenuação de algumas expressões, o acrescento de uma introdução explicativa e de algumas frases finais inspiradas pelo Papa e a modificação do título. Mas, quando já de todos os lados chegavam assentimentos entusiásticos, era ordenada a suspensão das vendas e Galileu citado perante o tribunal do Santo Ofício, em Roma. Tinham assim triunfado o tradicionalismo académico, a ortodoxia, repentinamente reforçado pela ira pessoal de Urbano VIII, quer porque suspeitasse de ser evocado sob a figura de Simplício, o peripatético do diálogo, quer porque não quisesse, com a tolerância perante uma obra contrária no seu conteúdo aos decretos, reforçar a fama de pouca ortodoxia que lhe era lançada em rosto pelos inimigos da sua política antiespanhola e anti-imperial (as duas principais potências defensoras do catolicismo romano) no complexo xadrez político da Itália de então.
A forma dialógica da obra galileiana devia servir para testemunhar o respeito formal ao decreto da Sagrada Congregação, mas oferecia a Galileu a possibilidade de uma exposição mais viva e agradável, de debate de ideias. O diálogo, que se desenvolve no palácio Sagredo, em Veneza, divide-se em quatro jornadas: a primeira contém a crítica aos princípios fundamentais da física aristotélica e aos fundamentos teleológicos da teoria ptolomaica. A segunda e a terceira têm como objectivo a defesa da teoria coperniciana, uma refutando as dificuldades físico-mecânicas da hipótese do movimento diurno, a outra corroborando com razões físico-astronómicas a hipótese do movimento anual da terra. A quarta, por fim, expõe a teoria da maré, que Galileu considerava erradamente como uma segura contraprova da teoria coperniciana.
Galileu partia para Roma em fins de Janeiro de 1633. Alojado primeiramente na embaixada da Toscana, ficou em seguida detido na prisão do Santo Ofício, num isolamento cada vez mais penoso. A acusação era a de ter violado a ordem pessoalmente recebida em 1616, sustentando e defendendo no Diálogo a teoria coperniciana já condenada como falsa e herética. O processo desenvolveu-se em quatro sessões entre Abril e Junho. De início, Galileu defendeu-se sustentando que tinha pedido e obtido a licença de publicação e que, por outro lado, a sua obra não concluía nem a favor nem contra qualquer das teorias. Mais tarde, replicando o tribunal que ele tinha transgredido uma precisa ordem pessoal e que a intenção do Diálogo era claramente manifesta, Galileu afirmou ter agido de boa fé e que a sua insistência nos argumentos copernicianos era por pura paixão dialéctica. Finalmente, apertado pelo exame da intenção, pela ameaça da tortura, não teve outro remédio senão, humilhado e angustiado, pedir piedade para a sua velhice atormentada. Condenado a prisão perpétua no cárcere do Santo Ofício, em 22 de Junho de 1633, recitou publicamente a abjuração. Assim, um decreto de um tribunal eclesiástico impôs os limites ao pensamento científico e o princípio da incondicional autoridade da Igreja em relação às verdades teológicas e filosóficas e à interpretação dos textos sagrados.
Houve então mais brandura: foi concedido a Galileu que se transferisse, em regime de prisão domiciliária, primeiro para a embaixada da Toscana e finalmente para Arcetri, onde ele tinha comprado poucos anos antes uma pequena casa de campo. Enfraquecido, envelhecido atormentado pela humilhação sofrida, Galileu permanecia sob a vigilância da inquisição, que vigiava os seus passos, espiava os seus contactos, lhe impedia quase o contacto com outras pessoas que não fossem os familiares mais directos; só quando a cegueira lhe tirou totalmente a visão e a artrite lhe contraiu os membros em contínuos espasmos, só então lhe foi permitido transferir-se para Florença, continuando no entanto sob custódia.
Mas o seu pensamento não se abate: é retomada a correspondência com os discípulos mais fiéis, os estudos efectuados nos anos anteriores sobre os princípios da dinâmica organizam-se, e daí sai a nova obra: os Discorsi intorno a due nuove scienze que são publicados na Holanda, em 1638. Está escrita em forma dialógica e as personagens são as mesmas dos diálogos. Nela aborda a estrutura da matéria, a queda dos corpos, o movimento pendular, o problema da resistência dos sólidos com base nas leis sobre a alavanca, a trajectória dos projécteis, etc..
O êxito europeu da nova obra reanima o espírito do cientista. Correspondem-se com ele, não obstante a vigilância da inquisição, uma plêiade de homens de ciência que são um incitamento à confiança no futuro da ciência e a certeza da imortalidade da sua obra. Ainda de 1640 é a carta, cheia de ironia polémica, Sul candore lunare, sobre a luz secundária da Lua devida à reflexão terrestre. Galileu manteve-se lúcido até à morte em 8 de Janeiro de 1642.
A abordagem de Galileu não foi a abordagem das universidades do seu tempo, baseadas no pensamento de Aristóteles, nem a de Bacon ou de Descartes, uma abordagem filosófica, que procura causas e não leis. O pensamento de Galileu fundamentou-se nos seus próprios cálculos experimentais e observações. O percurso do seu pensamento assentou na libertação progressiva da rigidez dogmática e no desenvolvimento especulativo. Galileu só aos 50 anos aceitou como válido o modelo coperniciano.
Ao abstracto ideal da razão, postulado como o absoluto ser em si, o método científico, iniciado por Galileu, substitui a lei do processo infinito da própria razão resolvendo os dados empíricos da experiência. O sistema metafísico fechado à experiência, baseado num racionalismo dogmático, dá lugar a uma racionalidade aberta aprofundando e alargando o campo da experiência e das valorações a ela inerentes. Foi a grande herança de Galileu.
Publicado por Joana às 11:46 PM | Comentários (32) | TrackBack
janeiro 26, 2004
Revolução e Historiografia
Na sequência de um artigo anterior e de algumas questões que se levantaram, resolvi retomar o tema da Revolução Francesa de 1789-94 do ponto de vista da evolução da sua historiografia, isto é, como evoluiram as análises históricas e mesmo a descrição factual consoante as épocas em que foram escritas e os objectivos dos autores.
Durante a revolução produziu-se um acervo documental extremamente volumoso: jornais, manifestos, autos parlamentares e judiciais, memórias, etc.. Toda essa documentação reflecte, obviamente, o posicionamento político de quem a produziu e os conflitos que então se dirimiam e é, por natureza, contraditória entre si.
Seguiu-se uma época de refluxo revolucionário. As barbaridades cometidas durante o Terror, a forma como as Assembleias sucessivas e a Convenção ficaram reféns do terrorismo revolucionário da facção dominante nas ruas em Paris, criaram na opinião pública um horror à liberdade e às formas democráticas de governo que tornou complicada a retoma da luta pela democracia. Os conservadores agitavam permanentemente o espectro dos acontecimentos de 1792-4 para anatemizarem a democracia.
Na luta contra a Restauração, que culminou na Revolução de 1830 e no fim definitivo dos Bourbons como poder monárquico, começaram a aparecer obras históricas onde se tentava valorizar alguns dos heróis revolucionários, desvalorizando, justificando ou atribuindo a outros as acções mais reprováveis. Algumas das teorias atribuiam ao «ouro de Pitt», ou à conspiração dos emigrados, um pretenso suborno de elementos irresponsáveis que, alegadamente, estariam na base dos massacres e das barbaridades cometidas.
Actualmente, depois da experiência de inúmeras revoluções vividas em diversos paíes e situações, é possível ter uma visão mais distanciada dos acontecimentos. Em todas as revoluções houve sempre um período em que o poder caíu nas mãos dos extremistas e se cometeram massacres e barbaridades, ou se ameaçou com isso, como sucedeu no PREC em Portugal. Faz parte da lógica dos acontecimentos, e faz parte da aprendizagem cívica o saber opor-se a essa lógica.
Mas quem lutava pela democracia na primeira metade do século XIX ainda não tinha a experiência histórica dos mecanismos daquele processo e tentou, em maior ou menor grau, encontrar explicações enviesadas, conspirações absurdas ou exageradas, para justificar tais atropelos à liberdade feitos em nome da liberdade.
Portanto se no século XIX as teorias sobre a “conspiração do estrangeiro” e a necessidade da defesa da revolução como branqueamento das barbaridades cometidas podiam colher e encontrar justificação, embora ingénua, pelas razões que aduzi acima, essa teoria exposta nos dias de hoje, e ela continua a aparecer sob diversas formas, é apenas o reflexo da tentação totalitária que permanece endémica na nossa sociedade.
Passemos então à notícia bibliográfica sobre a Revolução Francesa, sublinhando que ela se refere apenas a autores franceses, que viveram os acontecimentos, ou que embora não os tenham vivido, foram contemporâneos de quem os viveu e tiveram, portanto, uma vivência indirecta. Notar que as datas e locais referidos no texto são das edições a que tenho acesso. Não serão necessariamente primeiras edições.
No que se refere a obras de historiadores situados temporalmente próximos dos acontecimentos, e por ordem da importância que lhes atribuo:
Thiers - Histoire de la Révolution Française Bruxelas 1834- 6 vols. É uma história muito bem documentada. Foi escrita no fim da restauração e já reflecte a ascensão das ideias liberais após o período de ocaso que se seguiu ao fim da revolução. Thiers tinha cerca de 30 anos quando iniciou a sua redacção. Thiers teria provavelmente escrito a sua obra de forma diferente após a experiência da insurreição da comuna de Paris em 1871, contra a qual ele foi o principal motor de resistência e liquidação. Todavia, permanece talvez a história mais actual, mais lúcida e neutra das histórias produzidas no século XIX sobre esta matéria.
Michelet Histoire de la Révolution Française Paris 1877-9 vols. A obra de Michelet reflecte as suas convicções políticas e o seu anti-clericalismo. Está literariamente muito bem escrita. É uma obra do seu período da maturidade (Michelet era aproximadamente da mesma idade de Thiers e do inglês Carlyle, também autor de uma história da revolução francesa). Enquanto a obra de Thiers é mais factual, Michelet preocupa-se mais com a análise sociológica. É uma obra imprescindível, mas que é indispensável ser cotejada com obras mais factuais. É erróneo estudar história em obras com uma perspectiva fundamentalmente de explicação social. Sem o suporte visível dos factos, a análise social não pode nem ser validada, nem correctamente apreendida. Isto não é uma crítica a quem escreve, nomeadamente a Michelet, mas a quem lê e julga que fica com a informação suficiente. Aliás, a sua belíssima História de França (17 vols, Paris 1861), a sua obra prima, deve ser lida com os mesmos cuidados.
No fim da Histoire de la Révolution Française, no último volume, no último parágrafo, Michelet conta uma história muito sugestiva de um conhecido seu, que tinha 10 anos na época da queda de Robespierre e que foi levado pelos pais ao teatro e assistia pela primeira vez ao brilho das carruagens e dos vestuários. À saída, solícitos, havia pessoas que perguntavam aos espectadores que saíam: «Faut-il une voiture, mon maître?». O miúdo não compreendia. Até então dizia-se citoyen. Os pais tiveram que lhe explicar que tinha havido uma grande mudança com a queda de Robespierre. A revolução acabara.
Buchez e Roux - Histoire Parlamentaire de la Révolution Française ou Journal des Assemblées Nationales de Juin 1789 jusqu'en 1815 Paris-1834 - 40 vols (os acontecimentos de 8-10 Thermidor estão descritos nos vols 33 e 34 e o 18 de Brumário no vol 39). Portanto, os primeiros 34 volumes abarcam os anos 1789-1794! Por aqui se pode fazer ideia do acervo documental que esta obra representa. É uma obra notável pela documentação que tem – todos os debates das sucessivas assembleias, autos dos principais processos do Tribunal Revolucionário, extractos de polémicas públicas, manifestos, etc. Há todavia que assinalar que os autores são favoráveis à facção de Robespierre. Isso nota-se nas introduções e notas explicativas que os autores vão apresentando ao longo da compilação e num “certo enviesamento” desta. É uma obra típica do espírito reinante na época da revolução de 1830. Mas a maioria da documentação está lá e é uma obra indispensável de consulta.
Ternaux, Mortimer_Histoire de la Terreur 1792-1794 Paris 1868 - 8 vols. Como o título indica, uma análise da revolução na sua vertente repressiva. Muito bem documentada.
Barante - Histoire de la Convention Nationale Paris 1851 - 6 vols. Barante era um conservador e embora seja um historiador de reconhecido rigor, a sua história reflecte o seu pensamento político.
Lamartine - Histoire des Girondins Paris 1881 - 6 vols (há uma ediçao portuguesa de 1854). Lamartine, pelas suas convicções políticas, era um fervoroso admirador dos Girondinos. A sua obra, eminentemente literária, é um belo panegírico dos Girondinos.
Duas obras eventualmente menores, mas com algum interesse:
Ferrand et Lamarque_Histoire de la Révolution française, du Consulat, de l'Empire, de la Restauration et de la Révolution de Juillet Paris 1845 - 5 vols (os 3 primeiros volumes cobrem o período até ao Thermidor)
Tissot_Histoire complète de la Révolution française Paris 1834 - 5 Vols
Débats de la Convention Nationale, ou Analyse Complète des Scéances Paris 1828 5 vols (Compilação dos debates das sessões da Convenção. Uma obra evidentemente neutra neutra)
Quanto a memórias ou historiografia de gente que viveu e participou nos acontecimentos:
Bertrand de Moleville_Histoire de la Révolution de France Paris 1801
1789-1791 (5 vols) 1791-1793 (5 vols) 1793-1799 (4 vols) - 14 volumes no total.
Esta obra é absolutamente imprescindível pois apresenta o “outro lado”. Moleville foi ministro de Luís XVI durante o período revolucionário e, aquando dos acontecimentos de Agosto de 1792, escapou milagrosamente à perseguição policial que lhe foi movida, escondido várias semanas numa situação rocambolesca, numa casa em Paris, até conseguir fugir para Inglaterra. Foi o homem então mais procurado de França e os jornais de Paris deram-no várias vezes como capturado ou morto. Se tivesse sido apanhado teria tido a sorte dos restantes ministros – a execução.
Ao ler Moleville é ler a história da Revolução Francesa, bem documentada, mas contada “de pernas para o ar” em comparação com as versões que costumamos ler. Para mim constituiu uma leitura fascinante, exactamente por isso mesmo ... por estar a ver o “outro lado do espelho”. É sempre útil ler “também” a “outra” versão, nomeadamente com o acervo documental que ela contém.
Durand de Maillane_Histoire de la Convention nationale Paris 1825. Estas memórias têm muito interesse porque Durand de Maillane fazia parte do chamado Marais, grupo numericamente dominante na Convenção, mas que vivia sob o terror dos líderes revolucionários de Paris. Durand de Maillane foi um dos interlocutores dos deputados do Marais com a facção da Montanha chefiada por Tallien / Collot d’Herbois / Billaud-Varenne na resistência contra Robespierre e St.-Just nas sessões de 8 e 9 Thermidor. As memórias de Durand de Maillane permitem compreender as razões e os argumentos que para si próprios invocavam, para se justificarem, os deputados do Marais, menos “progressistas” que, por exemplo, os Girondinos, mas que foram votando, nos momentos decisivos, sempre do lado dos extremistas, até às sessões de 8 e 9 Thermidor.
Frequentemente pensa-se que a força da Montanha correspondia à sua implantação eleitoral. Tal não é verdade. A força da Montanha resultava das instituições legislativas viverem reféns da Comuna de Paris e das secções mais extremistas de Paris. Ler Durand de Maillane e outros autores similares permite compreender os mecanismos que levaram a muitas das decisões da Assembleia Legislativa, Convenção, etc..
Mémoires de Meillan, député à la Convention nationale Paris 1823.
Apesar de deputado, Meillan teve que procurar na fuga a sua sobrevivência. Documento com interesse, mas sem o fôlego da obra de Durand de Maillane, embora escrito na mesma linha.
Billaud-Varenne - Mémoires inédits et correspondance, accompagnés de notices biographiques sur Billaud-Varenne et Collot-d'Herbois Paris 1893 Billaud-Varenne e Collot-d'Herbois foram dois membros de topo da Montanha, implicados em muitos morticínios. Collot-d'Herbois esteve implicado nas chacinas de Lyon. Todavia, juntamente com Tallien lideraram a resistência contra Robespierre que levou à queda deste. Os motivos dos 3 não seriam os mais nobres (Tallien estava principalmente interessado em salvar a sua apaixonada das garras do Tribunal Revolucionário, onde a esperava a certeza da guilhotina) mas o resultado salvou a França da continuação da ditadura sangrenta da Montanha e das suas consequências imprevisíveis.
Todavia, quer Collot-d'Herbois, quer Billaud-Varenne foram posteriormente, em face da pressão da opinião pública, confrontados com as carnificinas que tinham organizado ou apoiado e condenados à deportação para a Guiana. Foi pela sua participação no Thermidor que escaparam à sorte de Carrier, o carrasco de Nantes, que foi executado.
Collot-d'Herbois resistiu poucos anos ao clima da Guiana, mas Billaud-Varenne sobreviveu à queda de Napoleão e ao regresso dos Bourbons, tendo então fugido da Guiana e refugiado no Haiti, onde morreu em 1819. Manteve um grande ressentimento contra a forma como os acontecimentos evoluiram, tendo afirmado pouco tempo antes de morrer «Mes ossements du moins reposeront sur une terre qui veut la liberté; mais j'entends la voix de la postérité qui m'accuse d'avoir trop ménagé le sang des tyrans d'Europe».
Estas declarações de um dos maiores carrascos do período revolucionário dão que pensar. Billaud-Varenne profetizava já o novo refluxo revolucionário, mas esquecia-se que quanto mais distantes os acontecimentos ficam, maior lucidez há entre os historiadores, até porque precisam menos de maquilhar esses acontecimentos para justificar opções políticas. Eles já estão tão distantes e as sociedades evoluiram tanto, que essa justificação deixou de ter importância. Billaud-Varenne permanece e permanecerá, portanto, o que de facto foi: um carrasco.
Vilate, Joachim_Causes secrètes de la révolution du 9 au 10 Thermidor
Vilate, Joachim_Continuation des causes secrètes de la révolution du 9 au 10 Thermidor
Vilate, Joachim_Les mystères de la mère de Dieu dévoilés
Estes 3 volumes foram escritos na cadeia após o 10 Thermidor. São edições de 1794. Julgo que foram reeditadas em França no bicentenário do Thermidor. Vilate era membro do júri do Tribunal Revolucionário e foi preso juntamente com Fouquier-Tinville e incluído no mesmo processo. Vilate tentava justificar-se perante a opinião pública e influenciar “de fora” o processo. Não o conseguiu. Todavia são obras importantes porque feitas por alguém de dentro dos mecanismos da carnificina organizada pelo Tribunal Revolucionário. Obviamente contêm muitas falsidades, tendo em vista os objectivos do autor, por isso devem ser cotejadas com outras obras sobre o assunto.
Uma situação interessante e que se repetiu diversas vezes na história foi o facto dos acusados no processo sobre as acções do Tribunal Revolucionário terem alegado que “apenas cumpriam ordens”, o que dá uma triste ideia da forma como era então encarada a independência do poder judicial.
Como contrapartida, o branqueamento posterior da figura de Robespierre passaria por afirmar que ele não saberia da maioria das barbaridades cometidas pelo Tribunal Revolucionário, o que é falso, em face da documentação existente, e que a “conspiração” de Billaud-Varenne, Tallien e Collot-d'Herbois no 8 Thermidor foi destinada a eliminar Robespierre que quereria pô-los a julgamento pelos crimes cometidos. Esta explicação é completamente perversa. Após a liquidação dos girondinos, Robespierre foi procedendo à liquidação dos seus adversários mais radicais (Hébert e os exagerados) e menos radicais (Danton e os indulgentes) e provavelmente continuaria, dentro do mesmo espírito, de forma a obter uma liderança “pura”, à semelhança do que aconteceu, posteriormente na URSS, com as purgas estalinistas.
É todavia provável que Billaud-Varenne, Tallien e Collot-d'Herbois estivessem na calha para serem as próximas vítimas. Certo era Thérésa Cabarrus, a futura Mme Tallien e a «Nossa Senhora do Thermidor», estar indicada para comparecer a 9 ou 10 no Tribunal Revolucionário e ser executada no dia seguinte, como era norma naquela justiça “expedita”. Ter-se-ia perdido a figura de proa da sociedade francesa e dos salões parisienses do post-Thermidor, a organizadora dos “Bailes das Vítimas” onde cada conviva ia mascarado de uma vítima do Tribunal Revolucionário.
Dulaure_Causes secrètes des excès de la Révolution Paris 1815 – Dulaure tenta provar que foram os Bourbons emigrados que traíram Luís XVI e instigaram o regime de terror. Aliás uma das teses dos defensores da república, na época, era a de que tinha sido o ouro de Pitt que subvencionava os extremistas para desacreditar a revolução. Naquela época, sem a experiência histórica de outras revoluções, custava a perceber como arautos da liberdade podiam chegar a tamanha barbaridade. Ora revoluções posteriores mostraram que tal podia acontecer e que era o próprio processo que levava a tal, se não encontrasse uma força que o travasse e o fizesse encontrar o equilíbrio correspondente ao grau de consciência social existente.
Dulaure_Esquisses historiques de la Révolution française Paris 1823 - 6 vols
Prudhomme, Louis-Marie _Histoire Générale et Impartiale des erreurs et des crimes commis pendant la Révolution française Paris 1797 - 6 vols (Dictionnaire 3 vols, Assemblée législative 1 vol, Convention nationale 2 vols). Numa época de refluxo revolucionário, uma obra justificativa de alguém “de dentro”.
Mémoires de R. Levasseur de la Sarthe Paris 1829 - 4 vols. Levasseur de la Sarthe foi um partidário da Montanha, politicamente próximo de Robespierre, sendo após o 10 Thermidor um dos principais líderes da Montanha enfranquecida. Nunca renegou as suas opiniões e manteve-se convicto de que o que havia sido feito durante o Terror, tinha sido necessário. As suas memórias foram publicadas no período final da Restauração, numa época em que o branqueamento do Terror era uma das componentes da luta contra a monarquia. As ideias da liberdade e da democracia haviam ficado inquinadas pelas barbaridades cometidas. A luta pela liberdade teve passar pelo branqueamento dessas barbaridades, quer menorizando-as e considerando-as essenciais face à conspiração monarquica, quer atirando, total ou parcialmente, a responsabilidade para outros.
Thibaudeau_Mémoires sur la Convention et le Directoire Paris 1824 - 2 vols. Thibaudeau situava-se inicialmente próximo da Montanha, mas era contrário a Robespierre. Como a sua intervenção política foi mais visível após a queda de Robespierre, as suas memórias referem-se mais ao período post-Robespierre, embora tenha uma descrição muito pormenorizada dos acontecimentos do Thermidor
Georges Duval_Souvenirs de la Terreur de 1788 à 1793 Paris 1841 4 vols
Georges Duval_Souvenirs thermidoriens Paris 1844 2 vols (é a continuação da obra anterior)
São obras muito críticas sobre as acções dos revolucionários.
Des Essarts_Précis Historique de la vie, des crimes et du supplice de Robespierre Paris 1797
Mémoires de Madame Roland (Marie-Jeanne Phlipon) Écrits durant sa Captivité Paris 1864 2vols. Mme Roland foi guilhotinada no âmbito do processo dos Girondinos. O seu marido, ministro girondino, que havia conseguido fugir, suicidou-se ao saber da sua execução.
Mémoires de Barras Paris 1894 4 vols (o 1º volume é sobre a revolução e o 2º e 3º são sobre o Directório)
Mémoires de Lucien Bonaparte Paris 1836 (só foi publicado o 1º vol – Revolução e Directório).
Necker_Réflexions présentées à la Nation Française sur le procès intenté à Louis XVI Paris 1792
Necker, Jacques_De la Révolution françoise Paris 1797
Necker foi ministro de Luís XVI antes e depois da convocação dos Estados Gerais. Homem muito competente, foi vítima das intrigas da corte e da tibieza de Luís XVI. Sucessivamente chamado, em face do desastre iminente, e despedido depois quando parecia que a borrasca se afastava, a vida política de Necker foi o símbolo da desorientação da monarquia francesa desta época.
Staël-Holstein, Germaine de_Réflexions sur le procès de la Reine par une femme Août 1793
Staël-Holstein,Germaine_Considérations sur les principaux événements de la Révolution françoise 3 vols sem data (presumivelmente 1815 ou 1816). Mme de Staël, filha de Necker, foi uma mulher notável, uma observadora atenta e objectiva do seu tempo. Escreveu muitos outros opúsculos durante o período revolucionário e napoleónico.
Igualmente Olympe de Gouges escreveu dezenas de opúsculos durante o período revolucionário, alguns sobre os direitos das mulheres, até ser guilhotinada.
Montgaillard_Histoire de France depuis la fin du règne de Louis XVI Paris 1827 3 vols (vai desde 1791 a 93)
Documentos impressos nas semanas que se seguiram ao Thermidor:
Papiers inédits trouvés chez Robespierre, Saint-Just, Payan
Papiers inédits trouvés chez Robespierre, Saint-Just, Payan et supprimés par Courtois - 3 vols.
Esta compilação foi editada pela Convenção e visava carrear alegadas provas da Conspiração dos Triumviros Robespierre, Couthon e Saint-Just que seria desencadeada na sessão do 8 Thermidor. O primeiro inventário foi julgado incompleto e foi feito um segundo mais extenso.
Faits recueillis aux derniers instants de Robespierre et de sa faction
Vie secrette, politique et curieuse de M. J. Maximilien Robespierre
Roux, Louis-Félix_Relation de l'événement des 8, 9 et 10 thermidor sur la conspiration des Triumvirs Robespierre, Couthon et St.-Just
J.-J. Dussault - Portrait de Robespierre avec la Réception de Fouquier-Tainville aux Enfers par Danton et Camille-Desmoulins
Jornais:
Hébert_Je suis le véritable Père Duchesne foutre 1790-94 - 6 volumes. O Père Duchesne era uma espécie de blog da época, extremamente ordinário na linguagem (como pode observar-se pelo título), publicado num in-folio dobrado formando 8 páginas. Vivia da exploração do boato e da calúnia e, escrito numa linguagem muito popular e “vernacular”, era muito popular entre a populaça parisiense. A facção Robespierre achou que Hébert tinha atingido o limite do insuportável e que a sua continuidade poderia ser prejudicial politicamente. Hébert e os exagerados foram guilhotinados.
Brissot_Le patriote francois 1789/1793 - 6 volumes. Brissot era um dos principais dirigentes dos Girondinos, que foram os mais brilhantes oradores e publicistas da época, embora tivessem demonstrado pouca sagacidade política ao longo de todo o processo revolucionário, o que facilitou a sua liquidação física pela Montanha. O jornal de Brissot é um importante acervo documental para compeender esta época. Começou a publicar-se em 6 de Maio de 1789 e o último número saíu a 2 de Junho de 1793.
Journal de la Montagne 30 de Maio de 1793 /18 de Novembro de 1794 - 3 vols. Começou a publicar-se praticamente com o fim do jornal de Brissot e dos Girondinos e sobreviveu apenas 4 meses à queda de Robespierre.
Camille-Desmoulins_Le vieux Cordelier Paris 1793/94. Jornal com alguma influência nos meios revolucionários, iniciou a publicação em fins de 1793 com o intuito de tentar travar os excessos que estavam a ser cometidos. Camille-Desmoulins depois de ter sido um dos arautos da liquidação física dos “aristo” e dos girondinos, evoluiu no sentido de uma pacificação social. Embora inicialmente tivesse, ao que ele pensava, o apoio de Robespierre, rapidamente evoluiu para uma cisão e tornou-se crítico da política de Robespierre. Acabou quando Desmoulins foi guilhotinado, no processo de Danton e dos indulgentes. O último número, o sétimo, já foi póstumo.
Prudhomme, Louis-Marie _Révolutions de Paris 12-julho-1789 – 30-Abril-1791 7 vols
Não conheço nenhuma edição compilada do L’Ami du Peuple de Marat que será igualmente um importante documento de referência. Marat foi uma figura muito controversa e uma análise das suas acções já não cabe aqui, face à extensão que esta “notícia” tomou.
Publicado por Joana às 08:15 PM | Comentários (20) | TrackBack
janeiro 21, 2004
A execução de um rei
Em 21 de Janeiro de 1793, há 211 anos, Luís XVI foi guilhotinado. O seu processo e a sua execução foram o culminar de acontecimentos que se sucederam vertiginosamente e relativamente aos quais Luís XVI foi largamente responsável, não por malevolência, mas por omissões, tibieza, decisões erradas e contraditórias fruto do mau aconselhamento e da traição de familiares e próximos. A situação existente então exigia um rei firme e ministros hábeis. O rei era fraco e, quando tinha a sorte de escolher ministros hábeis, como Necker e mais tarde, em plena revolução, Narbonne, destituía-os por intrigas da corte.
Luís XVI era por natureza bondoso, mas incapaz e tíbio. As suas distracções eram a caça e a marcenaria. Quando se debateu o local para reunião dos Estados Gerais, falou-se sucessivamente de Tours, de Blois, de Cambrai. Necker, mais próximo dos liberais, propôs Paris, escolha perigosa, como se viu posteriormente. Luís XVI permaneceu sempre calado. Saint-Priest falou então de Saint-Germain. O rei, saído do seu entorpecimento habitual, declarou peremptoriamente: « Não, tem que ser em Versailles, por causa das caçadas. » Esta razão tão «decisiva» prevaleceu. Esta escolha teve as consequências que se sabe. O motor da barbárie persecutória, que acompanhou a revolução, foi a Comuna de Paris apoiada pelas secções dos bairros populares.
A França antes de 1789 era o país mais própspero da Europa continental. É certo que essa riqueza estava mal distribuída, que os impostos eram excessivos e discriminatórios e que uma burocracia estéril e as coacções feudais prejudicavam o funcionamento das actividades económicas. Mas o factor com maior peso foi que a principal detentora do poder económico, a burguesia, estava menorizada nessa sociedade, era postergada nos cargos públicos, na carreira das armas, por uma nobreza cortesã e fútil e por um alto clero anexado pelo poder monárquico. Foi o próprio desenvolvimento económico da França que gerou as contradições que acabaram por destruir a monarquia e o edifício feudal.
O que há de percursor na Revolução Francesa, mas que se tornou um paradigma noutras revoluções, foi o ter começado por uma revolta dos notáveis.Os notáveis (duques e pares, marechais, prelados, presidentes dos tribunais, prefeitos das 25 maiores cidades, delegados das províncias, etc.) reunidos em Versailles em Fevereiro de 1787 apesar de não representarem a verdadeira França, estavam de tal forma imbuídos da febre das reformas que não sancionaram os projectos fiscais de Calonne (que havia substituído Necker, homem capaz, mas destituído por Luís XVI devido a intrigas da corte) que foi obrigado a resignar, substituído por Brienne, que obrigou à convocação dos Estados Gerais e ao regresso de Necker, para tentar salvar a situação das finanças públicas.
Aliás, o principal inimigo de Luís XVI, o financiador de revoltas, de escrevinhadores de pasquins, de oradores das ruas e dos clubes, foi outro notável, o Duque de Orleães, Filipe, Grão-Mestre da franco-maçoanaria, guilhotinado mais tarde sob o «pseudónimo» que havia adoptado de Philippe-Egalité. Como eminência parda do duque, surge Choderlos de Laclos, célebre pelo seu extraordinário romance «As Ligações Perigosas», mas politicamente um crápula, de moralidade mais duvidosa que a das personagens mais imorais do seu romance, que se salvou in extremis da guilhotina que vitimou o seu patrão. A ambição do Duque de Orleães era ser o monarca constitucional. Acabou no patíbulo. Mas o seu filho, então Duque de Chartres, que emigrou quando se apercebeu como a situação iria evoluir, acabou por se tornar Rei dos Franceses, entronizado pela Revolução de 1830 e destronado pela Revolução de 1848.
Os acontecimentos sucederam-se vertiginosamente. Perante a não anuência do 3º Estado ao voto por Ordens, e a este se ter assumido, no juramento do Jogo da Péla, como Assembleia Nacional, o Rei capitula primeiro, mas decide resistir depois, face à insistência da rainha e do seu irmão mais novo, e despede Necker. A inepta resistência real e as mobilizações de rua culminam, dias depois, na tomada da Bastilha.
A 4 de Agosto de 1789 a Assembleia Nacional, no paroxismo das mais acendradas virtudes cívicas, proclama a Declaração dos Direitos do Homem, abolindo todas as corveias e servidões feudais. No fim propõe-se um Te Deum e Luís XVI é proclamado o «Restaurador da Liberdade Francesa».
A questão do direito de veto por parte do rei e os boatos sobre a conspiração da «camarilha da corte» conduzem a nova insurreição revolucionária que obriga o rei e a família real a abandonar Versalhes e a passar a residir em Paris, nas Tulherias, em Outubro de 1789. Entretanto os irmãos do rei, os futuros Luís XVIII e Carlos X, emigravam.
Incapaz de tomar uma decisão acertada, Luís XVI, ficou cada vez mais isolado e presa da populaça parisiense. Mirabeau, que a Corte havia subornado para tentar travar o processo revolucionário, morre em 2 Abril de 1791, deixando a monarquia sem quaisquer apoios na Assembleia Constituinte.
Foi então que a família real tomou a decisão mais fatal. Fugir. Mas a fuga mal organizada, a inabilidade do rei durante a viagem, levaram à sua descoberta e ao regresso a Paris sob escolta. A fuga de 20 Junho de 1791, equivaleu à demissão do rei. Entre essa data e a data em que manifesto do Duque de Brunswick é conhecido em Paris, quando as Tulherias são assaltadas e a família real presa no Templo (10 Agosto de 1792), o rei não passou de uma figura sem qualquer poder, assistindo à ascensão da Montanha em detrimento dos Girondinos que, embora republicanos, eram pela legalidade e avessos a soluções de força e à barbárie extremista.
A vitória dos exércitos franceses em Valmy e os massacres de Setembro marcam o início da ditadura da Montanha, chefiada por Danton e depois por Robespierre e baseada no terror que a Comuna de Paris impunha à maioria dos deputados da Convenção, entretanto eleita e que substituiu a Assembleia Legislativa. Enquanto na Assembleia Legislativa os Girondinos se sentavam à esquerda, na Convenção sentaram-se à direita. Sinais dos tempos. Nas revoluções o que é verdade hoje, passa a falso amanhã.
Coube à Convenção proclamar a república e fazer o processo do rei. O processo e a condenação do rei e, posteriormente, da rainha, foi um gesto bárbaro e inútil. O rei tinha sido deposto. Era um fraco, sem capacidade de decisão. Não era a sua morte que iria impedir o restabelecimento da monarquia, como se viu depois da queda de Bonaparte, em que reinaram sucessivamente os seus dois irmãos. Thomas Paine aconselhou vivamente a que os revolucionários franceses desistissem da ideia, pois ela seria prejudicial para a república. Os girondinos tentaram manobras de diversão de forma a que um eventual julgamento se dirigisse ao conjunto dos Bourbons e tivesse apenas um aspecto político.
Mas Robespierre, que subia no favor da torrente revolucionária, rompe com o legalismo, considerando que prevalecia o interesse superior da Revolução, exige a condenção à morte, mesmo sem processo como medida de salvação pública. Durante o processo alerta para que não haja sensibilidade e clemencia para com a tirania. O julgamento tornou-se numa questão política.
A maioria absoluta, tendo em conta os deputados ausentes e os que se recusaram a votar, era de 361 votos. Votaram pela morte 365. Entre eles o Duque de Orleães, entretanto redenominado Philippe-Egalité. Foi apenas uma maioria de 5 votos. Sem a pressão das secções parisienses, da Comuna e da populaça das tribunas, isto é, se o voto fosse realmente independente, certamente que aquela maioria se teria transformando numa clara minoria. A história não quis assim.
Mas a história também foi cruel para os regicidas e para a França. O processo revolucionário prosseguiu, com as secções populares de Paris e a Comuna cada vez mais extremistas, e a província cada vez mais distanciada e revoltada com os acontecimentos de Paris. A maioria dos líderes revolucionários foi executada sucessivamente, cada segmento mandado executar pelos que lhe sobreviviam: os girondinos (em Outubro), os Hébertistas (em Março do ano seguinte), em Abril, Danton e os indulgentes e, finalmente, Robespierre e a ala mais totalitária dos jacobinos (9 Thermidor- 27 de Julho de 1794). A república tinha feito o seu suicídio durante o ano e meio que decorreu entre a execução do rei e a execução de Robespierre e dos seus apoiantes.
O regime Thermidoriano, corrupto, oscilando entre um forte movimento realista e um sentimento republicano ainda importante, sobreviveu durante cinco penosos anos e caiu como um fruto maduro nas mãos de um general vitorioso, Bonaparte, no 18 de Brumário, inaugurando um novo regime ditatorial, que só sobrevivia da guerra e pela guerra, que ensanguentou a Europa durante quase 2 décadas, até à queda de Napoleão e ao regresso dos Bourbons.
Tirando um curto episódio em 1848, a república só regressaria a França depois da humilhante derrota na guerra de 1870/71. Nessa época a França já não era o país mais próspero da Europa Continental. A Alemanha tinha-a ultrapassado no desenvolvimento industrial e social.
Executar o rei teve o carácter de destruir o símbolo. Em todas as épocas, em todas tormentas sociais, em todos os conflitos políticos, há a ideia ingénua que a liquidação de um símbolo, a promulgação de uma legislação definitiva, cristaliza uma situação e impede qualquer modificação no sentido que se quer evitar. A revolução francesa, e outras que se lhe seguiram, mostrou que uma ideia não se liquida, liquidando algo que se julga que a simboliza. Liquida-se retirando-lhe as condições objectivas e subjectivas para que ela subsista. Isso não se faz por decreto nem por execuções sumárias. Ao ordenar a execução do rei, a república francesa, acabada de nascer, suicidou-se. Os poucos anos que se seguiram até Bonaparte foram apenas o seu estertor.
Publicado por Joana às 09:40 PM | Comentários (20) | TrackBack
dezembro 26, 2003
Semiramis e o Natal
O Público trazia há dias um artigo alegadamente científico, ligando a tradição do 25 de Dezembro à consagração da maior estátua ao Deus do Sol - o Colosso de Rodes. Como a provável data da consagração foi 283 AC e nesse ano o solstício ocorreu em Rodes por volta do nascer do Sol do dia 25 de Dezembro, esse seria o acontecimento-chave do início dessa tradição. Todas estas “descobertas” históricas eram o resultado de uma profunda investigação, para a qual os “potentes computadores do Nautical Almanac Office” teriam dado, segundo a notícia, um concurso decisivo.
Não podia ficar indiferente. Fiz imediatamente as malas, muni-me do meu portátil, em nada inferior aos “potentes computadores do Nautical Almanac Office” e iniciei a minha jornada de investigação.
Deve começar-se pelo princípio. Dirigi-me ao cume do Ararat, onde a tradição coloca a “aterragem” da arca de Noé e segui as pisadas daquele patriarca que, felizmente para nós, foi o primeiro eminente especialista em previsões meteorológicas.
Durante horas vagabundeei rumo ao sul, pelas montanhas da Assíria, seguindo a peugada de Cam, filho de Noé. Foi uma investigação arriscada, em vista da instabilidade que reina na região. Seguindo um vale profundo, cavado por um caudaloso afluente do Tigre, dei por mim diante das ruínas de um casebre de adobe ladeado por duas árvores seculares, mais tristes que plantas crescidas na fenda de um sepulcro, erguendo a sua rama rala e sem flor. E na sombra ténue do crepúsculo, emergiam duas velhas descalças, desgrenhadas, com rasgões de luto nas túnicas pobres, mais velhas que as árvores seculares, mais arruinadas que o casebre de adobe, hirtas, de cabelos desmanchados, alastrados até ao chão, numa neve inesperada. Um cão, que farejava entre as ruínas, uivava sinistramente. … Enfim, o cenário ideal para veicular tradições milenares.
Foi aí que uma das anciãs, cabeça mais lívida que o mármore, por entre os cabelos emaranhados que o suor empastara e os olhos esmoreciam, sumidos, apagados, me informou penosamente que, de acordo com as tradições daquela aldeia e de todo o Crescente Fértil, aliás coincidentes com as da Bíblia, Cam, filho de Noé, havia tido um filho chamado Cush que desposara Semiramis. Cush e Semiramis tiveram então um filho chamado Nimrod (também conhecido por Ninus). Depois da morte de seu pai, Nimrod casara com a mãe e tornara-se um rei poderoso. Nimrod fora o construtor de diversas cidades (como Nínive) e da Torre de Babel (a Semiramis também foi atribuída a construção dos jardins suspensos da Babilónia).
Continuando a sua narração, a anciã, por entre sons sibilados, inevitáveis face à sua idade avançada e à ausência de recursos odontológicos na região, foi acrescentando que quando Nimrod foi morto, Semiramis proclamara que Nimrod tinha subido ao céu. Mais tarde, a patrocinadora deste blog, após alguns desregramentos domésticos que a decência e os bons costumes me impedem de revelar, tivera um filho, ilegítimo, concebido “sem pecado” (como Jesus), a quem chamara Tamuz, também conhecido por Baal. Para evitar falatórios, Semiramis pôs a correr que ele era Nimrod reencarnado. Quando Tamuz morreu, num acidente de caça, Semiramis igualmente proclamou que aquele havia subido aos céus e se tornara Deus. A sinceridade que a anciã punha nas suas palavras era garante seguro da veracidade da história. Nem por um momento tive dúvidas.
A mãe, Semiramis, era figurada como A Rainha dos Céus com o filho, Tamuz, nos braços. Várias religiões antigas contam este facto. Os nomes podem variar mas a história é a mesma. Esta religião, começada com Semiramis, tornou-se mãe de todas as religiões do mundo oriental. Numerosos monumentos babilónicos mostram a deusa-mãe Semiramis com o filho nos braços. O culto desta figura (mãe e filho) disseminou-se, sob diversos nomes, por todo o mundo antigo. Semiramis e Tamuz, Isis e Hórus, Maria e Jesus.
O filho era exibido apenas como uma criança nos braços da mãe, enquanto que os artistas se aplicavam em favorecer a imagem da mãe, tentando mostrar a beleza exótica atribuída a Semiramis durante a sua vida. Beleza, força, sabedoria, orgulho indomável, resolução inquebrantável e voluptuosidade eram os seus atributos principais. Por exemplo, Catarina II da Rússia, talvez menos pela sua energia política que pela sua vida íntima, turbulenta e lasciva, foi rotulada como a Semiramis do Norte.
Foi então que veio a revelação que eu esperava, tremendo de emoção e de frio, que esta época torna as montanhas da Assíria um local inóspito e gelado. O 25 de Dezembro era celebrado como nascimento de Tamuz! Na antiguidade caldaica, 25 de Dezembro era conhecido pelo dia da criança, o dia do nascimento de Tamuz, o deus do sol. A noite anterior era a “noite da mãe”, em honra de Semiramis, hoje “véspera de Natal”.
O nome Semiramis é a forma helenizada do nome sumério "Sammur-amat", ou "dádiva do mar." Também era conhecida por Ishtar que deu a palavra "Easter" (Páscoa) e Este (onde nasce o Sol). Os ritos da Primavera, 9 meses antes do nascimento do Sol do Inverno, foram os precursores da Páscoa cristã. Os Romanos chamavam-na Astarte e os Fenícios usavam Asher.
Em Israel era conhecida por Ashtaroth. A religião judaica, muito circunspecta e pouco dada a tratos de carnes, votava um ódio de morte à religião criada por Semiramis. Ao longo da sua história milenar centenas de vezes o povo de Israel caiu nas tentações idólatras atraído pelo suave e lascivo perfume da religião de Semiramis.
Deixei as anciãs no seu tugúrio, após lhes ter dado um óbulo modesto, mas que as comoveu de satisfação (alguns dólares fazem jeito naquela terra de escassez e miséria), pensando na linha contínua que une a nossa história às remotas tradições daquelas terras.
A gestação do cristianismo foi um fenómeno longo no tempo e no espaço. Se os seus ensinamentos morais eram a resposta que os deserdados pretendiam face à crise social e de valores do mundo antigo, o seu ritual e os aspectos lúdicos da sua liturgia entroncam nas religiões do médio oriente, transplantadas para Roma após as conquistas.
Os Romans tinham a "Festa da Saturnalia" em honra de Saturno. Este festival era celebrado entre 17 e 23 de Dezembro. Nos últimos dois dias trocavam-se presentes em honra de Saturno. Em 25 de Dezembro era a celebração do nascimento do sol invencível (Natalis Solis Invicti).
Posteriormente, à medida que as tradições romanas iam sendo suplantadas pelas tradições orientais importadas, os maiores festejos realizavam-se em honra do deus Mitra, cujo nascimento se comemorava a 25 de Dezembro. O culto de Mitra, o deus do sol, da luz e da rectidão, penetrou em Roma no 1º século AC. Mitra era o correspondente iraniano do babilónico Tamuz.
A data entrou no calendário civil romano em 274, quando o Imperador Aureliano declarou aquele dia o maior feriado em Roma. A data assinalava a festa mitraista do Natalis Solis Invicti.
Aureliano ao acabar com a insurreição de Palmira e do Oriente e trazer a sua rainha Zenóbia para Roma, enterrou, em contrapartida e definitivamente, as tradições romanas do culto da família e das virtudes que haviam feito a grandeza da república, mas que foram perdendo influência à medida que o poder de Roma se estendia ao mundo conhecido.
A escolha do dia 25 de Dezembro como data de comemoração do nascimento de Cristo nada teve, portanto, de arbitrária. Ao colocar, de uma vez por todas, o nascimento de Cristo a meio das antiquíssimas festividades pagãs do solstício do Inverno, a Igreja Cristã tinha a esperança de as absorver e de as converter, o que veio efectivamente a acontecer. Mas se a Igreja ganhou ao transformar aquela festividade na comemoração mais importante da liturgia cristã, teve que aceitar a aculturação resultante da importação de muitos símbolos das religiões antigas.
Foi assim que no século IV, o 25 de Dezembro passou a ser a festa do "Dies Natalis Domini", por decreto papal. A partir daí não há dúvidas e a história está tranquila.
E assim terminei a minha investigação e regressei a penates. E enquanto crepitava a lareira no conchego do lar, fui pensando no fio oculto que nos liga ao início da história da humanidade. Quando se fala da tradição judaico-cristã da nossa cultura eu penso menos nessa tradição como fé religiosa do que como matriz cultural. A gestação do cristianismo durou vários séculos num meio político que o hostilizava. A religião cristã acabou por incorporar na sua liturgia imensos símbolos das religiões que a precederam – a Virgem e o menino, o Natal, a Páscoa, o halo que se perfila por detrás da cabeça de Cristo (posteriormente alargado às representações dos santos), que representa uma reminiscência simbólica do sol invencível, etc..
Contrariamente às pretensões dos cientistas britânicos, o Natal, assim como outras ocorrências da liturgia cristã, não começou com a consagração do colosso de Rodes, há 2300 anos. Começou há muitos milénios, no seio das primeiras religiões do médio oriente, ligado ao culto solar sob diversas formas e sentimentos. Continuou, adaptando-se ao sabor das alterações políticas e religiosas, incorporando ou rejeitando símbolos e conceitos, mas comemorando sempre o 25 de Dezembro e a sua véspera.
Publicado por Joana às 08:06 PM | Comentários (12) | TrackBack
dezembro 21, 2003
1939: a URSS é expulsa da SDN
Em 15 de Dezembro de 1939, quando a URSS se engalanava para as comemorações, a 19-12, dos 60 anos de Estaline, o “Pai dos Povos”, o Estado Soviético era expulso da Sociedade das Nações.
A história mundial entre 1939 e 1941 teve diversas leituras referindo-se aos mesmos factos. As potências democráticas, a Alemanha nazi e a URSS fizeram deles leituras diferentes, consoante os seus pontos de vista. Mas o mais paradigmático foi as potências democráticas alteraram a sua leitura à medida da evolução da história. As verdades em 1939/40 foram complacentemente ignoradas quando a relpolitik impôs as suas exigências. Quando a realpolitik já não necessitava dessa ignorância, o “politicamente correcto” dos intelectuais bem-pensantes transformou aquelas verdades em mentiras. Mentiras cujo simples enunciado era indício seguro de um anti-sovietismo primário.
Foi preciso os próprios reconhecerem que as verdades em 1939/40 eram mesmo verdades, para estas adquirirem o estatuto de verdades.
O ucasse de 4 de Maio de 1939 nomeava Molotov Comissário do Povo para os Assuntos Estrangeiros da URSS, dando notícia da exoneração, no dia anterior, de Litvinov. Litvinov era o homem que defendia a política da segurança colectiva e do prestígio da Sociedade das Nações a que a URSS aderira em 1934. Era o homem que defendia as alianças com as potências ocidentais face ao avanço do nazismo e dos regimes totalitários na Europa de Leste.
A política de apaziguamento franco-britânica nos anos que precederam a guerra não facilitou a vida de Litvinov, face às pretensões do seu patrão. A Europa ocidental vivia um intenso clima de pacifismo e Estaline resolveu apostar na carta alemã, de forma ficar com as mãos livres nas suas ambições de restaurar as fronteiras do antigo império dos czares, onde tinham estado incluídos os estados bálticos, a Polónia oriental, a Bessarábia e a Finlândia.
Litvinov não era a pessoa indicada para essa política e foi exonerado “a seu pedido” e substituído por Molotov. Esta mudança foi igualmente um sinal importante para Hitler e von Ribbentrop. A URSS do Alexandre Nevsky (1938) de Eisenstein, mostrando a derrota dos cavaleiros teutónicos contra a Santa Rússia, iria dar lugar, anos mais tarde, ao Ivan o Terrível (1943 e 1946), também de Eisenstein, mas glorificando a tirania, o poder pessoal e a expansão face ao exterior.
Todavia, os líderes políticos da Europa Ocidental, em face da rotura dos acordos de Munique, da anexação da Boémia e Morávia e da transformação da Eslováquia em satélite, tinham estabelecido, apesar do seu pacifismo, acordos com garantias de assistência bilateral com a Polónia e a Roménia. Se é certo que as reticências polacas dificultavam um acordo de segurança mais consistente, a manutenção de Litvinov levaria provavelmente a um acordo colectivo satisfatório. Foi sintomática a sua exoneração quando os acordos de assistência bilateral franco-britânicos com a Polónia e a Roménia impediam, na prática, a agressão alemã à URSS, pois os alemães teriam que atravessar um destes países para invadir a URSS.
O que se passou na esfera diplomática entre o ucasse de 4 de Maio e a assinatura do Pacto de não-agressão Germano-Soviético em 23 de Agosto, com o protocolo secreto que deixava os os estados bálticos, a Polónia oriental e a Bessarábia na “esfera de influência” soviética, foi uma comédia de enganos, com a URSS a negociar com os 2 blocos, as potências democráticas mostrando uma grande fragilidade negocial e os nazis a licitarem com uma proposta “irrecusável”. Irrecusável para quem aceita traficar a independência dos outros povos. Os termos do acordo colocavam a URSS no mesmo plano que a barbárie nazi.
Em França, o PCF aprovou o Pacto Germano-Soviético, o que provocou a reprovação de todos os restantes partidos, nomeadamente as formações de esquerda, aliás dominantes na Câmara (Daladier, o 1º Ministro, era radical-socialista). Um decreto de 25 de Agosto suspendia o Humanité e os outros periódicos comunistas. Após a entrada das tropas soviéticas na Polónia e face á manutenção das posições do PCF, o Partido Comunista é dissolvido em 26 de Setembro. O grupo dos deputados comunistas na Câmara dos Deputados passou a designar-se por “Grupo Operário e Camponês”.
Em 1 de Setembro a Alemanha invadia a Polónia e, após a rotura das defesas polacas pelos alemães, em 17 de Setembro, Molotov fazia uma comunicação radiofónica declarando que em vista da incapacidade interna do Estado Polaco, a URSS decidira avocar a si a protecção das “populações da Bielorússia e da Ucrânia ocidental”, ou seja, mais de metade da Polónia de então. Em 19 de Setembro um comunicado conjunto germano-soviético dava conta que a tarefa das tropas alemãs e soviéticas era “restaurar a paz e a ordem perturbadas pela desintegração do Estado Polaco e auxiliar a população a reorganizar as condições para a sua existência política”. Maior cinismo era impossível.
A entrada das tropas soviéticas, na retaguarda das tropas polacas, comprometeu definitivamente a resistência polaca, já à beira da rotura. Em 29 de Setembro Varsóvia capitulava finalmente e era ocupada pela Wehrmacht.
A fase seguinte foi o estabelecimento “forçado” de bases militares nos estados bálticos através da imposição de pactos de assistência mútua (Estónia em 28 de Setembro, Letónia em 5 de Outubro e Lituânia em 10 de Outubro). Após a queda da França, e tirando partido da provável vitória da Alemanha na guerra que, tudo indicava, iria conduzir à liquidação do direito internacional e à entrega do mundo ao império do gangsterismo político, a URSS criou governos fantoches na Lituânia, Estónia e Letónia que estabeleceram repúblicas soviéticas naqueles estados. Entretanto, em 12 de Outubro o governo soviético, a seu pedido, iniciou negociações com a Finlândia. Todavia, e tentando prevenir uma situação idêntica à ocorrida com os estados bálticos, quer os restantes países escandinavos, quer os EUA enviaram mensagens aos dirigentes soviéticos mostrando a sua inquietação.
Em 31 de Outubro, Molotov voltou a falar perante o Soviete Supremo: “… Os senhores da Polónia costumavam vangloriar-se da estabilidade do seu país e do poderio do seu exército. Bastou um pequeno golpe do exército alemão, seguido de outro semelhante do exército vermelho para reduzir a nada esse mostrengo gerado pelo Tratado de Versalhes”, acrescentando que os agressores eram agora a França e a Inglaterra e não mais a Alemanha. Já nem sequer havia diferenças de terminologia linguística entre os líderes nazis e soviéticos.
Mas neste discurso, Molotov revelou ainda que tendo o governo finlandês recusado um pacto de assistência mútua, a URSS iria passar ao exame de “questões concretas”. E essas questões concretas seriam “ajustamentos” fronteiriços: anexação pela URSS da região de Vyborg e do sector norte do Lago Ládoga, entre outras coisas. E, mostrando o seu completo desprezo pelo direito internacional, exprimiu a sua surpresa pela mensagem de Roosevelt em favor da Finlândia, declarando-a contrária à neutralidade americana. Intervir em favor dos que estão na iminência de serem devorados viola a “neutralidade”.
As negociações com a Finlândia decorriam quando, em face das reticências desta em aceitar o diktat soviético, houve um alegado incidente fronteiriço que, segundo os soviéticos, consistiu num bombardeamento efectuado pelos finlandeses às guarnições fronteiriças soviéticas, causando a morte de diversos soldados. Um “incidente” semelhante aos encenados pelos nazis nas vésperas das suas agressões. Em 26 de Novembro Molotov entregava ao ministro da Finlândia em Moscovo uma nota de protesto sobre este imaginário incidente, exigindo a retirada das tropas finlandesas para além de 25 kms da fronteira. A 27, o governo finlandês consentia, sob reserva de reciprocidade. A 28 Molotov invocava novos incidentes e denunciava o pacto de não-agressão russo-finlandês. Em 30 de Novembro de 1939, a URSS (170 milhões de habitantes) atacava a Finlândia (3,65 milhões de habitantes), sem prévia declaração de guerra.
Foi imediatamente constituído um governo da República Democrática Finlandesa, presidido por Kuusinen (um membro do Komintern) e sediado numa cidade fronteiriça ocupada pelos soviéticos nas primeiras horas da guerra e assinado um Pacto de Amizade e Assistência Mútua com aquele governo fantoche. Os alemães ocupavam primeiro os países e criavam um governo fantoche depois. Aos soviéticos bastava qualquer posto fronteiriço, ou provavelmente nem isso.
Em face da agressão soviética, o governo finlandês pediu em 3 de Dezembro a convocação urgente do Conselho e da Assembleia da Sociedade das Nações. O Conselho reuniu a 9 e fixou a procedimento a seguir na Assembleia que reuniu a 11. A Sociedade das Nações dirigiu um ultimato à URSS, exigindo a cessação imediata das hostilidades, oferecendo a sua mediação e dando um prazo de 24 horas para resposta. Molotov, em nome do governo soviético, declinou o “amável convite da SDN”. Em 14 de Dezembro, a Assembleia considerava inválidas as justificações apresentadas pelo governo soviético, reconhece que a URSS se colocou fora do pacto da SDN pela sua agressão à Finlândia. A resolução da SDN apelava a cada membro que fornecesse a assistência material e humanitária à Finlândia que pudesse. Votaram a favor 31 países e houve 9 abstenções – os 3 estados escandinavos (demasiado expostos face à Alemanha e à URSS), os 3 estados bálticos (já ocupados militarmente pela URSS), a Bulgária, a China e Suiça (Alemanha, Itália e o Japão já tinham entretanto abandonado a SDN). No mesmo dia, e na sequência desta resolução, o Conselho da SDN associou-se à condenação da Assembleia e excluiu a URSS da SDN com base no articulado do pacto.
A ofensiva soviética foi contida na Linha Mannerheim em 12 de Dezembro e em 19 de Dezembro, quando foram comemorados os 60 anos de Estaline, o “Pai dos Povos”, as tropas soviéticas sofriam revezes sucessivos e perdas significativas em meios humanos e materiais. Só em fins de Fevereiro e após pesadas baixas é que os soviéticos conseguiram romper as defesas finlandesas.
O tratado de paz assinou-se em 12 de Março. A Finlândia, com uma população 50 vezes menor do que a URSS, já não podia resistir, e a URSS, que via o enorme ressentimento e indignação que aquela agressão injusta a um pequeno país havia causado no ocidente, e face às enormes baixas que havia sofrido, preferiu uma paz rápida para minimizar os prejuízos políticos da agressão. Nunca mais se ouviu falar do governo da República Democrática Finlandesa, presidido por Kuusinen.
Vyborg foi a única cidade finlandesa importante conquistada. Todos os seus habitantes fugiram. A Finlândia é hoje um país próspero, com cidades bem construídas e com um ambiente urbano extremamente agradável. Estive em Vyborg (Vipurii) há poucos meses. É uma cidade arruinada, onde a maioria dos edifícios e infra-estruturas está completamente degradada.
A política pró-nazi da liderança soviética continuou, todavia. A ocupação alemã da Dinamarca e da Noruega foi, a princípio, atribuída pela imprensa soviética às provocações franco-britânicas. Os comunistas franceses e a classe operária francesa eram instruídos na “verdade” que a guerra contra a Alemanha era “imperialista” e “injusta”.
Quando a Alemanha atacou a Holanda e a Bélgica a Pravda escreveu em editorial “…até agora o bloco franco-britânico pode vangloriar-se de um único sucesso: jogou mais dois países numa guerra imperialista; duas outras nações foram condenadas ao sofrimento e à fome”.
A blitzkrieg alemã em França e a esmagadora vitória de Hitler, deixou estupefacta a URSS. Esperava que os exércitos alemão e francês se exaurissem na frente ocidental. Afinal, as baixas alemãs na França, contra as tropas franco-britânicas, tinham sido inferiores às baixas soviéticas na Finlândia. A URSS ficava com uma longa fronteira comum com a Alemanha de Hitler, que entretanto controlava a maioria da Europa industrializada. Parecia que o crime não compensava.
Mas afinal compensou. A agressão nazi à URSS, a necessidade para a Inglaterra (então ainda sozinha), e depois para as potências ocidentais, de apoio no conflito com as potências do Eixo levou a um branqueamento da política da URSS: o pacto com Hitler, a partilha da Polónia, a agressão à Finlândia, as anexações dos estados bálticos, o massacre de Katyn (imputado durante décadas aos nazis), etc., etc., tudo foi “esquecido”. A URSS saiu da guerra imaculada. Os partidos comunistas da velha Europa, que tinham pactuado com Hitler, emergiram da guerra apenas como heróis da resistência e da liberdade. Tudo o resto foi esquecido, primeiro em nome da realpolitik e depois em nome do “politicamente correcto”.
Só após a implosão da URSS foi possível falar do protocolo secreto do Pacto Germano-Soviético, dos verdadeiros autores do massacre de Katyn e de tantas outras coisas, sem se ser imediatamente acusado de anti-comunismo primário pelos intelectuais bem-pensantes.
O mais importante dessa efeméride é exactamente isso: o “politicamente correcto” ter mantido, durante mais de meio século, todas estas mentiras como verdades intocáveis. E isso deve ser matéria de reflexão para todos nós.
Publicado por Joana às 11:50 PM | Comentários (7) | TrackBack
dezembro 09, 2003
John Milton
Milton nasceu a 9 de Dezembro de 1608. Faz hoje quase 4 séculos. John Milton e o seu Paraíso Perdido, são talvez dos mais lídimos representantes da Inglaterra do século XVII, em que a herança elizabethiana foi postergada pela tentativa de estabelecer o poder absoluto pelos Stuarts, tentativa gorada que levou à execução de Carlos I e ao estabelecimento da república e da ditadura puritana de Cromwell. A morte de Cromwell e os excessos dos puritanos permitiram a restauração dos Stuarts, de Carlos II, que foi uma época de fausto e luxúria na corte e de ressentimento e angústia no povo e na burguesia.
A sociedade inglesa do século XVII está unida na sua vontade de mudança política, mas profundamente fragmentada em relação ao que deveria ser mudado. As implicações radicais do protestantismo inglês, a tensão entre a supremacia da consciência individual e o autoritarismo político e religioso, a secularização da autoridade religiosa, tudo levou a uma destabilização da sociedade inglesa. Foi um século em que a sociedade inglesa viveu em permanente crise, até à revolução de 1688 (Glorious Revolution), que destituiu o último dos Stuarts.
John Milton foi contemporâneo de Thomas Hobbes (1588-1679), mas teve um percurso muito diferente. Participou activamente no derrube dos primeiros Stuarts e participou igualmente no governo de Cromwell. Mas cedo se decepcionou da política e o Paraíso Perdido é um reflexo de todo esse percurso. Aqueles que não exerceram a sua fé e a sua razão, respeitando a sua liberdade e uma possibilidade de escolha, independente dos seus méritos individuais, passariam a eternidade imersos no “darkest and deepest gulf of hell" – “He who reigns within himself and rules his passions, desires and fears is more than a King”. Milton não viu a fim do período Jacobita, pois morreu em 1674.
Há algumas sentenças de Milton que permanecem surpreendentemente actuais. Ao ler “Who overcomes by force hath overcome but half his foe”, pensa-se imediatamente na política de Bush face ao Iraque e na ausência de uma componente política coerente conjugada com a intervenção militar.
Que estou eu a dizer ? ... a cultura é sempre actual.
De Milton, do Paraíso Perdido
Mundo Infernal! E tu, profundíssimo Inferno,
Recebe teu novo dono - o que traz uma
Mente que não mudará com espaço ou tempo.
A mente é seu próprio lugar e em si mesma
Pode fazer um Céu do Inferno, um Inferno do Céu.
Que importa onde, se serei sempre o mesmo
Aqui ao menos seremos livres...
podemos reinar com segurança; e, a meu ver,
Reinar é uma boa ambição, embora no Inferno:
Melhor reinar no Inferno que servir no Céu
Publicado por Joana às 09:28 PM | Comentários (5) | TrackBack
novembro 09, 2003
Tucídides, o Peloponeso e o Iraque - 6º Acto
A democracia e a sua fragilidade
Vale a pena aqui voltar ao discurso de Péricles sobre a Democracia. No citado elogio ao soldado caído nas guerras contra Esparta, Péricles diz que os heróis se sacrificaram não meramente pela sua cidade, mas pelo que ela significava, uma democracia singular e que era o modelo e a escola da Grécia. E descreve as suas características. Nela não havia censura nem intromissão na vida privada do indivíduo. O cidadão era livre para exprimir a sua opinião, enquanto nas restantes cidades, por exemplo Esparta, o caso mais extremo de totalitarismo, o cidadão vivia em função exclusiva da colectividade e nenhuma opinião contrária aos regimes estabelecidos lhe era permitida. Atenas tinha as suas portas abertas. Qualquer estrangeiro poderia visitá-la. As suas praças e ágoras estavam em permanentemente efervescência com debates e discussões em que todos podiam participar e intervir. Era o teatro, a música e os desportos, e não as paradas militares, que empolgavam aquela sociedade. Mas nem por isso os seus soldados se mostravam inferiores no campo de batalha, quando chegava a hora de combater.
Porém, esta indelével figura de Atenas como cidade aberta, tão brilhantemente exposta por Péricles, não se manteve. Atenas perdeu a guerra. Terminou sua idade de ouro e caiu sob domínio de Esparta. Foi um domínio de curta duração, mas nunca mais se reergueu. Mas Esparta teve pior sorte. A sua derrocada, anos depois, levou-a a desaparecer da história, definitivamente. A Grécia entrou na decadência e acabou na dependência da Macedónia e depois de Roma.
O nosso mundo, no início do século XXI, é uma estranha amálgama de continuidade e de mudança. Alguns aspectos da política internacional não se alteraram desde Tucídides. Existe uma determinada lógica de hostilidade, um dilema de segurança/insegurança que acompanha a política entre Estados. Alianças, equilíbrios de poder e escolhas de políticas entre a guerra e o compromisso, permaneceram semelhantes ao longo dos milénios.
Uma ilação a tirar, paradoxalmente contrária à que foi tirada noutros textos aqui apresentados, é a de que a democracia é frágil perante estados totalitários, baseados na opressão interna, no cerceamento da liberdade de expressão, na desconfiança sobre o comportamento dos seus cidadãos e na repressão de quaisquer veleidades de oposição. Os sistemas fechados gozam da vantagem de não admitirem opositores internamente e de exercerem controlo sobre a informação. Por isso apresentam uma imagem de uma maior coesão, eventuais dificuldades e desaires não chegam à opinião pública, ou chegam com uma imagem distorcida e mesmo contrária à realidade. Foi essa a vantagem de Esparta sobre Atenas, foi essa a vantagem da Alemanha nazi e do Japão imperial sobre as potências aliadas no início da guerra de 1939/45.
No dealbar do século XXI, após o esmagamento do totalitarismo de direita em 1945 e o desmoronamento do mundo soviético há pouco mais de uma década, já não há uma grande potência totalitária, como Esparta, para se opor à grande potência democrática, Atenas.
Assim, na nossa época, a liberdade, a tolerância e o exercício da democracia e da participação cívica, na sua acção concertada, criaram sociedades de grande prosperidade que se impõem economicamente, mas também militarmente. Mas essa combinação de poder económico e militar está circunscrita aos EUA. O poder económico da Europa não tem suficiente contrapartida no poder militar. A Europa terá poder militar para se defender de uma agressão externa no interior das suas fronteiras, mas não o tem para defender os seus interesses fora dessas fronteiras.
Portanto, no que respeita à Europa, a lição de Tucídides de que a democracia é frágil perante estados totalitários, que controlam a informação e podem desviar verbas importantes para planos bélicos de armamento de destruição maciça sem que alguém, internamente, os impeça, é algo de fundamental a reter.
É algo que a Europa deverá pensar maduramente nesta fase de construção da sua identidade.
Publicado por Joana às 11:00 PM | Comentários (3) | TrackBack
Tucídides, o Peloponeso e o Iraque - 5º Acto
A hipocrisia de democratas e tiranos
Tucídides observava que cada Cidade-Estado expunha as suas razões para justificar seu envolvimento no conflito. Mas o perspicaz historiador não se contentava com os discursos oficiais e procurava identificar as razões verdadeiras por detrás dessas posições e desses argumentos.
Em Tucídides transparece, ao longo da sua obra, que as alianças atenienses eram sempre estabelecidas de tal modo que apenas beneficiavam a si própria, mesmo quando o pretexto para essas alianças tinha fins eticamente inatacáveis, como o de derrubar oligarquias e regimes tirânicos. Neste entendimento, haveria uma curiosa semelhança entre o comportamento imperial de Atenas e a imagem que muitos actualmente têm do comportamento dos EUA em matéria de política internacional.
Tucídides mostrou-nos igualmente que, em todos os casos, os tiranos, os oligarcas e as oligarquias estavam sempre propensos a apoiarem outros oligarcas ou oligarquias. Mesmo se esses tiranos, oligarcas, ou aspirantes a tal, fossem cidadãos de uma democracia.
Veja-se o caso do ateniense Alcibíades, general ateniense, sobrinho de Péricles, dotado de brilhantes qualidades, grande orador, mas sem escrúpulos, rompeu a trégua existente (Paz de Nícias) e, chefe do Partido Democrático, mas aspirando à tirania, levou Atenas a uma aventureira expedição à Sicília, que foi um desastre completo. Processado e condenado pelos atenienses, refugiou-se entre os espartanos, os protectores dos tiranos, das oligarquias e dos regimes aristocráticos. A eles confiou segredos que havia obtido enquanto comandante ateniense, deixando a própria pátria em apuros. A sua pátria era afinal o vil metal e o poder pessoal.
Todavia, e apesar da hipocrisia de muitos dos dirigentes políticos de então, em todas as circunstâncias, os chefes dos partidos populares apelavam à ajuda e intervenção de Atenas, enquanto que os aristocratas apelavam à ajuda e intervenção de Esparta.
Quando, em 411, após 20 anos de guerra, o regime democrático ateniense é derrubado pelo partido oligárquico, este imediatamente faz a paz com Esparta. Aquela guerra não era apenas uma guerra hegemónica, por redistribuição de territórios e apropriação de riquezas, era acima de tudo um conflito ideológico, entre a democracia e a tirania (ou aristocracia), semelhante aos conflitos que sacudiram o nosso mundo no último século.
Portanto, Tucídides acaba por ser um observador impiedoso da generosidade da democracia, mas também da hipocrisia do comportamento de alguns dos seus dirigentes, assim como um observador impiedoso da tirania dos oligarcas e da sua ânsia pelo poder pessoal, pelo dinheiro e o seu desprezo pela cidadania e liberdade.
Mas a principal conclusão a reter, e o rescaldo daquela guerra não deixa quaisquer dúvidas, é que com ou sem hipocrisia, com ou sem “projecto imperial”, as democracias estão, têm que estar, do mesmo lado e em oposição à tirania e aos regimes totalitários. E o seu melhor contributo para um mundo melhor não será ficarem como espectadoras a observar os conflitos, mas envolverem-se neles lutando para que não haja hipocrisias e para que a democracia não sirva de alibi a quaisquer projectos imperiais.
Publicado por Joana às 10:24 PM | Comentários (2) | TrackBack
Tucídides, o Peloponeso e o Iraque - 4º Acto
O Elogio da democracia e o projecto imperial
Tucídides (II, 37) põe na boca de Péricles um dos mais notáveis elogios que alguma vez foi feito ao sistema democrático A nossa Constituição ... chama-se "democracia" porque o poder está nas mãos, não de uma minoria, mas do maior número de cidadãos – mas nesse elogio, Péricles (ou Tucídides ao citá-lo), embora sem ter provavelmente consciência do passo que estava a dar, enuncia um novo tipo de "patriotismo" ao serviço de um projecto imperial.
As palavras de Péricles, no elogio fúnebre a um soldado caído na guerra, dirigem-se tanto a atenienses como a estrangeiros, apresentando a democracia de Atenas como «um padrão de referência», como um modelo a imitar por todas as cidades gregas: porque «há igualdade perante a lei»; porque «dá aos homens a liberdade e a todos abre caminho das honras»; porque «mantém a ordem pública, assegura aos magistrados a autoridade, protege os fracos, e dá a todos espectáculos e festas que são educação da alma»; e, ao concluir, «Eis aqui porque os nossos guerreiros preferiam morrer heroicamente a deixar que lhes tirassem esta pátria; eis ainda porque quantos sobrevivem estão sempre prontos a sofrer por Atenas e a consagrarem-se-lhe.»
No elogio de Péricles, a pátria deixara de merecer ser amada apenas por ela ser o lar dos seus maiores, pela sua religião e pelos seus deuses. A pátria merecia ser também amada pelas suas leis, pelas suas instituições e pelos seus direitos. O cidadão tinha deveres e devia-se sacrificar pela sua cidade, mas porque nela usufruía de instituições que lhe davam vantagens.
Seguem-se os excertos mais importantes desta notável arenga política:
O regime político que nós seguimos não inveja as leis dos nossos vizinhos, pois temos mais de paradigmas para os outros do que de seus imitadores. O seu nome é democracia, pelo facto de a direcção do Estado não se limitar a poucos, mas se estender à maioria; em relação às questões particulares, há igualdade perante a lei; quanto à consideração social, à medida em que cada um é conceituado, não se lhe dá preferência nas honras públicas pela sua classe, mas pelo seu mérito; tão pouco o afastam pela sua pobreza, devido à obscuridade da sua categoria, se for capaz de fazer algum bem à cidade.
.......
Distinguimo-nos dos nossos adversários, no que respeita a assuntos bélicos, no seguinte: franqueamos a todos a nossa cidade, e não há ocasião alguma em que, numa proscrição de estrangeiros, cerceemos seja a quem for qualquer oportunidade de aprender ou de ver um espectáculo, cuja observação pudesse ser útil a algum inimigo, se não lho ocultássemos. Não confiamos mais nos preparativos e nas ciladas do que na coragem que brota de nós mesmos para a acção.
......................
Se, pois, com mais desprendimento do que esforço, e com uma energia mais derivada dos nossos hábitos do que prescrita pelas leis, quisermos expor-nos ao perigo, sucede-nos que não padecemos antecipadamente as dores que estão para vir, e, quando chega a ocasião, não nos mostramos menos corajosos do que os que vivem em contínuo estado de esforço. Por isto é a cidade digna de admiração, e por outras razões ainda.
.........................
Diferentemente dos outros, temos ainda a norma de ousar o máximo, mas reflectir profundamente sobre a empresa a que nos votamos. Enquanto que aos outros a ignorância traz a coragem, e o cálculo acarreta a hesitação. Com razão se podem julgar mais corajosos os que conhecem com toda a clareza os riscos e prazeres e, por causa deles, não se alheiam do perigo. Também na generosidade de conduta somos o oposto da maioria. Não é por recebermos benefícios dos amigos, mas por lhes fazermos bem, que os conservamos.
................
Em resumo, direi que esta cidade, no seu conjunto, é a escola da Grécia, e cada um de nós em particular, ao que me parece, se mostra mais apto, para as mais variadas formas de actividade e para, com a maior agilidade, unida à graça, dar provas da sua perfeita capacidade física. É a própria força da cidade que, em virtude destas qualidades, que possuímos, bem demonstra como o que acabo de dizer não é um discurso forjado para estas circunstâncias, mas a verdade dos factos. Sozinha dentre as que existem, é posta à prova e mostra-se superior à fama que possui, é a única que, quando invadida, não causa irritação ao inimigo pelo carácter dos que o derrotam, nem censura aos que ficam submetidos, por serem governados por homens indignos.
Foi por uma cidade assim que pereceram nobremente em combate os que julgaram não dever consentir que os privassem dela. E os que ficaram é natural que queiram também sofrer por uma causa.
Eis a razão por que me alonguei ao falar da nossa cidade, explicando que o nosso combate não é por motivos iguais para nós e para aqueles que não possuem idênticos privilégios, e fazendo publicamente, com provas, o elogio daqueles em cuja honra falo agora.
...........................
Nenhum destes se deixou amolecer pela riqueza, preferindo continuar a gozá-la, nem recuou ante o perigo, na esperança de evitar a pobreza, se lhe escapasse, e de poder enriquecer ainda. Consideravam que a vingança sobre os seus adversários era mais desejável do que a opulência, e entenderam que isso se sobrepunha ao risco. Por isso deliberaram castigar assim os inimigos, e abandonar tudo o mais, confiando à esperança a incerteza da vitória, mas, na acção, perante a realidade já iminente, seguros de si mesmos. E, no próprio combate, entenderam que era mais belo lutar e sofrer do que salvarem-se, entregando-se. Assim evitaram a vergonha da fama que lhes adviria, aguentaram o seu posto com os seus corpos, e partiram desta vida no breve instante do transe decisivo, na culminância da expectativa, mais da glória do que do temor.
Publicado por Joana às 10:05 PM | Comentários (3) | TrackBack
Tucídides, o Peloponeso e o Iraque - 3º Acto
A Lei do mais forte
A actualidade de Tucídides na época que atravessamos vê-se, por exemplo e a dada trecho, quando põe na boca de um ateniense que fazia um ultimato a um estado minúsculo, que estava recalcitrante em o aceitar, por pensar que tinha o Direito das Gentes pelo seu lado, o seguinte conceito:
“Sabeis tão bem quanto nós que o direito, em todo o mundo, só existe entre iguais em poder, ao passo que os fortes fazem o que querem e os fracos o sofrem”
Eis o relato de Tucídides:
No décimo-sexto ano da guerra do Peloponeso, Atenas, a cidade que sob o governo de Péricles, entretanto falecido durante a peste que assolara Atenas, se tornara a 'escola viva da Grécia', tomou as armas contra uma colónia espartana, a minúscula ilha de Melos, até então neutra na guerra, que se recusava a submeter a seu domínio. Antes de a atacar, os Atenienses enviaram uma embaixada para entabular negociações. Os embaixadores atenienses disseram o seguinte:
"Estamos agora aqui e vô-lo demonstraremos, a fim de consolidar o nosso império e apresentaremos propostas capazes de salvar a vossa cidade, pois não queremos estender o nosso domínio sobre vós sem correr riscos e, ao mesmo tempo, salvar-vos da ruína, para o bem de ambas as partes".
Os representantes de Melos responderam: "E como poderemos ter o mesmo interesse, nós tornando-nos escravos e vós, sendo patrões?"
Atenienses: "Enquanto vós tereis interesse em submeter-vos antes de sofrer os mais graves males e nós teremos o nosso ganho não vos destruindo completamente".
Melienses: "De modo que não aceitareis que nós fôssemos, em boa paz, amigos em vez de inimigos, conservando intacta a nossa neutralidade?"
Atenienses: Não, porque nos prejudica mais a vossa amizade do que a hostilidade aberta: de facto, aquela, aos olhos de nossos súditos, seria prova manifesta de fraqueza, enquanto o vosso ódio seria testemunho da nossa potência, e não se poderá dizer que vós, ilhéus e menos poderosos do que outros, resististes vitoriosamente aos senhores do mar".
Melienses: Também nós (e podeis acreditá-lo) consideramos muito difícil apoiar-nos em vossa potência e contra a sorte, se não for igualmente favorável para ambos. Contudo, temos firme confiança em que, no que respeita a fortuna que provém dos deuses, não devemos levar a pior, pois, fiéis à lei divina, insurgimos em armas contra a injusta opressão".
Atenienses: "Se for pela benevolência dos deuses, nem sequer nós temos medo de ser por eles abandonados. Os deuses, de facto, segundo o conceito que deles temos, e os homens, como se vê claramente, tendem sempre, por necessidade de natureza, a dominar onde quer que se prevaleça pela força. Esta lei não fomos nós que a instituímos e nem fomos os primeiros a aplicá-la; assim, da forma como a recebemos e da forma como a transmitiremos ao futuro e para sempre, nós nos servimos dela, convencidos que também vós, como os outros, se tivésseis a nossa potência, o faríeis".
Em face deste diálogo de surdos, a delegação ateniense regressou às suas bases, os estrategas organizaram o dispositivo de cerco e de ataque e após meses de uma resistência desesperada, mas inútil, os melienses renderam-se sem condições: os adultos foram passados pelas armas e as mulheres e as crianças vendidas como escravas.
Ler este texto faz-nos vir à memória muitos comportamentos de dirigentes políticos mundiais no último século e, com maior actualidade, nos últimos anos.
A ideia expressa por Hitler que aos vitoriosos ninguém pede explicações acerca das mentiras sobre as quais se basearam para desencadear o conflito, é uma transposição de descrições de Tucídides levadas à perversidade extrema. Estaline e outros líderes totalitários foram também discípulos dedicados daqueles conceitos.
A administração Bush, na forma como dirimiu a questão do Iraque, seguiu o exemplo dos atenienses em Melos. Saddam, por sua vez, havia praticado aquela máxima com todos os que eram mais fracos que ele.
Pode achar-se estranho que Tucídides, ateniense de gema, escrevesse com aquela crueza. Todavia fê-lo, quer por ele ser escravo da verdade, quer porque, para além de estar ressentido pelo exílio a que fora votado, era então favorável ao Partido Aristocrático (contrário à guerra), enquanto que em Atenas e nos seus aliados, a política era dominada pelos democráticos. Ou fê-lo por achar que o Direito das Gentes era aquilo mesmo e não havia nada de imoral naquela postura.
É difícil descortinar as razões íntimas de Tucídides, nem isso parece relevante para o efeito. O que é importante é o que ele escreveu e a descrição que fez.
Publicado por Joana às 09:59 PM | Comentários (10) | TrackBack
novembro 08, 2003
Tucídides, o Peloponeso e o Iraque - 2º Acto
A importância da História da Guerra do Peloponeso
Falando de Tucídides, verifica-se ser verdade aquele aforismo que diz que “quem sabe faz, quem não sabe ensina”, neste caso “escreve”.
O nosso amigo Tucídides, despedido, por incompetência, de estratego das forças atenienses, foi a banhos para a Trácia (bem longe do epicentro do conflito, dadas as más comunicações da época) e aproveitou esse repouso forçado para escrever sobre a guerra. Já que o julgavam incapaz de a conduzir, ele iria mostrar que a sabia interpretar. E mostrou!
Tucídides escreveu a sua História da Guerra do Peloponeso com grande rigor técnico. Isso transparece em cada página da sua História. Ao invés de seus predecessores, e de muitos que posteriormente se dedicaram à mesma profissão, ele não se preocupou apenas em descrever uma sucessão de factos curiosos ou dramáticos. Os acontecimentos que descreve são apresentados de forma concisa e desapaixonada, em ordem rigorosamente cronológica, com grande sobriedade, sem retóricas desnecessárias. O enquadramento em que eles ocorreram é delineado sempre de forma crítica e procura determinar as causas mais profundas dessas ocorrências e o porquê dos seus resultados. Em Tucídides não era o destino, não eram os deuses, não era algo exterior aos homens que fazia mover a história, mas apenas as paixões e os interesses humanos.
No preâmbulo, Tucídides põe em causa a inexactidão com que os seus contemporâneos tratavam os relatos históricos ou coevos: “Vê-se com que negligência a maioria das gentes procura a verdade e como elas acolhem como verídicas as primeiras informações que lhes chegam” (I-XX). Se Tucídides lesse os nossos meios de comunicação ou pesquisasse os nossos fóruns e blogues da net, ficaria desiludido pelo facto da humanidade pouco ter avançado nos últimos 25 séculos.
O conflito em causa, que embora designado pelo nome de Guerra do Peloponeso alastrou a todo o mundo grego, incluindo a Sicília, foi descrito de uma forma muito meticulosa por Tucídides, quer as operações militares, quer as negociações políticas, acordos e alianças e todos os factores que, directa ou indirectamente, influenciaram os acontecimentos. A sua história é um modelo de clareza e concisão e é certamente o pai da historiografia baseada em factos, que não tem nada a ver com a historiografia baseada no Milagre de Ourique da Monarchia Lusitana de Fr. Bernardo de Brito e dos monges de Alcobaça, escrita 20 séculos depois, e isto sem menoscabo para a intenção patriótica dos monges de Alcobaça, em pleno domínio castelhano, de exaltarem a pátria oprimida.
O que impressiona é a lucidez com que Tucídides prevê os acontecimentos subsequentes. Profundamente céptico, afasta quaisquer explicações moralistas, superficiais e a noção metafísica do destino. Escreve Tucídides:
“A minha investigação foi penosa porque aqueles que assistiram aos acontecimentos não os contavam de igual modo, falando deles segundo os interesses do seu partido ou segundo a volubilidade das suas lembranças” (I-XXII).
Uma das coisas importantes para nós, na História de Tucídides, é que, na actual conjuntura onde se debatem os limites da defesa ou da imposição dos valores democráticos no mundo; se debate a justeza e a viabilidade da tentativa americana de imposição desses valores a todo o planeta; se debatem as raízes do unilateralismo americano, isto é, se ele resulta de uma incapacidade própria de ver o mundo sem ser a preto e branco, ou se resulta da tibieza da Europa em acompanhar as pretensões americanas, influenciando-as como aliada; e se debate se os regimes ditatoriais e castradores dos direitos, liberdades e garantias não deverão ser abolidos quer com o recurso a pressões económicas ou políticas, quer recorrendo à força, etc..
Ora estes foram temas que, directa ou indirectamente, a obra de Tucídides abordou, e o que ainda é mais interessante, é que a sua história nos permite várias leituras e extrair diversas conclusões, algumas aparentemente contraditórias entre si.
Publicado por Joana às 09:53 PM | Comentários (5) | TrackBack
Tucídides, o Peloponeso e o Iraque - 1º Acto
Os pseudo-Tucídides da net
Os acontecimentos internacionais, desde a intervenção americana no Afeganistão até ao conflito iraquiano e as suas actuais sequelas têm dado aso a diversos comentaristas explanarem, freneticamente, as concepções geo-estratégicas mais arrojadas (e absurdas, na maioria).
Os mais diversos comentaristas, nos mídia e nos fóruns da net, escreveram e reescreveram a História para sustentarem as suas concepções estratégicas com uma ousadia e uma fantasia que faria inveja aos enciclopedistas soviéticos que andaram 70 anos a reescrever a História, até lhes tirarem os lápis e o papel.
E não há indícios que a imaginação desses comentaristas se esteja a esvair. Mesmo que aquilo que escreveram com uma convicção inabalável na semana n fosse completamente invalidado pelo ocorrido na semana n+1, e que o que foi afirmado como uma certeza inexorável na semana n+2, tenha ficado absolutamente infirmado na semana n+3 e …e que a previsão irredutível da semana n+m (com m a tender para infinito) tenha desabado com fragor na semana n+m+1, …etc., etc., etc., os prolixos comentaristas da net (fóruns, blogues, etc.) continuam indiferentes e desmemoriados.
Se Darwin analisasse esta espécie nova, que erra sistematicamente e não tem qualquer função de aprendizagem que lhe permita alterar o rumo do seu percurso, deduzi-la-ia como valência ontológica do Pithecantropus em S (Variante degenerativa do Pithecantropus erectus), um ramo colateral da linha que chegou ao Homo Sapiens Sapiens, mas que falhou algures, devido à exposição prolongada ao teclado e ao monitor, conduzindo a um impasse evolutivo.
Sendo assim, e dada a impossibilidade de competir com a imaginação delirante desses comentadores desdenhosos do empecilho incómodo dos factos, vou aproveitar este fim de tarde outonal para reflectir sobre um comentador que, por ter falecido há milénios, poderei falar sobre ele à vontade, sem receio que me venha a desmentir ou contrariar.
Falemos então de Tucídides.
Publicado por Joana às 09:30 PM | Comentários (4) | TrackBack
novembro 03, 2003
A Civilização Ocidental
O mundo ocidental, para mim, e julgo não estar sozinha nessa concepção, é o mundo que partindo dos agrimensores egípcios e dos astrónomos caldeus, interiorizou a filosofia grega clássica, o direito e a jurisprudência romanos, a autodeterminação das comunas medievais, o espírito da Reforma, o Aufklärung, a Revolução Americana, a Declaração dos Direitos do Homem de 26 de Agosto de 89, o 10 de Agosto de 92 mas também o 8 e 9 Thermidor de 94, as barricadas de 1848 mas também Guizot, o movimento operário da 2ª metade do século XIX mas também Thiers, a filosofia alemã (de Kant a Marx) e a pintura francesa, a sociedade laica, o “affaire Dreyfus”, as sufragistas e a emancipação feminina, os fugazes, mas fecundos, interlúdios culturais dos primórdios do poder bolchevique e da República de Weimar, antes dos totalitarismos os liquidarem, a resistência ao nazismo e a libertação, a luta contra o totalitarismo soviético e a queda do Muro de Berlim. E tantas outras coisas…
…
E a maravilhosa herança musical, desde Monteverdi (ou talvez desde Josquin des Pres) até à data.
É a essa civilização, de que todos nós somos depositários, embora alguns se tentem esquecer disso, que me orgulho de pertencer e que lutarei para que seja preservada e possa continuar a prosperar e progredir pela via que tem singrado.
Em todas as grandes construções do espírito ocidental, houve sempre uma componente totalitária que se tentou apoderar do processo a pretexto de o levar às últimas consequências. Em todas essas alturas apareceram Robespierres, que acabaram sempre vencidos, mais tarde ou mais cedo, que ficaram cobertos de horror e opróbrio pelos seus crimes, mas que permaneceram sempre latentes, para emergirem na crise revolucionária seguinte como detentores da missão histórica e necessária de destruir a civilização existente.
E o que a nossa sociedade tem de fecundo e maravilhoso é que, através das suas afirmações e das suas negações, tem emergido desses conflitos sempre mais tolerante, mais próspera, mais poderosa culturalmente.
Nada contudo é seguro. A luta pelo aperfeiçoamento da nossa sociedade não se vence por um qualquer determinismo histórico, mas pela nossa acção diária, por encontrar sempre as respostas mais adequadas, por saber distinguir entre os que a querem aperfeiçoar e os que a querem destruir.
Publicado por Joana às 12:04 AM | Comentários (28) | TrackBack
outubro 04, 2003
Chile, 11 de Setembro 1973
O golpe de 11 de Setembro e a carnificina que se lhe seguiu foi acto criminoso que, julgo, recebeu a reprovação geral, mesmo nos USA, cujo governo e a CIA estiveram por detrás da intentona.
Não tive a vivência daqueles acontecimentos, mas lembro-me das cenas pungentes de “Missing” do Costa-Gravas que julgo reflectirem bem a atmosfera no Chile, naquela época, com milhares de pessoas dentro do estádio. Um horror.
O Presidente Allende tinha sido democraticamente eleito. É certo que com apenas 36% dos votos e a escassos milhares de votos do segundo candidato. As forças que o apoiavam eram igualmente muito minoritárias no Congresso. Mas aqueles que estavam contra deveriam ter deixado funcionar as instituições. E a maioria deve ter deixado, pois o golpe foi feito por uma clique, fundamentalmente militares, aproveitando a enorme tensão e clivagem social existentes, as manifestações de apoiantes e opositores, greves selvagens e a deterioração económica com uma inflação de 1.000% ao ano.
É uma situação que lembra, em alguns aspectos, a situação social e económica da Alemanha nos anos que precederam a subida ao poder de Hitler.
E lembra porque, também no Chile, as forças que preconizavam reformas profundas da economia e da sociedade não souberam construir consensos sobre as reformas a fazer de forma a construir uma ampla base social de apoio a elas. Em vez de consensos deixaram-se enredar em lutas quer com os adversários políticos, quer dentro da coligação presidencial e permitiram que o país resvalasse a anarquia e a desordem. Ora, no Chile como na Alemanha, a anarquia e a desordem, quando endémicas, só servem, normalmente, a extrema-direita.
Não souberam começar pelas reformas mais urgentes e consensuais, relativamente às quais haveria uma base de apoio mais dilatada. Espartilhado entre as forças mais radicais da coligação, que não abdicavam das reformas mais profundas, e o resto do país que estava a ser mobilizado contra essas reformas, o Presidente Allende não conseguiu arranjar espaço de manobra para promover um consenso nacional que lhe era vital, em face de ser minoritário no Congresso.
Um dos factores que se apontam para o caos económico no Chile em 1973, foi o papel das multinacionais quer a nível da procura externa, quer no apoio às forças hostis ao governo de Allende. Todavia, quando se pretendem nacionalizar empresas estrangeiras, que normalmente produzem para mercados no exterior, é da mais elementar prudência avaliar previamente os efeitos dessas nacionalizações.
Não o fazer é suicidário. É claro que depois podemos lamentarmo-nos do comportamento das multinacionais, mas é a lógica de funcionamento delas. Por exemplo, em Portugal, a seguir ao 11 de Março, o governo apenas nacionalizou capitais portugueses. Teve o cuidado de não mexer no capital estrangeiro provavelmente para evitar situações como a do Chile. É evidente que, na sua maioria, as nacionalizações acabaram por se revelar perniciosas para o funcionamento da nossa economia, mas isso é um assunto que não vem para aqui.
Há interpretações sobre os acontecimentos de 1973 no Chile que conferem à política externa americana um papel absoluto no que se passou. Todavia, por muita “movimentação norte americana para desestabilizar o governo” que houvesse, nada teria acontecido se não fosse o radicalismo estéril e estúpido de parte das forças que apoiavam Allende que não perceberam, ou não quiseram perceber, que com o reduzido apoio eleitoral que tinham dificilmente poderiam levar a cabo reformas que alterariam completamente a estrutura económica e social do Chile.
A menos que o fizessem à força … simplesmente a força estava do outro lado. Os Bolcheviques, com 24% do eleitorado, tomaram o poder e dissolveram a Assembleia Constituinte, mas tinham nas mãos a maioria do exército, revoltado contra uma guerra mal conduzida. No Chile, não. No Chile houve várias tentativas de golpe de Estado durante Allende que falharam. Isto deveria ter sido um aviso para os grupos mais radicais que o apoiavam. Mas essa gente não tem, nem nunca teve ou terá, qualquer discernimento político.
Depois da ascensão de Hitler ao poder, a III Internacional fez mea culpa e reconheceu os erros enormes do KPD que facilitaram a ascensão dos nazis. E isto aconteceu no tempo de Estaline. A esquerda actual, ainda hoje, passados 30 anos, tem dificuldade em fazer uma análise similar. Será que a esquerda actual precisa de um Dimitrov? Ou será que, nesta matéria, ainda tem muito que calcorrear, até atingir a capacidade de auto-crítica de Estaline?
Eu penso que se a situação fosse gerida de outra maneira pela coligação de Allende não teria havido base social que possibilitasse o golpe de Estado. Isto é, dificilmente os americanos teriam encontrado gente para organizar o golpe com o êxito que ele teve.
É um facto que os autores do golpe de 11 de Setembro cometeram horrores e os seus patrocinadores (CIA e governo dos USA) foram cúmplices dessa barbaridade. Quem viveu essa época quer fosse favorável ao governo de Unidade Popular, quer fosse apenas uma pessoa de bem, ficou certamente horrorizada pelo que leu ou assistiu durante esses dias fatídicos.
É compreensível que essas pessoas, que conseguem discorrer com objectividade e frieza sobre factos não vividos, não tenham o distanciamento suficiente para analisarem a história chilena de 1970-74 com frieza. Quando se fala em erros cometidos pelo governo de Unidade Popular essas pessoas olham para os membros desse governo e não vêem políticos. Vêem vítimas torturadas e assassinadas e sentem como um insulto o acusá-las de algo. E reagem com muita acrimónia, mesmo se depois acabam por concluir que houve um comportamento suicidário da parte do governo e de grupos radicais, como o MIR.
Uma coisa que sempre me chocou foi o relato de muitos que escaparam com vida contarem as denúncias de que foram alvo: vizinhos, colegas, etc.. Li, em diversas ocasiões, vários relatos desses. Havia um ódio enorme no Chile daquela época. A sociedade chilena tinha agravado, nas semanas que antecederam o golpe, a profunda clivagem em que já vivia, para limites insuportáveis, com os radicais de esquerda a pretenderem armar operários e camponeses (julgo que foram distribuídas muitas armas), os radicais de direita a pedirem a intervenção do exército e o governo convencido que com umas mudanças de comando (uma delas colocara Pinochet num lugar de confiança) tinha resolvido a situação e que o exército seria “apolítico”.
11 de Setembro de 2003
Publicado por Joana às 12:23 AM | Comentários (8) | TrackBack
outubro 03, 2003
Sacco, Dreyfus e as cruzadas
Nicolau Santos, no Expresso, compara o caso Paulo Pedroso ao caso que Sacco e Vanzetti.
Houve um caso que certamente mereceria mais ser chamado à colação do que Sacco e Vanzetti. É o caso Dreyfus.
Dreyfus foi acusado, baseado em provas circunstanciais inicialmente frágeis, mas que os inquiridores conseguiram fortalecer com depoimentos sólidos de peritos de grafologia (Dreyfus era acusado de ter escrito um documento que apareceu na Embaixada Alemã).
Dreyfus foi condenado. Tempos depois, o Coronel Picquart, um militar da velha escola, lendo os elementos processuais detectou uma série de incongruências. Isso levantou uma tempestade no serviço de informações militar e Picquart é afastado e enviado para uma missão perigosa no norte de África.
Para colmatar as fragilidades, o novo encarregado do caso, o Major Henry começa a falsificar documentos para fortalecer as provas processuais.
O assunto transita para o domínio público, Zola publica J'accuse no L'Aurore, é julgado e condenado por difamação. Mas o assunto começa a ganhar um grande empolamento e o novo Ministro da Defesa assegura no parlamento que as provas são categóricas. E estava convencido disso. Para calar a opinião pública, encarrega um oficial de confiança de analisar o processo.
Rapidamente as falsificações de Henry são descobertas. Este confrontado com as falsificações é preso e suicida-se na cadeia. E o processo esboroa-se. Quem havia escrito o bordereau era Esterhazy e Dreyfus é amnistiado e pouco depois reintegrado.
Este foi um caso típico em que a Justiça (neste caso a Justiça Militar) comete um erro pela forma ligeira com que aborda o processo e, depois, jogando à defesa, tenta tudo para que esse erro não seja descoberto, forjando inclusivamente provas, a coberto do segredo de justiça, naquele caso em virtude de ser considerada matéria confidencial que punha em risco a segurança nacional.
Lembrei-me deste caso quando, após uma carta aberta de Carlos Cruz, juizes e magistrados saíram à liça defendendo a sua dama. Na altura isso constituiu, para mim, motivo de preocupação.
Dizia Aristóteles que a Lei é a razão liberta da paixão. Espera-se que os juizes e magistrados encarregados deste caso tenham a cabeça fria, para evitar cair situações similares. Os jornalistas, os comentadores e afins ... haverá pouco a fazer: é a paixão liberta da razão.
Nota: O caso Sacco e Vanzetti não aconteceu no Massachusetts dos anos 50, como por gaffe escreveu Nicolau Santos, mas sim dos anos 20 e não se pode comparar a crise de valores nessa época, com as revoluções, a ascensão dos fascismos na Itália e noutros países da Europa, a hiperinflação, etc., com a época actual.
A gaffe de Nicolau Santos é monumental. Considero imprescindível, para um economista, saber o que ocorreu na década de 20. A crise económica e social, a hiperinflação na Alemanha, o pagamento de reparações da Alemanha à França (com a ocupação por esta da Renânia como caução) e que teve o efeito paradoxal, para as ideias económicas de então, de promover o arranque da indústria alemã e a estagnação da indústria francesa, os desequilíbrios económicos que concorreram para o crash de Outubro de 1929 e a crise subsequente e que, no conjunto, levaram à reformulação do pensamento económico que culminou na publicação da General Theory of Employment, Interest and Money de Keynes e na revolução keynesiana, devem ser do conhecimento obrigatório dos economistas.
Portanto, Nicolau Santos tinha a obrigação de não cometer semelhante gaffe.
Trazer à colação o caso Sacco-Vanzetti pelas razões que referi acima é absolutamente despropositado.
Teria, por exemplo, mais cabimento, como escrevi acima, citar o caso Dreyfus que é um caso paradigmático da justiça (neste caso a Justiça Militar) que, perante a fragilidade do processo e face à pressão de parte da opinião pública se perverte, forjando provas para se defender.
A Justiça Militar francesa teve então, dentro de si, gente honrada que soube distinguir o essencial do acessório e compatibilizar a honra da instituição com o imperativo da verdade. Todavia, se não tivesse havido a pressão da opinião pública exterior, não se sabe se os elementos sãos da instituição militar teriam força para fazerem emergir a verdade.
Infelizmente trata-se de uma gaffe menor no conjunto do artigo. A gaffe maior de Nicolau Santos é a de politizar a honestidade e a virtude definindo estas qualidades como atributos de uma determinada cor política. Foi essa perversão maniqueísta: a de que nós, os do nosso lado, somos, por definição, os bons, os virtuosos e os detentores da verdade, que deu sustentação teórica às carnificinas dos regimes totalitários, de esquerda e de direita, e à perversão da democracia americana, no início da década de 50, com a Comissão de Actividades Anti-Americanas do Senador McCarthy.
26-Maio-2003
Publicado por Joana às 06:06 AM | Comentários (1) | TrackBack