« fevereiro 2005 | Entrada | abril 2005 »
março 31, 2005
A Maldição da Economia
A Economia é uma ciência maldita: exige-se-lhe que explique tudo; espera-se que resolva tudo e quando a conjuntura económica não está de feição é o descrédito que se abate sobre ela. É estranho o que se passa com a economia. A nenhuma ciência se exige tanto. Nenhuma outra ciência é encarada de forma tão totalitária, tão absoluta. Nenhuma outra ciência é esconjurada e os seus profissionais desautorizados sempre que uma contrariedade acontece.
Houve o maremoto do sueste asiático, que se saldou em mais de 200 mil vítimas e ninguém, que eu saiba, acusou a Geologia, nem a Geofísica, nem a Tectónica. Foram acusadas as autoridades que não intervieram a tempo, mas os profissionais daquelas ciências passaram incólumes. Limitaram-se a explicar, em frente de gráficos coloridos, o deslizamento de umas placas tectónicas, com a mesma tranquilidade que explicariam a descida de um garoto num escorrega. O país está a ser vítima de uma seca terrível, os metereologistas continuam tranquilamente a prever tempo seco para os próximos dias e ninguém lhes pede satisfações, ninguém escreve indignado para as Televisões exigindo o seu despedimento. Fazem-se novenas; procissões: imprecam-se os deuses, mas metereologistas e geofísicos continuam a gozar da mesma respeitabilidade e credibilidade.
Os acidentes de viatura sucedem-se num cortejo macabro e ninguém põe em causa ou lança o anátema sobre as equações do movimento da Mecânica Clássica de Newton. Poderia citar exemplos decisivos em todas as outras ciências. Em todas se verifica o mesmo: a responsabilidade é dos outros, de erros humanos, ou de calamidades naturais. Nunca das ciências que tutelam a desgraça nem dos seus profissionais.
Ora a Economia é uma ciência com objectivos simples. Analisar as forças estáveis que caracterizam o enquadramento onde os agentes económicos interagem, as condições de base da actividade económica; analisar as estruturas dos mercados, ou seja as características do ambiente em que decorrem as transacções entre esses agentes; analisar as estratégias desses agentes referindo-as às estruturas onde estes se movem e agem; analisar os resultados obtidos pelos agentes económicos e estabelecer relações funcionais para avaliar em que medida esses resultados deslocam as condições de base da actividade económica; alteram as estruturas em que essa actividade se desenvolve e condicionam as estratégias dos agentes. E como todo este processo interage e se formam os sucessivos equilíbrios. E isto para agentes económicos individuais (pessoas e empresas) ou para os grandes agregados.
Para conseguir esse desiderato, a economia constrói modelos que expliquem o comportamento dos agentes económicos e como variam as variáveis e parâmetros micro e macroeconómicos. As suas bases são simples a partir dos conceitos de escassez (se não houvesse escassez de recursos se estes fossem infinitos não haveria economia) e da análise marginal, estabelece as equações explicativas. Exactamente o mesmo tipo de equações e os mesmos processos matemáticos (as funções de Lagrange) que aqueles que conduzem às equações de movimento da Mecânica Clássica.
A Economia apenas explica o que pode acontecer se forem introduzidas alterações no modelo que inflictam quer as condições de base, quer as estruturas, quer os comportamentos, quer os resultados. A Economia não diz o que os agentes económicos devem fazer, nem lhes entoa prédicas moralistas. Essa é a função de sacerdotes, psicólogos, fazedores de opinião, etc.. A Economia não é responsável se os agentes económicos constroem os seus objectivos em função dos seus interesses pessoais e do seu egoísmo. A Economia apenas tem que reconhecer isso, construir os modelos explicativos baseados nesses dados de base e determinar, grosso modo, os resultados para esses agentes e para a sociedade, face às condições de base e às estruturas de mercados.
Responsabilizá-la pelos comportamentos dos agentes económicos, é o mesmo que os déspotas orientais faziam, quando matavam o mensageiro. Não foram os economistas que fizeram com que os agentes económicos agissem de acordo com os seus interesses pessoais. Apenas descobriram que o faziam e calcularam, através dos modelos explicativos, que uma sociedade cuja economia funcionasse em perfeita liberdade contratual, sem entraves, nem barreiras, atingiria um óptimo de funcionamento.
Também calcularam a perda de eficiência que as violações das condições estruturais da concorrência induziriam no bem estar económico da sociedade, quer essas violações fossem endógenas, ou seja, resultassem do próprio funcionamento da actividade económica através das estratégias de agentes económicos, quer fossem exógenas, isto é, resultantes das modificações operadas pelo poder político, ou outros poderes, nas condições de base, nas estruturas, ou nos resultados.
Exorcizar a economia por alertar que uma dada medida irá traduzir-se num certo (mau) resultado é o mesmo que execrar os avisos que nos alertam que se fizermos a curva a mais de 80km/h corremos o risco de nos despistarmos. É uma completa imbecilidade.
Obviamente que são os políticos que tomam as decisões. Cabe aos economistas elencar os resultados possíveis dessas decisões. Também é evidente que em modelos onde há milhões de decisores que se movem por interesses cujas causas nem sempre são absolutamente identificáveis, podem ser construídos modelos explicativos diferenciados, quer por convicção científica, quer para suportar determinadas opções políticas.
O mesmo sucedeu na mecânica, que à medida que se foi aprofundando a observação empírica se verificou que, fora de certos limites, a mecânica clássica perdia valor explicativo, e se criou a mecânica relativista. Igualmente em economia, o refinamento da análise vai progredindo, quer com o aumento das possibilidades de introduzir no cálculo milhões de observações e indivíduos, quer com a verificação dos resultados das medidas políticas tomadas exogenamente e do funcionamento endógeno do próprio modelo.
Há uma teoria que está irremediavelmente liquidada: a convicção que era possível gerar equilíbrios económicos eficientes sem ser em mercado e utilizando a sua capacidade de auto-regulação. Desde sempre, todos os regimes e políticas que se basearam em preços administrados e no planeamento das quantidades a produzir, conduziram ao completo desastre.
Talvez por isso a má vontade contra os economistas e a tendência para os responsabilizar pelas negligências humanas que conduziram aos desastres económicos os moralistas não suportam uma teoria que se baseia nos instintos dos homens, nos seus vícios e nas suas virtudes. Os moralistas não suportam a realidade e preferem ignorá-la, pregando utopias e exorcizando a realidade do comportamento humano.
Querem um universo asséptico. Infelizmente ele não existe e as tentativas para criar o homem ideal conduziram a holocaustos à liquidação física daqueles que não se enquadravam nesse ideal.
Publicado por Joana às 11:53 PM | Comentários (69) | TrackBack
março 30, 2005
É Oficial, veio no Público
Quer a Esquerda, quer a Direita, são Iliberais
Eu já temia que isto acontecesse. Há tempos escrevi aqui que «não existe no espectro político português um projecto liberal sólido e coerentemente assumido. Há razões que têm séculos: a nossa aversão ao risco e à inovação e a inveja mesquinha que se instalou na nossa sociedade, em vez do incentivo pela afirmação pessoal. Outras têm a ver com a génese do actual sistema político». E esta frase simples e linear, tenho-a glosado aqui em diversos tons e figuras de retórica. Hoje, JMF tornou isto oficial: «em Portugal não é preciso ser de esquerda para desconfiar do mercado e da economia liberal: há muita gente de direita que pensa da mesma maneira. Neste domínio a cultura política dominante tanto é uma herança da Revolução ... como do salazarismo corporativista».

E continuou, implacável, citando o livro oficial da antiga "Organização Política e Administrativa da Nação", do antigo 6º ano de Liceu, , onde condenava os Estados liberais, pois estes acreditavam que "o equilíbrio social resultaria do simples jogo da liberdade e da livre concorrência ... Da excessiva liberdade resultaram as mais flagrantes desigualdades económicas e as maiores injustiças sociais.".
Mas isto é o que aqueles que me contestam, me acusam! Afinal não passo de uma vítima a posterior do salazarismo! O salazarismo vem do fundo dos tempos apontar-me o dedo acusador pela mão de alguns prestimosos comentaristas.
Ainda ontem eu, ingenuamente, sublinhava que «a verdadeira clivagem na sociedade ... sociedade portuguesa, é entre aqueles que defendem este modelo social estatizante, ancilosado ... e aqueles que acham que a inovação e o progresso só se conseguem aceitando o risco, que a democracia só existe na plenitude se for acompanhada pela liberdade económica ... etc». Hoje verifico que não há, desgraçadamente, qualquer clivagem. A nossa classe política, segundo consta na redacção do Público, está toda no 3º quadrante (esquerdo-inferior) do Political Compass. Não há clivagem que nos valha.

Continuei a investigar, e verifiquei que, entre os líderes mundiais apenas Nelson Mandela e o Dalai Lama se situam nesse quadrante. O Dalai Lama?! E ainda há dias me imprecavam por eu apelidar toda aquela gente de bonzos! Não será o Dalai Lama, o chefe de bonzos? Porquê os bonzos se terem abespinhado por eu os designar pela sua verdadeira identidade, agora certificada pelo Political Compass.
Os líderes terceiro-mundistas estão no 4º quadrante (esquerdo-superior) e os líderes ocidentais, de esquerda ou de direita, no 1º quadrante (direito-superior). Ou seja, os nossos políticos estão completamente fora do circuito político. Apenas estão aptos para orquestrar aquelas compridas e esquisitas tubas dos monges tibetanos, ecoando pelos vales gelados e profundos dos Himalaias. É lá que poderão ser encontrados quando o país chegar à bancarrota, liderado por estes políticos-bonzos.
Fui a correr fazer o teste e verifiquei a razão porque sempre olhei com distanciamento cínico e crítico os políticos: estava no 2º quadrante, igualmente arredada de todos. Parece que Friedman também está nesse quadrante, assim como os Democratas Liberais britânicos, mas estes concorrem às eleições apenas por desporto, levados pelo fair-play britânico, não para ganharem.
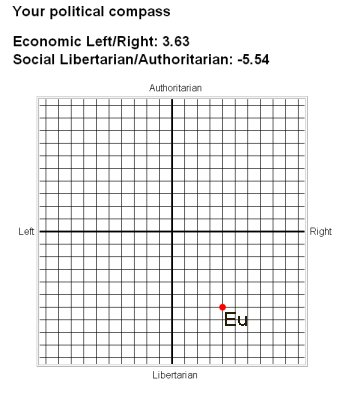
Assim sendo, temos que viver com o que temos líderes políticos estatizantes qualquer que seja a sua cor política.
Há todavia uma luz ao fundo do túnel. Depois de abandonarem a política, os anteriores políticos abandonam a sua opção estatizante e refugiam-se todos no 2º quadrante António Barreto, Medina Carreira, Daniel Bessa, ... todos (ao que julgo...). Até Silva Lopes, ainda há pouco nas lides políticas, e agora a defender a redução dos salários da função pública «não podemos continuar a aumentar o vencimento dos funcionários públicos e provavelmente vamos ter de os diminuir, em termos reais. As pessoas não querem ouvir isto, mas infelizmente é assim», dando um vertiginoso trambolhão para o 2º quadrante.
O futuro está nos desalojados políticos. São eles que nos vão tirar deste escolasticismo medieval, deste aristotelismo serôdio, que nos arruína sem apelo nem agravo.
A menos que, quando regressarem à política, voltem a ser seduzidos pelo apelo estatizante ...
Publicado por Joana às 09:04 PM | Comentários (79) | TrackBack
março 29, 2005
Esquerda e Direita?
Vendo as coisas de uma forma mais abrangente, será uma simplificação afirmar que questão da equidade de acesso à comunicação social se põe entre esquerda e direita. Por exemplo, o PCP é um partido que se diz de esquerda, mas cujas opiniões só têm audiência na comunicação social quando se referem às questões fracturantes tão ao gosto dos politicamente correcto. Em contrapartida, quando Chirac afirma que o liberalismo seria tão desastroso como o comunismo e inviabiliza, ou pelo menos protela, a aprovação da directiva Bolkestein, que pretendia iniciar o processo de liberalização da prestação de serviços no espaço comunitário, tem o beneplácito e o aplauso da esquerda estatizante.
A clivagem, a verdadeira clivagem na sociedade actual europeia e, muito especialmente, na sociedade portuguesa, é entre aqueles que defendem este modelo social estatizante, ancilosado, onde todos, agentes económicos, agentes culturais, militantes de organizações não-governamentais", etc., se julgam, por igual (como se vivessem na miséria e na exclusão social), com direitos inalienáveis a auferirem dos subsídios que reputam justos para bem exercerem a sua actividade, ou que aspiram pela tranquilidade de uma sinecura num asiloestatal e aqueles que estão no lado oposto, que acham que a inovação e o progresso só se conseguem aceitando o risco, que a democracia só existe na plenitude se for acompanhada pela liberdade económica e que ao Estado apenas cabe assegurar a protecção da sociedade e a sua libertação dos entraves que possam limitar a liberdade económica, e as transferências necessárias para manter o objectivo permanente da igualdade das oportunidades e da equidade na política de educação, segurança social, justiça, etc..
A clivagem voltou a ser entre o pensamento escolástico medieval, herdeiro de Aristóteles, que só se preocupava com a repartição dos bens de forma a torná-la coerente com a moral que pregava para a sociedade, e que considerava a produção como um dado adquirido, e o pensamento daqueles que acham que o ênfase se devia pôr do lado da produção que não é, ao contrário do que os escolásticos pensavam, um dado adquirido, e que só uma sociedade economicamente eficiente e produzindo em abundância, pode assegurar uma repartição de bens que, não sendo embora coerente com essa moral meramente distributiva, é coerente com uma distribuição que evite a exclusão social e mantenha a economia a funcionar perto do óptimo.
Do lado escolástico, medieval, aristotélico, está a maioria da esquerda, nomeadamente a esquerda da esquerda, mas também parte significativa dos políticos de direita, nomeadamente daquela que mais perto tem vivido das sinecuras do poder. A transformação do Estado no actual Moloch que nos suga a seiva vital, foi começada por Cavaco Silva; Guterres apenas a acelerou de forma descontrolada e a tornou insustentável. Durão Barroso nada fez de substantivo contra esse Moloch, quer por falta de coragem, quer por falta de convicção. Santana Lopes poderia ter o benefício da dúvida, dadas as circunstâncias em que exerceu o seu curto mandato, mas com Bagão Félix no governo não me parece que esse benefício deva ser concedido.
Voltámos a meados do século XVIII, mas tendo os protagonistas os papéis invertidos. Os que se julgam os detentores das luzes estão do outro lado.
Publicado por Joana às 11:25 PM | Comentários (27) | TrackBack
Os Vigilantes
Reina uma profunda preocupação entre os detentores das verdades absolutas e do politicamente correcto que, desde há décadas, parasitam a comunicação social. Esta, por duas ou três vezes, deu ultimamente a lume artigos ou dossiers sobre uma eventual crise da Direita, sobre a provável necessidade de refundar a Direita, etc.. Para esse desiderato foram auscultados diversas figuras da direita (hesito em chamar-lhes intelectuais, porque para obterem essa categoria necessitariam situarem-se noutras áreas políticas). Foi demais! Vicente Jorge Silva verberou imediatamente no DN essa prática insolente e escreveu indignado que as opiniões que neles [os órgãos de comunicação social] hoje prevalecem - entre directores editoriais e a maioria dos colunistas - são claramente de direita.
Obviamente Vicente Jorge Silva exigiria que o debate sobre o futuro da direita e sobre as suas crises e refundações fosse feito por verdadeiros e robustos intelectuais, detentores das verdades absolutas, em suma, escrevinhadores da esquerda.
É um facto que este governo tem sido obsequiado com um pacto de silêncio e uma simpatia indisfarçável, enquanto que o governo de Durão Barroso foi, desde o início, objecto do terrorismo verbal mais absoluto e que o governo de Santana Lopes foi entregue pelo PR à vigilância popular logo na indigitação. É um facto que idênticas declarações contraditórias de titulares de cargos públicos, sobraçando idênticas pastas, foram trapalhadas hilariantes no governo anterior e agora deslizes irrelevantes que não beliscam craveiras de indiscutível valimento.
Mas essa aparente discrepância faz parte da natureza das coisas. Não colhe para as interpretações de Vicente Jorge Silva. Não se deve esperar equanimidade de critérios, ou mesmo misericórdia, para com os infiéis. Os infiéis vivem em pecado pela sua própria natureza. Não foram iluminados pela graça divina da verdade absoluta. Deixar que alguns despontem, ao de leve, na comunicação social é uma heresia que deve ser condenada liminarmente.
Nem todos. O neófito quando entra no aprisco é adulado como o filho pródigo da parábola bíblica. Foi o que aconteceu ao Freitas do Amaral. Mas é isso que têm em comum as verdades absolutas, quer as reveladas por reverberação divina, quer as inerentes à missão histórica que um grupo social se atribuiu, de salvar a humanidade mesmo contra vontade desta, nomeadamente quando os exemplos práticos desses salvamentos se saldaram em desastre calamitosos.
Publicado por Joana às 07:55 PM | Comentários (38) | TrackBack
março 28, 2005
A Morte do PEC
O Pacto de Estabilidade e Crescimento acabou. Foi vítima da sua excessiva rigidez e de ser o próprio país que obrigara a sua adopção, como condição necessária da criação do euro, a violá-lo repetidamente. O que é preocupante não foi a sua flexibilização esta teria que ocorrer. O que é preocupante foi a forma atrabiliária, sem coerência e sem critérios inequívocos, como essa flexibilização ocorreu. Não foi o júbilo por se ter conseguido um avanço; foi um suspiro de alívio, por ter acabado um empecilho. O Ministro das Finanças francês foi claro: o novo pacto é "Mais político e menos tecnocrático". Em linguagem política leia-se: passou a depender das necessidades eleitorais e não de critérios técnicos.
Mantêm-se os limites de 3% (défice) e 60% (dívida pública), mas com uma leitura flexível. São toleradas violações desde que ligeiras e temporárias, quando haja um crescimento fraco ou por causas pertinentes: reformas estruturais, investimento em I&D, custos de unificação(!) (exigido pela Alemanha), a elevada contribuição para o orçamento comunitário, cooperação internacional e despesas militares (da lavra da França), custos com as reformas dos sistemas de pensões (a pedido dos Estados do Leste) .... A UE arrisca-se, em vez de um Pacto de Estabilidade e Crescimento, a ter um Pacto de Flexibilidade e Salve-se-quem-puder. Será a vitória da hipocrisia política sobre o rigor tecnocrata.
O fim do PEC, uma regra geral e clara, e a sua substituição por um mecanismo abstracto, que pode ter leituras diversas, ser objecto de regateio e de fácil conluio entre Estados (eu apoio-te nesta questão e tu proteges-me naquela ...), introduz a arbitrariedade na avaliação das situações orçamentais dos Estados membros. Arbitrariedade que só favorece os Estados maiores e mais ricos.
No caso dos países pouco avessos a rigor orçamental, como Portugal, as consequências podem ser mais nefastas. Até à data, o limite de défice orçamental era uma barreira clara e quantificada que estava ali, e para a qual haveria punição se fosse ultrapassada. Agora não.
Ora o excesso de despesa leva a um aumento da procura, induzida pelo aumento do rendimento disponível, um aumento concomitante das importações (parte significativa do aumento do consumo dirige-se a bens importados), à degradação do nosso saldo de transacções com o exterior, a um desequilíbrio cada vez mais grave das nossas variáveis macroeconómicas, a uma diminuição da nossa competitividade com o exterior e ao nosso declínio económico. E o mais grave é este ser um processo económico e social ao qual cada um tenderá a dar a explicação mais conveniente em termos de dividendos políticos.
Antes havia um número. Um número imposto por Bruxelas. Podia criticar-se, mas ele erguia-se perante nós como uma força exterior e incontornável. Agora há a flexibilidade. Será que a classe política que nos governa e que tão cobarde se tem mostrado relativamente a soluções de fundo, tem coragem para impor as medidas de saneamento financeiro face os lobbies ou às clientelas políticas que acenam com a flexibilidade?
Nos últimos anos criaram-se e fortaleceram-se instituições credíveis e independentes do poder político, deu-se mais autonomia e independência aos Bancos Centrais, e criou-se do Banco Central Europeu. Sempre com o intuito de evitar que os políticos tomassem decisões com as palas postas, impedindo de ver tudo o que não se relaciona com as necessidades eleitorais. Devemos ao defunto PEC que a nossa deriva financeira não nos tivesse levado ao abismo. Não foi aos nossos governantes. Eles apenas agiram pressionados pelo PEC e não pelos seus instintos naturais.
Este novo pacto, se não for balizado com critérios quantificados e cuja aplicação não levante dúvidas nem consiga ser iludida, pode tornar impossível, em Portugal, o estabelecimento de uma política rigorosa de controlo das finanças públicas. Com a agravante que enquanto a violação de um limite do défice se vê ao fim de um ano, a estrada que conduz à ruína económica pode percorrer-se muito para além de sinalizações inócuas e sem coimas. Pode percorrer-se até ao abismo.
Publicado por Joana às 11:37 PM | Comentários (24) | TrackBack
março 22, 2005
Questão Inútil
A altercação na AR entre Freitas do Amaral e Marques Guedes sobre as afirmações produzidas pelo primeiro, comparando Bush a Hitler, ou mais rigorosamente, "Dá dez razões para considerar Bush um político de extrema- direita. Em quatro delas expressa uma equiparação a Hitler, em três a Salazar, em duas a Pinochet e numa ao generalíssimo Franco" é completamente despicienda. Quem poderia considerar-se ofendido seria o PR dos EUA. Ora os presidentes americanos têm uma longa, gloriosa e invejável tradição de lidarem com políticos europeus que, nas respectivas juventudes, queimaram as efígies dos seus antecessores nas praças públicas das respectivas capitais. Alguns chegaram inclusivamente a Secretários Gerais da NATO.
Pode alegar-se que os outros o fizeram na juventude, enquanto Freitas o fez na senectude. Mas isso apenas mostra um espírito buliçoso, jovem e lúdico. Poderia inclusivamente alegar-se que o fez relativamente ao presidente americano actual e não a um seu antecessor, mas tal não é relevante porque Bush certamente se acha no mesmo direito e com a mesma estatura dos seus antecessores. Para além de queimar a efígie do presidente americano como instituição, Freitas personalizou o serviço fê-lo relativamente ao presidente americano com cuja administração irá conviver diplomaticamente. Não foi qualquer antigo presidente americano cujo nome se perde nas brumas da memória. E esse toque pessoal será certamente apreciado na Casa Branca.
Depois da crise juvenil em plena senectude, Freitas fez imediatamente agulha para uma idade mais provecta. Em poucos dias o seu pensamento percorreu dezenas de anos e regressou ao futuro. Vi há tempos um filme onde Mel Gibson passou pelo mesmo fenómeno macabro o tempo a recuperar o seu ciclo inexorável. E assim apressou-se a afirmar que «Hoje a situação é muito diferente, sobretudo depois da vinda de Bush à Europa».
Portanto a «vinda de Bush à Europa» constituiu para Freitas o encontrar Cristo na Estrada de Damasco a questioná-lo pungente «Freitas, Freitas, porque me persegues?». E Freitas de rojo, no chão poeirento da estrada, a balbuciar palavras de contrição enquanto ao longe uma cáfila de camelos se alongava no horizonte, na direcção de Palmira (ou de Bruxelas ...).
Tão alanceada e arrebatada foi a sua contrição que não reparou que Bush havia indicado Paul Wolfowitz, o falcão da administração Bush, o actual número dois do Pentágono e que é considerado o principal arquitecto da Guerra do Iraque, como candidato à presidência do Banco Mundial. O próprio Financial Times comentou que "Colocar o arquitecto unilateral da Guerra do Iraque à frente da primeira agência de desenvolvimento multilateral no mundo, pensam muitas pessoas, é colocar uma raposa aos comandos de um galinheiro". Mas Freitas, por uma questão de coerência, não pode ligar às opiniões de um órgão que, quando se soube da sua nomeação, havia escrito que a "doutrina anti-EUA" do recém-nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros "pode minar as estreitas relações que Portugal mantém tradicionalmente com Washington". Portanto esta questão de Paul Wolfowitz tem que ser analisada sob o mesmo prisma que a questão Freitas do Amaral ... mudam-se os cargos ... mudam-se as vontades.
E o Financial Times a falar em doutrina ... e o Freitas a rebolar-se no chão rindo de gozo ... doutrina!? Desde quando uma crise juvenil serôdia constitui uma doutrina?
O mesmo sucederá certamente com a nomeação recente de John Bolton como embaixador junto das Nações Unidas. Bolton tem opiniões muito curiosas sobre as Nações Unidas, entre elas a de achar que, na realidade, as Nações Unidas ... não existem. Outra a que se tivesse que remodelar a orgânica do Conselho de Segurança, este apenas deveria ter um membro permanente ... os EUA. Bolton é o falcão entre os falcões e foi nomeado embaixador junto de um organismo que despreza.
Mas para Freitas, Bush mudou ... pois veio à Europa e Freitas encontrou-o na Estrada de Damasco. E os camelos ao longe, na linha do horizonte, ajudaram a compor a paisagem bíblica.
Publicado por Joana às 01:21 PM | Comentários (51) | TrackBack
março 21, 2005
Fé, Esperança e Caridade
O programa do governo apresentado hoje no hemiciclo parlamentar tem 3 características principais e, subjacentes a elas, as virtudes teologais, ou sejam, as virtudes com nos põem em relação íntima com o Moloch estatal que divinizamos:
1 Mantém rigorosamente, na forma e no conteúdo, aquilo que, na campanha eleitoral, foi designado por metas indicativas. Tendo em conta a aceitação entusiástica do eleitorado, Sócrates decidiu nem mexer sequer uma vírgula;
2 As metas indicativas mais exaltantes e com maior contributo para o desenvolvimento do país, investimentos de mais de 20 mil milhões de euros até 2009, ficarão a cargo dos privados, ou seja, não são propriamente metas indicativas, mas metas aspirativas;
3 As metas indicativas mais concretas, ligadas ao aumento da despesa pública, como as SCUTs, colocar mil jovens formados em gestão e tecnologia nas PMEs, etc., serão do âmbito do governo, ou seja, são metas concretas.
Portanto não houve qualquer concretização das metas indicativas já constantes no manifesto eleitoral. Mas o governo tem fé que no próximo Programa de Estabilidade e Crescimento para 2005-2008 e no próximo Orçamento Rectificativo de 2005 haverá metas indicativas mais consistentes.
As coisas boas, as que têm impacte nas receitas e no nosso desenvolvimento, essas espera o governo que os privados as façam. São aspirações. O governo tem esperança que apareçam beneméritos da coisa pública que invistam 20 mil milhões de euros em projectos de modernização de redes de infra-estruturas energéticas, rodoferroviárias, portuárias, aeroportuárias, ambientais, de telecomunicações e de equipamentos turísticos
As metas que implicam aumento da despesa pública, essas podemos contar com o engenho do governo para as concretizar. Mas como as ressarcir? Aumento de impostos? Todavia, no que se refere a esse eventual aumento, Sócrates disse que ele «vai ser evitável justamente porque estamos cá para garantir que vamos conter a despesa, apostar no combate à fraude e evasão fiscal e no crescimento económico». E entretanto afirmou com uma clareza pitonísica que A chave do problema da consolidação das contas públicas está do lado da despesa, onde se verifica uma extrema rigidez estrutural que retira margem de manobra a qualquer Governo.
Vários charadistas já se estão a debruçar sobre esta última frase tentando adivinhar-lhe o sentido, ou melhor como é possível aceder a uma chave que está onde o governo não consegue manobrar, ou seja, aceder a algo que está não se sabe onde, nem se seremos capazes de aí aceder, se o soubermos. Uma possibilidade seria a de organizar entre a equipa governativa e assessores e, porque não, toda a população do país, o Rally Paper Rota da Chave para descobrir a localização de uma chave que, sem ela, deixa de ser evitável o aumento de impostos. Terá que ser uma tarefa nacional, porquanto se não a conseguirmos descobrir ficamos obviamente entregues à caridade.
Resumindo, o programa do governo assenta na fé que as metas indicativas do manifesto eleitoral socialista ganhem contornos mais precisos nos futuros programas que concretizem o que este continua a evitar fazer, na esperança na realização de investimentos vultuosos a efectuar por outros, que ingenuamente estão na doce ignorância do tremendo esforço financeiro que o governo (e todos nós!) espera deles, e na descoberta de uma chave, sem a qual ficamos entregues à caridade, pois vamos ter que pagar do nosso bolso o aumento da despesa pública, que foi o que de mais concreto saiu do debate.
Publicado por Joana às 10:38 PM | Comentários (26) | TrackBack
O Caso Bombardier
O caso Bombardier tem todas as características típicas relativas a um país pouco desenvolvido, com um tecido industrial frágil e com baixa densificação de relações interindustriais. Começou como uma empresa metalomecânica (Sorefame) de produção diversificada, sobrevivendo num ambiente industrial altamente protegido. A sua aposta no material circulante talvez a tivesse ajudado a sobreviver à hecatombe das empresas metalomecânicas portuguesas que ocorreu entre os fins da década de 70 e a década de 80. Mas a sua progressiva especialização nessa actividade industrial criou-lhe outro tipo de fragilidades. A indústria de material circulante trabalha para um mercado de procura muito flutuante, que está dominado internacionalmente por alguns gigantes.
O que está acontecer com a Bombardier portuguesa acontece em todo o mundo, e na Europa em particular. Para sobreviverem, a Asea sueca e a helvética Brown Boveri juntaram-se e criaram a ABB. O grupo Alstom, que já tem 130 anos, uma história industrial exemplar e que tem andado na crista da onda da tecnologia, desde o material eléctrico, construção naval e material circulante, está numa crise terrível. São 100.000 postos de trabalho na França e no estrangeiro.
Porque é que na Europa desenvolvida há uma destruição criadora e em Portugal o caso assume foros de aniquilação definitiva?
Em primeiro lugar por que é uma empresa de elevada tecnologia, pelo menos para o nível local. Nós estamos habituados a ver serem encerradas empresas de muito baixa tecnologia, com baixa qualificação laboral, e estamos em vias de nos resignar com uma situação que é fatal. Outro tanto não sucede quando vemos desaparecer uma empresa de elevada tecnologia.
E aqui entramos na segunda questão. Este encerramento é doloroso porque temos muito poucas empresas de elevada tecnologia e sabemos que é aí que nós temos que apostar. Somos como o pobre que, entre a tralha sem préstimo que possui, vê ser-lhe subtraído um dos poucos bens com algumas potencialidades.
E por ser doloroso, assiste-se aos socos no ar que sindicatos, trabalhadores, comunicação social, governo e políticos em geral, dão em desespero de causa. Pretendem impedir que a Bombardier leve aquilo que lhe pertence. È uma ideia que pode arrebatar o nosso ardor nacionalista, mas que é um equívoco perigoso. Portugal tem que se tornar atractivo a investidores estrangeiros, mas nunca o conseguirá fazer sem ser numa base de transparência e de aceitação das regras do jogo do mercado. Só sindicalistas obsoletos ou obreiristas relapsos julgam que é possível trazer os investidores arrastados pelos gorgomilos até às plagas lusitanas. Eles vêm se acharem o ambiente económico atractivo, e isto é um dado do problema e não um obstáculo de somenos que pode ser removido com um discurso moralista.
O governo deve negociar com a Bombardier utilizando os instrumentos legais que dispõe e a capacidade negocial que tem, por várias razões, entre elas a de ser accionista maioritário (ou único) de diversas empresas potencialmente clientes da Bombardier. Mas acima de tudo deve pensar em termos globais, de toda a economia, agindo sobre o funcionamento da administração pública, com ênfase particular na justiça, na fiscalidade e na qualificação, de forma a tornar o país atractivo ao investimento.
Quanto mais atractivo for o país e maior for o investimento qualificado, menor será o impacte que casos como o da Bombardier terão. Serão apenas a destruição criadora inerente ao funcionamento do próprio sistema. E o investimento externo, se trouxer tecnologia de elevado valor acrescentado, é decisivo por dois motivos: 1) pelo investimento em si postos de trabalho que cria e investimentos induzidos; 2) pelo contacto com novas mentalidades e metodologias empresariais, porquanto um dos défices existentes em Portugal é o da qualidade e quantidade de empresários.
Seria todavia um erro salvar a Bombardier-Sorefame, ou qualquer empresa do género, recorrendo à intervenção estatal e integrando o seu espólio no sector público. Se uma empresa é ineficiente quando concorre em mercado livre, é porque ela é de facto ineficiente. Sendo assim, a sua integração no sector estatal faz com que este perca (mais) dinheiro. Normalmente o dinheiro perdido no sector estatal tem uma característica inquietante: ninguém o vê, ou seja, ninguém repara, directamente, que ele está a escoar-se para o lixo. O Estado perde displicentemente dinheiro, porque depois vai roubá-lo aos contribuintes. Somos nós todos que pagamos a gestão danosa do Estado e a ineficiência do sector público. Mas ao pagá-la, os contribuintes individuais ficam mais pobres e as empresas perdem competitividade.
Portanto, se o governo sucumbir à tentação de salvar o que resta da Bombardier pela intervenção estatal, está a criar as condições para facilitar o aparecimento de mais novos casos Bombardier.
Publicado por Joana às 07:10 PM | Comentários (21) | TrackBack
março 20, 2005
Os Bonzos do Bem
Ou a Audiência Portuguesa do Tribunal sobre o Iraque
O aspecto mais caricato do folclore pseudo-cívico e pseudo-participativo é o de desenvolver-se segundo uma liturgia pré-determinada, sempre igual, imolando aos mesmos ídolos, socorrendo-se da mesma fé messiânica, indiferente a factos ou a raciocínios. Como toda a religião revelada, é maniqueísta: Os bons são sempre bons, independentemente do bem ser representado por ditaduras sanguinárias, por assassinos terroristas ou por aqueles que subalternizam e escravizam as mulheres, desde que se invoquem do anti-capitalismo ou do anti-americanismo. Os maus são, em qualquer circunstância, os defensores da democracia e do mercado livre.
Independentemente das razões invocadas, e eu já aqui debati a questão diversas vezes, a intervenção no Iraque saldou-se pelo fim da ditadura sanguinária de Saddam, pela possibilidade dos iraquianos exercerem o direito de voto, e pelas mudanças positivas que começaram a ocorrer na região o abandono pela Líbia do seu programa de ADM e abertura das suas fronteiras às inspecções, avanços da democracia na Palestina, Líbano e noutros países da área, o início da retirada síria do Líbano, etc.. Estas mudanças favoráveis têm uma particularidade: terem ocorrido, desde o início da intervenção, contra as previsões dos sacerdotes dos bons, e, na maioria dos casos, por pressão das massas árabes.
Em 22-01-04 Rosas postulava no Público que «as forças ocupantes anglo-americanas já não podem sair do Iraque como quereriam. Ou o abandonam expeditamente e a curto prazo, não garantindo o controlo político, militar e das matérias-primas da região, .... Ou prolongam e intensificam a sua presença militar para ver se agarram alguma coisa, e arriscam-se a sair de Bagdad como um dia saíram dos terraços da embaixada de Saigão: pendurados nos helicópteros». E não era a opinião apenas do bonzo Rosas, mas a opinião generalizada de todos os politicamente correctos, de todos os prosélitos do bem. Hoje a esquerda americana interroga-se angustiada sobre se afinal não seria Bush que teria razão.
As eleições realizaram-se após uma campanha de descrédito promovida pelos apóstolos do bem que controlam a comunicação social, o que é aliás uma consequência necessária da sua missão evangelizadora só o bem deve ser servido às mentalidades frágeis dos gentios. Durante semanas foram transmitidas imagens dramáticas sobre o desastre que se perspectivava nas eleições iraquianas e da certeza do seu previsível fiasco. As opiniões reportadas pelos apóstolos do bem eram irrefutáveis. Infelizmente para o bem os factos contrariaram mais uma vez as suas ladainhas apostólicas. Os iraquianos, com enorme coragem, afluíram maciçamente às urnas, excepto nas zonas sunitas, onde se concentram os apoiantes do antigo ditador. Mas mesmo entre os sunitas surgem tentativas para que a sua participação futura na democracia iraquiana, não seja menorizada pelo seu boicote eleitoral.
Mas para os bonzos do bem os factos são apenas incidentes irrelevantes que não deixam rasto. E assim promoveram a realização este fim de semana (de 18 a 20 de Março) a Audiência Portuguesa do Tribunal Mundial sobre o Iraque (AP-TMI). A Assembleia Nacional Iraquiana iniciou os trabalhos a 16 de Março isso é irrelevante para os bonzos do bem, a quem a democracia apenas interessa porque lhes permite atacarem os governos democráticos. Os iraquianos discutem em liberdade o futuro do país e as estratégias das diversas forças políticas os bonzos em êxtase anti-imperialista apenas se interessam na condenação do imperialismo por ocupar o Iraque e se apropriar ilicitamente dos recursos naturais e dos fundos financeiros iraquianos, em seu benefício, e de subverterem as bases da estrutura produtiva do país e na execução da sentença, cominada a priori, da retirada das forças ocupantes e a devolução integral da soberania ao povo iraquiano, condição indispensável da pacificação e democratização do país. As eleições permitiram a eleição de 86 mulheres entre os 275 deputados, que estão decididas a lutarem pela melhoria da sua condição, mas os bonzos passam displicentemente ao lado de factos irrelevantes para as suas crenças e pretendem com esta Audiência mobilizar todos os bonzos para abreviar o sofrimento do povo iraquiano.
Quando se julga o mal, não há lugar para o contraditório. O mal é para ser exorcizado, não para ser confrontado. Além do que, como os bonzos afirmaram, seria duvidoso que os visados reconhecessem os benefícios cívicos deste tribunal". Estes rituais apenas são julgamentos pelo rótulo que os próprios bonzos lhes atribuíram. Não são mais que autos de exorcismo do capitalismo e do imperialismo.
A Audiência Portuguesa do Tribunal Mundial sobre o Iraque não tem rigorosamente nada a ver com o povo iraquiano. Ignora olimpicamente o que lá se passa. Provavelmente até gostaria que os terroristas, a quem chama, delicadamente, militantes da resistência, causassem ainda mais sofrimento ao povo iraquiano. A AP-TMI tem apenas a ver com as crenças messiânicas dos bonzos que a integram. É um ritual litúrgico. É uma praxe catártica para drenar periodicamente os humores segregados pelos traumas da orfandade de Lenine e dos amanhãs que cantam.
É a expiação rancorosa em lausperene.
Publicado por Joana às 06:34 PM | Comentários (64) | TrackBack
março 17, 2005
Dois Socialismos?
O socialista Schröder apresentou hoje ao Bundestag um conjunto de medidas para reduzir o desemprego alemão (cuja taxa actual é de 12,6%). Baixar o imposto sobre as sociedades de 25% (um dos mais elevados da Europa) para 19% e reformar de alto a baixo todo o sistema fiscal aplicado às empresas. Em contrapartida prevê reduzir diversos benefícios fiscais pretende reduzir as possibilidades de deduções nos impostos, reduzir subsídios, como o subsídio à compra de casa própria, e também aumentar os impostos sobre os dividendos e sobre os lucros mínimos.
Anunciou também um amplo programa de desburocratização, maiores facilidades à criação de empresas (diminuição do actual capital social mínimo de 25.000, por exemplo) e eliminação de legislação supérflua (300 überflüssige Gesetze sollen wegfallen), ou seja, 300 leis vão à vida. 300? Porque não 299 ou 301? Este número redondo cheira a chavão publicitário, mais que a uma medida rigorosa!
Schröder promete um programa de investimentos públicos de dois mil milhões de euros em projectos no âmbito rodoviário nos próximos quatro anos, mais 700 milhões para a reabilitação de edifícios. As suas previsões são que estes projectos podem gerar investimentos adicionais vultuosos. Schröder pretende que os grandes consórcios energéticos realizem a breve prazo investimentos da ordem dos 20 mil milhões de euros e que as empresas, face ao novo enquadramento fiscal e administrativo, deixem de abandonar a Alemanha, rumo ao leste europeu.
A CDU/CSU, cujo apoio é indispensável, porquanto Schröder, tendo embora a maioria na Dieta Federal (Bundestag), não a tem no Conselho Federal (Bundesrat), acha-as insuficientes, pois pretende que a legislação laboral seja modificada no sentido de uma maior liberalização. Todavia é natural que acabe por as aprovar.
Não estou em condições de discutir se estas reformas serão ou não suficientes, nem se elas se traduzirão apenas num maior défice orçamental (embora a dimensão dos investimentos públicos seja reduzida, quando comparada com o PIB alemão). Também não sei se o optimismo de Schröder sobre o efeito multiplicativo dos seus investimentos é fundamentado, ou se é apenas uma fé messiânica. Mostram todavia uma vontade de diminuir o ónus que as empresas suportam e de desburocratizar a relação do Estado com a actividade económica.
Que se passa entretanto em Portugal? Num país que está décadas atrasado relativamente à Alemanha, que tem uma carga fiscal pesada, a burocracia mais asfixiante da Europa, e uma rigidez laboral paralisante? O silêncio socrático.
O grave é que é um silêncio cheio de recados. Campos e Cunha já avisou que, a médio prazo, é de esperar um aumento de impostos; subitamente vieram à baila as taxas do IVA e as suas eventuais alterações; Constâncio sugere que se aumentem os impostos sobre os combustíveis e sobre os veículos "como alternativa" a não se pagarem as portagens das SCUTs. Com tantos recados, torna-se num silêncio ensurdecedor. Com o anterior governo o país já estaria em estado de sítio psicológico, e as fontes de Belém já teriam enviado dezenas de recados à comunicação social.
Ninguém fala em desburocratizar, em reestruturar o sector público, em pôr cobro à voracidade desse monstro que está a asfixiar o país. Não há o mais leve boato sobre estas matérias.
O país está encurralado. Os impostos e contribuições sociais sobre o trabalho atingiram níveis insuportáveis; os impostos sobre a actividade económica atingiram o limiar, limiar a partir do qual o aumento da fiscalidade se traduz na diminuição das receitas pela diminuição da actividade económica e deslocalização das empresas; o imposto sobre o tabaco está limitado pelo contrabando quanto maior for o imposto maior é o rácio benefício-custo da actividade dos contrabandistas e mais atractivo este nicho de mercado. Outro tanto sucede com os produtos petrolíferos quanto maior for o diferencial entre Portugal e Espanha, maior é a propensão para o adquirir em Espanha e sustentar o erário público espanhol em vez do português.
A economia paralela aumenta com a burocracia estatal e o fundamentalismo fiscal. Não vale a pena entoar jeremiadas na comunicação social sobre aquela actividade. Ela resulta da ineficiência da nossa sociedade. A maioria dos que protestam contra ela é conivente na prática com ela. Quando chamam um canalizador a casa, exigem-lhe factura? Por outras palavras, aceitam pagar mais 19% de IVA? Se recorrem a um advogado, exigem o recibo, aceitando pagar mais 19% de IVA? Protestamos contra a economia paralela, mas procuramo-la para obter bens ou serviços mais em conta. Imprecamo-la, mas sustentamo-la.
Só os hipócritas ou intelectualmente desonestos propõem alimentar o Moloch estatal com o fim da evasão fiscal e da economia paralela que eles próprios alimentam e com as quais são coniventes, sempre que têm ocasião. O fim do sigilo fiscal não passa de um mito porque é fácil de ser torneado. Terá alguns efeitos positivos, mas nada do que os adoradores do Moloch esperam.
O que resta? O imposto sobre os automóveis, em bruto ou em prestações suaves, como já se murmura, e os impostos sobre os bens imobiliários. A esses é impossível fugir. Mas atenção, o imposto sobre bens imobiliários é o que mais mexe sobre a totalidade do país. O primeiro objectivo dos revoltosos da Patuleia era o assalto às recém criadas repartições de finanças e o incêndio dos registos cadastrais. E não só em Portugal. Em diversos países tem-se verificado que o excesso fiscal sobre bens imobiliários conduz à revolta fiscal e à rápida queda dos governos que o promovem.
Como é diferente o socialismo em Portugal! ... o socialismo e o resto ...
Publicado por Joana às 09:54 PM | Comentários (59) | TrackBack
A Desmagnetização de Santana
Em primeiro lugar, como providência cautelar, queria exprimir a minha opinião que julgo que teria sido preferível para o próprio e para os interesses do partido a que ainda preside, que Santana Lopes renunciasse a regressar à CML. O seu desgaste político no exercício do cargo de 1º ministro foi enorme. Ele pode alegar, com justiça, que foi objecto da mais abjecta e orquestrada campanha de maledicência movida pela comunicação social e pelo marulhar das fontes de Belém de que há memória na democracia portuguesa. Mas também deveria reconhecer que reagiu a essa campanha de forma canhestra, cada vez mais errático, e que acabou capitulando (ver aqui e aqui) perante ela, demonstrando uma frágil estatura política.
Em face desse desgaste a atitude mais razoável deveria ser a de fazer aquilo que se designa em política como a travessia do deserto, esperando que a imagem que criou (e lhe criaram) nestes 6 meses se desvanecesse e os eventuais erros do actual governo servissem de contraponto para uma reavaliação da sua capacidade governativa e da justeza ou não das críticas que lhe foram dirigidas. Todavia, Santana Lopes preferiu escolher a via mais perigosa e regressar à CML.
Num país politicamente saudável essa decisão deveria ser apenas discutida do ponto de vista da oportunidade e das (des)vantagens políticas, como JPP o fez, por exemplo. Porém, Portugal não é um país politicamente saudável. Assim sendo, a comunicação social entreteve-se duas semanas a tecer mais um rosário de trapalhadas, criando e desfazendo alegados factos políticos, construindo um sólido boato, para a seguir o demolir com fragor, e assim sucessivamente. Que Santana estava a fazer um tabu sobre o seu regresso; que Carmona Rodrigues iria recusar permanecer como vereador e abandonar o município; que com ele também Fontão de Carvalho cessaria funções; etc., etc. A posse do novo governo foi a 12 de Março, mas a 13, num domingo, os jornais escreviam que se ignorava na autarquia se ele ia, de facto, regressar, uma vez que o ex-primeiro-ministro nada havia dito sobre o assunto a Carmona Rodrigues (sempre me admirei da ubiquidade dos jornalistas, capazes de saberem de todas as conversas privadas que precisam para fazerem as notícias).
Como se ignorava na autarquia, se era domingo? Que se passaria por detrás daqueles sólidos portões de ferro, naquela tarde soalheira de domingo? Andariam os espectros dos vereadores e funcionários deambulando tresmalhados, desnorteados por aqueles corredores e aquela escadaria, interrogando-se angustiados sobre o regresso do PSL?
E esta situação calamitosa ocorrera porque não tendo renunciado ao cargo, Santana Lopes voltara a ser, formalmente, presidente da Câmara de Lisboa; mas como não delegara competências nos seus vereadores, as competências que neles tinha delegado Carmona Rodrigues já não se manteriam válidas, pelo facto de o ex-primeiro-ministro não ter renunciado ao cargo de presidente da autarquia. Portanto, segundo aquela teoria, naquele fatídico domingo à tarde os lisboetas teriam estado em completa anarquia, pois Santana Lopes tinha passado a ser o único eleito do município com poder para assinar despachos e outros documentos. O que, segundo a imprensa, significava que a CML estaria, naquele fatídico domingo à tarde, em autogestão. Em autogestão? Mas se não estava lá ninguém? E se houvesse uma emergência? Qual o problema, se o PSL poderia assinar eventuais despachos domingueiros? Fácil: Santana é por definição comunicacional, a anarquia absoluta.
Finalmente a cidade descansou quando as agências de informação informaram pressurosas que Pedro Santana Lopes e Carmona Rodrigues haviam entrado anteontem juntos na Câmara Municipal de Lisboa, pouco antes das 11h00. Questionado pelos jornalistas sobre se deve ser tratado como presidente da Câmara, Santana Lopes respondeu apenas: "Chamem-me o que quiserem". Semíramis, que também estava no local, registou que os jornalistas agradeceram e garantiram que se haviam antecipado e já utilizavam aquela autorização (a de Chamem-me o que quiserem) há alguns anos e que a tinham exercido abundantemente.
Mas há forças que velam, dada a tradição que têm de defesa das instituições democráticas. Considerando que a atitude de Santana Lopes representou "um desrespeito pela Constituição", o Bloco de Esquerda defende que "não se pode pôr em causa o funcionamento do Estado". Nesse sentido, o BE solicitou ao presidente da Assembleia Municipal de Lisboa a convocação de uma conferência de representantes dos grupos municipais com o objectivo de debater esta questão. E informaram ainda ter dado conhecimento ao PR, "do não funcionamento de um órgão constitucional, a Câmara Municipal de Lisboa".
Porque será que tudo o que se relaciona com Santana Lopes assume foros do ridículo mais desconchavado? Porque será que comunicação social, os partidos contrários e o próprio partido elaboram sobre ele as hipóteses mais absurdas e disparatadas? E finalmente, porque cai tudo, depois, sobre ele?
Só há uma explicação. O magnetismo pessoal de Santana Lopes aumentou exponencialmente, com tal vigor, que o seu campo magnético atrai todo o ferro velho e sucata política. Cai tudo sobre ele.
O homem deveria mesmo fazer a tal travessia do deserto e aproveitá-la para uma desmagnetização total.
Publicado por Joana às 08:57 AM | Comentários (16) | TrackBack
março 16, 2005
Os Idos de Março de 44AC 6
Política Monetária
Tenho tido a preocupação, nesta série de postas, e em anteriores, de sempre que me refiro a valores romanos, traduzi-los em termos actuais, para se ter uma ideia do valor de que estamos realmente a falar. Aproveito esta posta para fazer uma análise ainda que necessariamente superficial, do sistema monetário romano e da sua equivalência em termos actuais. César mandou cunhar o aureus de 8,186g (40 por libra romana). Quando Augusto, após a vitória sobre Marco António, regressou do Egipto trazendo um imenso tesouro saqueado daquele país, o pôs em circulação para reactivar os negócios que tinham estagnado após a instabilidade da guerra civil, estimulou-os, mas estimulou também os preços, o que provocou uma enorme inflação e uma crise financeira. Já naquela época o keynesianismo não era uma receita segura!
Os bancos e caixas económicas tiveram que fazer frente a uma corrida aos levantamentos, e foram obrigados a encerrar os balcões. As indústrias e as lojas, que vendiam a fiado, não puderam pagar aos fornecedores e tiveram também elas que fechar as portas. O pânico alastrou. A situação só se estabilizou completamente no reinado de Tibério. Augusto (-27 a +14) cunhou assim um novo aureus com 7,96g Au. No tempo de Augusto o sistema monetário romano era o seguinte:
Divisa........Equivalente a........Conteúdo metálico...Euros à cotação do Ouro
Talento...........384 Aureos........3.056,64gr Au...........36.361,10
Aureo..............25 denarios..........7,96gr Au...............94,69
Denario.............4 Sestercios........3,89gr Ag................3,79
Sestercio...........4 ases..............54,50gr Bronze..........0,95
Ase.........................................13,60gr Bronze..........0,24
Os valores em euros foram calculados de acordo com a cotação actual do ouro. A cotação da prata não colhe para o efeito, pois que o câmbio entre o ouro e a prata, que durante milénios, no mundo ocidental e no médio oriente, variou entre 12 e 13 para 1 (no tempo de Augusto era 12,2 para 1), a partir do último quartel do século XIX disparou, desvalorizando muito a prata, face ao ouro (actualmente o câmbio é de 61 para 1).
Mas não é óbvio que o ouro tivesse então um poder de compra igual ao actual. Tudo indica que a carência de metais preciosos fazia com que o ouro valesse mais então, em face dos restantes bens transaccionáveis. É bastante complexo avaliar em termos de paridade de poder de compra, pois teria que se ter uma ideia precisa do cabaz de compras de então, que desconheço, embora calcule que as despesas de alimentação pudessem constituir 70% a 80% do orçamento médio familiar e que o principal alimento fossem os cereais. Em face dos preços de alguns bens, retirados de várias fontes, nomeadamente do Édito de preços máximos de Diocleciano, de 301AD, estimei que multiplicar os valores calculados acima por 5 poderia fornecer uma avaliação mais correcta. Assim sendo, 1 sestércio de Augusto poderia equivaler a 5 actuais, mas isto é apenas um feeling, pois não fiz qualquer estudo rigoroso. Posso contudo afirmar que qualquer número entre 3 e 6 pode estar certo, mas não me parece relevante ir mais longe no rigor. O que me parece relevante é ter uma ideia aproximada dos valores de que falamos.
O Talento era obviamente uma unidade contável, de cálculo, e não uma moeda. Havia outra divisa, o Sestertium (HS), que valia mil sestércios, e que aparece frequentemente na literatura.
Aqueles cálculos são válidos para o tempo de Augusto. No tempo de Nero (54 - 68) o aureus já só continha 7,4g a 7,6g de Ouro, o que significava uma desvalorização de 5% a 7%. Essa ligeira desvalorização prosseguiu durante os Flávios e Antoninos, mas a partir de Cómodo foi a catástrofe. Só no reinado deste houve uma desvalorização de 30% provocada pela carência de reservas metálicas. A quebra de moeda de Cómodo foi a par com um Édito fixando os preços máximos. Mas como se tem verificado desde sempre, e até hoje, esse tipo de intervenção estatal na economia salda-se invariavelmente por um desastre total. Mas Cómodo, o último dos Antoninos, já não pertence à Antiguidade Clássica, pertence ao período de agonia do Império Romano que não foi mais que a antecâmara da Idade Média.
A partir daí e até Diocleciano não vale a pena fazer contas. O século que mediou entre ambos foi de completo caos na vida económica e política o que lançou o Império na anarquia fiscal e monetária. Uma moeda de prata introduzida então foi o antoninianus, equivalente a 2 denarius. Todavia depreciou-se a grande velocidade. No tempo de Sepímio Severo a moeda tinha 50% a 60% de liga e no tempo de Galiano e Cláudio II a liga passou de 90% a 95% e a 98,5%. Em 256, as moedas de prata estavam já tão adulteradas que não passavam de simples fichas de cobre cobertas por uma delgada película de metal fino. E, como os imperadores não estavam em condições de impor a sua circulação, o custo da vida subiu cerca de 1.000% entre 256 e 280.
Foi Diocleciano (285 305) que introduziu um novo aureus (5,45g) e estabilizou, momentaneamente, a moeda. Introduziu igualmente uma moeda de conta denarius communis (1/50.000 de uma libra de ouro de 327g) que se destinava, em caso de carência de metais e desvalorização, a servir de tabela de correspondência. Era uma forma engenhosa de não alterar as listas de preços oficiais com a desvalorização da moeda: mantinha a lista em denarius communis e alterava apenas o factor de conversão. Foi nesta unidade de cálculo que Diocleciano elaborou o célebre Édito de Preços Máximos de 301 (Edictum de pretiis rerum venalium), que chegou aos nossos dias e me serviu de uma das bases para avaliar a cotação do ouro face às outras mercadorias. Esse Édito foi um desastre económico completo. Os mercadores esconderam os bens e os preços subiram sem ter em conta o Édito, que foi mais tarde anulado por Constantino.
Constantino, 2 ou 3 décadas depois, mandou cunhar o solidus, que continha 4,55gr de Ouro, quase idêntico ao aureus de Diocleciano. Esta moeda teve a peculiaridade de dar o nome a uma série de moedas europeias soldo, sou francês, xelim inglês, etc.
Ler igualmente:
Os Idos de Março de 44AC 6
Os Idos de Março de 44AC 5
Os Idos de Março de 44AC 4
Os Idos de Março de 44AC 3
Os Idos de Março de 44AC 2
Os Idos de Março de 44AC 1
E como complemento sobre o mesmo período:
Orçamento de Estado para 14 AD
O Mercado de Trabalho
Publicado por Joana às 11:31 PM | Comentários (11) | TrackBack
Os Idos de Março de 44AC 5
O Triunfo da Contradição Cidade-Estado/Império
César quisera reinar sobre um império cosmopolita, e integrar Roma na tradição secular das monarquias helenísticas, mas foi assassinado. Cleópatra tentou algo de semelhante, com o apoio de Marco António, mas a prosperidade económica que as suas medidas trouxeram para o Egipto e próximo oriente, não tiveram o necessário suporte militar. Só havia uma força militar então as legiões romanas; e Marco António, longe de Roma, não tinha possibilidade de refrescar as suas legiões.
Augusto foi, em reacção contra estas ideias, o representante de uma política romana. Tendo o apoio das províncias ocidentais, forçado a transigir com o senado, procurou transformar a ditadura militar que exercia num poder legal, de acordo com as leis e os conceitos da Cidade-Estado e declarou restabelecida a república nas suas antigas instituições (27 AC). Juridicamente, a república subsistia; Augusto, a quem uma decisão legal dos comícios e do senado deu todos os poderes, era apenas, juridicamente, o seu mandatário.
É a opinião geral que com as reformas de Augusto a república deixara, na realidade, de existir. Não partilho dessa opinião. Os comícios, que constituíam outrora a base do poder, já não tinham qualquer autoridade. Os poderes do imperador foram sempre confirmados por uma lei, à sua subida ao trono; mas, votada pelos comícios curiales, e a partir de Tibério apenas pelo Senado, não passava de simples ficção à qual ninguém ligava já importância. O Senado, que até aí fora constituído por antigos magistrados eleitos, passava a simples assembleia de nobres, designados pelo imperador, que os escolhia entre os cidadãos da primeira classe do censo.
A legitimidade que o imperador pede a comícios fictícios e a um senado que ele próprio organiza, é apenas um compromisso entre a ditadura militar que se apoderou do poder pela força, e a oligarquia senatorial, a qual também pretende impor-se ao império.
Sob a república, a soberania pertencia ao povo. Sob o império, é o imperador que a detém, na sua qualidade de representante do povo, confirmado por uma oligarquia rica da qual aparece como o primeiro dos membros (princeps). O senado não representa Roma nem o império; na realidade, é apenas o guardião dos interesses da classe aristocrática. Os antigos magistrados republicanos, nomeados pelo senado sobre proposta do imperador, escapam daqui em diante à vigilância do povo, pelo qual antes eram eleitos; tornam-se mandatários do imperador e da oligarquia com a qual ele partilha o poder.
Criou-se assim um sistema aristocrático e autoritário. Doravante, a sociedade divide-se em classes hierarquizadas pelo censo e dotadas de estatutos jurídicos diferentes. No primeiro plano, os senadores que possuem um milhão de sestércios (aproximadamente 1 milhão de euros pela cotação actual do ouro); só eles tinham direito a ser nomeados governadores das províncias e generais à excepção do general em chefe. Vinham em seguida os cavaleiros; eram todos os cidadãos cujos haveres ascendiam a 400.000 sestércios; podiam obter no exército as patentes de oficiais superiores.
A reacção triunfa com Augusto. Confere a superioridade intrínseca dos romanos, raça dominadora. Para manter a sua superioridade, proíbe-lhes certos casamentos desiguais e, para lhes garantir o domínio do mundo, empreende uma política de aumento da natalidade, recusando a plena capacidade civil às mulheres que tiverem menos de três filhos, tirando aos celibatários o direito a herdar, restaurando o tribunal do pai de família e expulsando os bastardos do corpo cívico.
Augusto aproveitou as medidas tomadas por César relativas à supressão do arrendamento do imposto e ao estabelecimento dos orçamentos das províncias para as subtrair às especulações financeiras. Mas tomou o caminho dirigista no que respeita às minas. As minas representavam na antiguidade o papel que tem hoje a grande indústria. As antigas monarquias orientais tinham evitado sempre deixar sair das suas mãos as riquezas mineiras, mantendo-as monopólios do Estado. Mas Roma entregara as minas da Espanha, e em seguida as da Macedónia e da Ásia, à exploração particular, por concessão. O mercado dos metais, que estava na base da economia antiga, passara assim para as mãos dos financeiros romanos. Augusto, que não queria deixar subsistir ante o poder do imperador a força oculta dos grandes financeiros, susceptíveis de o pôr em cheque, voltou à concepção das monarquias orientais, e restabeleceu o monopólio das minas.
Ora, Roma não era um centro industrial nem uma grande cidade comercial, mas sim um centro financeiro. As reformas de Augusto fizeram com que os capitais não se sentissem atraídos por Roma, e estes, não podendo já empregar-se nas frutuosas adjudicações do Estado, nem nas sociedades arrendatárias do imposto, tornaram o caminho dos centros económicos do Oriente, e sobretudo do Egipto.
Enquanto isso, por estar fora das rotas comerciais, a economia do Ocidente permaneceu sobretudo agrícola. A sua riqueza principal continuava a ser a propriedade imobiliária, e a aristocracia senhora de terras representou aí consequentemente um papel preponderante. Os senadores, grandes proprietários de terras, sentiram-se sempre muito mais próximos dos proprietários da Gália, da Espanha e da África proconsular do que dos homens de negócios do Oriente. Assim se manifesta desde o início a dualidade económica entre o Ocidente, onde a terra domina, constituindo para a política conservadora e aristocrática, uma base estável contra a influência dos países helenizados, e o Oriente, onde o comércio é prevalecente e a grande propriedade fundiária não é dominante. Todavia, para as províncias orientais, o imperador não é o primeiro cidadão (princeps), mas sim um soberano. Exploradas, humilhadas pelos senatoriais e pelos cavaleiros romanos, estas só têm ódio à aristocracia romana. Mas o imperador trouxe a paz. Por isso mesmo, foi no Oriente que se formou espontaneamente o culto do imperador. Vêem nele um senhor, mas também um protector. E é por isso que, tal como César, Augusto é declarado «divino» pelas províncias helenísticas.
Aliás, o Imperium já existia de longa data e era compatível com o sistema republicano. Era o comando em chefe de um exército em campanha. Após o fim da campanha esse poder absoluto sobre a tropa que comandava, expirava. Na sua essência, o que a reforma de Augusto trouxe foi revestir o princeps de Imperium de forma vitalícia e ser ele o único a deter essa dignidade. A magistratura imperial não tinha por objectivo substituir a monarquia à república. No início, o Império era um expediente, uma espécie de ditadura permanente para remediar as convulsões sociais e políticas que ameaçavam a existência da República. O Imperador seria o 1º cidadão do Estado (princeps), mas os órgãos legais do Estado continuavam a subsistir (Senado, comícios). Desde o início, e até Diocleciano, partilhavam a administração das províncias: havia províncias senatoriais e províncias imperiais. A meio do século da crise (de Marco Aurélio a Diocleciano), o Senado chegou mesmo a deter o principal papel no governo do Império (no tempo de Severo Alexandre, 235AD). Só a partir de Dicleciano, o Senado foi despojado da administração das suas províncias, que passaram todas para a administração imperial. Mas a reforma monárquica de Diocleciano chegou numa época em que a decadência era total e foi acompanhada de medidas económicas boas no curto prazo (algumas) e absolutamente desastrosas no longo prazo (quase todas).
Antes de Diocleciano, ainda no século I, Vespasiano tentara instaurar um regime monárquico hereditário, mas havia falhado e o assassinato de Domiciano liquidou a questão. A dinastia dos Antoninos foi um compromisso entre uma República inviável na sua relação com as províncias, e uma Monarquia, preferida pelo Oriente, mas não hereditária (a sucessão naquela dinastia foi por adopção). Os imperadores Antoninos foram homens brilhantes, mas não resolveram a crise que se ia aprofundando, subtilmente. Quando Marco Aurélio, influenciado pelas suas ideias filosóficas, quis transformar o império numa monarquia igualitária de cuja vontade suprema o imperador fosse o intérprete, teve que optar pela concepção monárquica hereditária e, por conseguinte, nomeou herdeiro seu filho Cómodo (180 192). A luta reacendeu-se entre o Senado (e a aristocracia) e o imperador, que respondeu com o terror e acabou por ser assassinado. Estas duas tentativas falharam pelo irremediável antagonismo entre as ideias republicanas (que apenas correspondiam à reacção aristocrática romana e não tinham nada de democráticas) e a ideia monárquica, e pela manifesta incompetência e indignidade de ambos imperadores (Domiciano e Cómodo).
À federação de Estados sob uma instituição monárquica estável e hereditária ambicionada por César e Cleópatra, sucede um agregado compósito, constituído pelas colónias, Romas em miniatura, instaladas no coração dos países conquistados e províncias que são, ou expressões geográficas ou divisões artificiais, raramente antigos Estados (como o Egipto, que aliás não fora incorporado no império, constituindo, sob a soberania do imperador, uma monarquia de direito divino, uma espécie de apanágio do imperador). A verdadeira divisão orgânica do mundo mediterrânico era a cidade. O Império romano seria assim uma federação de cidades agrupadas em torno da mais poderosa entre elas: Roma.
O imperador é o elo que une as peças da máquina. O imperador não é porém um rei e o princípio da sucessão nunca se impôs. O império só tinha à sua disposição os velhos organismos republicanos inaptos para a administração de um vasto Estado. Não tinha instituições próprias. Na verdade tudo repousa na vontade de um Senhor e este, em teoria nomeado pelo Senado e pelo povo, é de facto eleito e um joguete nas mãos das legiões e dos pretorianos. Portanto, não partilho da opinião generalizada que Augusto estabeleceu a monarquia de uma forma encapotada. Augusto estabeleceu um expediente contraditório, tentando manter os conceitos governativos da cidade estado, completamente desadequados, juntamente com um centralismo autoritário necessário para governar um espaço tão vasto e diferenciado. Essa contradição nunca foi resolvida, enquanto tal foi possível e exequível.
Este vício radical ausência de instituições agrava-se a partir do fim da dinastia dos Antoninos sob a acção da regressão económica (Roma desbaratou as riquezas acumuladas desde Alexandre, e não as renovou pelo trabalho pois o seu capitalismo, ou melhor, economia monetária, foi usurário e estéril), da crise religiosa e da pressão dos bárbaros.
O Imperador, apesar do seu poder terrífico, não é de forma alguma respeitado pela população, nomeadamente no Ocidente, onde não havia o sentimento monárquico. A plebe urbana de Roma conservou, do seu passado republicano, o desrespeito, e a sua fidelidade não era fiável.
Não havia nenhuma base sólida e legal onde assentasse a designação do imperador, que justificasse o poder absoluto que tinha, de facto, mas não de direito. A designação pelo Senado, por vontade ou forçada pelas circunstâncias, embora carecesse de legitimidade legal, teria mais solidez, visto o Senado ser o primeiro órgão da república. Mas era o exército que tinha a força e impunha o seu imperador. E sempre que havia crise, cada um dos grandes exércitos (Reno, Danúbio, Oriente) tentava impor o seu chefe como imperador.
A partir da morte de Cómodo, o período designado por Baixo Império, é apenas um hiato entre o Mundo Antigo (que findou com Marco Aurélio) e a Idade Média. Não há diferenças significativas, quer a nível das estruturas económicas, quer a nível social, quer a nível da desertificação urbana, quer a nível do retrocesso comercial, quer a nível do vazio cultural, entre o Baixo Império e a Idade Média. A única, importante, e decisiva, foi a liquidação da pesada, ineficiente e odiada máquina administrativa e fiscal do Império.
Ler igualmente:
Os Idos de Março de 44AC 6
Os Idos de Março de 44AC 5
Os Idos de Março de 44AC 4
Os Idos de Março de 44AC 3
Os Idos de Março de 44AC 2
Os Idos de Março de 44AC 1
E como complemento sobre o mesmo período:
Orçamento de Estado para 14 AD
O Mercado de Trabalho
Publicado por Joana às 11:08 PM | Comentários (1) | TrackBack
Os Idos de Março de 44AC 4
Cleópatra strikes again
O assassinato de César colocava novamente o mundo em face da crise a que parecia ter escapado. Estabelecer-se-ia uma monarquia universal, baseada nas ideias do direito natural que se tinham desenvolvido no mundo helenístico, ou então um império dominado pela aristocracia romana? Em Roma, o partido republicano ressuscitava. Cícero fez com que o senado proclamasse uma amnistia geral e a abolição da ditadura. Todavia os republicanos foram frustrados pelo facto de Marco António, ao fazer o elogio fúnebre de César, ter sublevado a plebe urbana contra os seus assassinos.
Os conspiradores fugiram de Roma. Cleópatra, levando consigo Cesarião, abandonou precipitadamente Roma e passou a Alexandria. Marco António aliou-se a Octávio, jovem sobrinho de César. O partido republicano não se dera conta de que, ao repudiar a ideia monárquica, estava a defender uma fórmula ultrapassada. Ao reclamar, de acordo com o senado, o regresso às instituições republicanas, mesmo que tivesse como objectivo restaurar a liberdade em Roma, impunha a servidão a todo o império. Ora já não era possível considerar Roma independentemente deste. Aliás, o povo romano, cosmopolita e formado ao mesmo tempo por cidadãos e peregrinos, já não via na república a liberdade, mas sim o triunfo dos privilégios de classe dos senatoriais e da opressão capitalista. Desencadeou-se a guerra civil e os conspiradores foram vencidos.
Em Outubro de 43 foi concluído um acordo entre Octávio, Lépido e António, em virtude do qual passavam a constituir um triunvirato. Senhores do poder, partilharam entre si os exércitos e as províncias, empenhando-se nas proscrições contra o partido republicano, no decorrer das quais morreu Cícero. Fúlvia, a mulher de Marco António, mandou vir a cabeça do tribuno para lhe espetar alfinetes na língua, a língua que havia proferido as filípicas contra Marco António! Senadores e cavaleiros foram mortos aos milhares. Tanto o capital como o rendimento das classes aristocráticas e ricas foram sujeitos a impostos tais que melhor se diriam expropriações. Em 42, César foi declarado Deus.
Octávio instalou-se em Roma, onde o senado se inclinou perante ele. Lépido partiu para a província da África. António fixou-se em Efeso e Tarso, decidido, como cada um dos seus colegas, a conquistar o império só para si, e preparou-se para a luta decuplicando o tributo das províncias da Ásia, de modo a constituir um tesouro de guerra. Mas no Oriente só uma potência subsistia, o Egipto. E o Egipto vivia então uma notável retoma económica.
Cleópatra compreendera que, para o Egipto poder representar novamente um papel internacional, se tornava necessário acabar com o estatismo que o asfixiava. Não hesitou: suprimiu os monopólios do banco real, do azeite e do sal, e tornou o comércio novamente livre, inclusive o do numerário. Aboliu, nos domínios do Estado, os contratos perpétuos, e as terras foram postas em adjudicação pública. Estas reformas radicais, que tornavam a colocar o Egipto no topo da economia internacional, só podiam resultar com o saneamento da moeda. Cleópatra foi buscar esses recursos financeiros suprimindo a imunidade dos templos, pondo novamente sob a administração do Estado os domínios sacerdotais e restabelecendo o orçamento dos cultos. Os pesados empréstimos que Ptolomeu XIII Auleto contraíra outrora em Roma (para pagar os tributos a Roma!), inclusivamente junto de César, tinham sido tornados na sua quase totalidade a fundo perdido pelo ... próprio César.
Para tornar estas reformas sustentáveis, Cleópatra precisava de possuir um poderio militar que faltava ao Egipto. Foi simples, e o próprio Marco António forneceu a deixa. Um dos primeiro actos dele, ao chegar ao Oriente, foi enviar uma mensagem a Cleópatra, ordenando-lhe que fosse ter com ele a Tarso, para responder às acusações, que alguns lhe faziam, de ter ajudado e financiado Cássio. Cleópatra obedeceu.
No dia aprazado para a sua chegada, António preparou-se para recebê-la, sentado num trono majestoso no meio do Fórum, diante da população da cidade em polvorosa por aquele encontro histórico. Cleópatra chegou num barco de velas vermelhas, o esporão da proa dourado, e a quilha chapeada a prata. A tripulação era composta pelas suas camareiras vestidas de ninfas e por efebos, mascarados de Cupidos, que formavam um círculo em volta de um dossel de lamé, sob o qual ela estava reclinada, num diáfano traje de Vénus. Pífaros e flautas davam o necessário ambiente musical a esta superprodução que Hollywood não desdenharia. Contrariando os propósitos de Marco António, obrigou-o a ser ele a ir ter com ela. Chegou como juiz acusador e antes do fim do jantar, já estava rendido, aos pés dela. Ele e os generais passaram a noite a bordo. Havia ninfas e efebos para todos os gostos. Na manhã seguinte o Egipto era uma grande potência. Aquele jantar e aquela noite haviam custado a Roma algumas províncias orientais.
Cleópatra não era apenas uma política consumada. Loura, cheia de sensualidade, perita inigualável na ciência dos cosméticos e absolutamente destituída de pudor, no esplendor dos 27 anos, capturou numa noite o comandante de um exército romano (e triúnviro da República) e todo o seu estado maior.
Depois, levou-o para Alexandria. Cleópatra, ao contrário de António, estava perfeitamente consciente da precariedade da situação e do que era preciso fazer. Infelizmente para ela, Marco António não tinha, nem de perto, nem de longe, a sua clarividência e inteligência políticas. Cleópatra tentou fazer de Marco António e das suas legiões o suporte militar dos seus objectivos. Tentou aquilo que não conseguira com César. Simplesmente, com César teria conseguido juntar dois desígnios num único objectivo mais vasto. No fundo, os objectivos de César e de Cleópatra não eram irreconciliáveis. Com Marco António havia apenas o objectivo de Cleópatra e este era irreconciliável com os desígnios de quem então estava à frente dos destinos de Roma. Octávio teria que desaparecer.
Cleópatra incentivou Marco António à guerra com Octávio. Ele reuniu o exército e ela disponibilizou a sua frota. Ao desembarcar em Brindisi, sitiou a guarnição de Octávio. Mas os soldados de ambas as partes recusaram-se a combater, obrigando os seus generais a fazerem as pazes, que foram reforçadas com um casamento: o de António com a irmã de Octávio, Octávia. Os planos de Cleópatra goraram-se.
Todavia, Marco António não esteve muito tempo casado: mandou Octávia de volta para Roma e partiu com o seu exército contra os partos. Cleópatra foi ter com António a Antióquia, desaprovou a empresa, recusou-se a financiá-la, mas acabou por acompanhar o amante. Provavelmente não o deveria ter feito, pois teria sido a única forma de evitar que Marco António embarcasse numa expedição que foi um fiasco. Para mais, apesar de não ter tido nenhum êxito digno de menção, proclamou-se vencedor, ofereceu a si próprio um triunfo solene em Alexandria, indignando Roma, que se considerava a única depositária daquelas cerimónias e enviou uma intimação de divórcio a Octávia, rompendo assim o único vínculo que ainda o ligava a Octávio.
Para cúmulo da indignação de Roma, casou-se com Cleópatra, oferecendo como dote todo o Médio Oriente aos dois filhos que tivera com ela, e nomeou Cesarião príncipe herdeiro do Egipto e de Chipre. O Ponto, a Cilicia, a Capadócia, foram reconstituídas como reinos. Cesarião foi reconhecido ao mesmo tempo como herdeiro de César e, conjuntamente com Cleópatra, como rei do Egipto, ao qual ficava ligado a Síria, a Fenícia e Chipre.
Era o triunfo da política de Cleópatra. O Egipto retomava o seu papel hegemónico no Oriente. Desenhava-se assim no Oriente um enorme império dinástico, cujo centro deveria ser o Egipto, ao mesmo tempo que todos os países helenísticos eram percorridos por uma grande corrente de magnífico renascimento moral e cultural que neles deixaria profundos vestígios.
Todavia não é possível constituir um império baseado em forças militares exteriores a esse império. A base de recrutamento das legiões era a Itália, a Gália Cisalpina e as províncias limítrofes. O Oriente poderia fornecer tropa auxiliar, nunca o núcleo militar. Marco António não tinha lucidez política e sempre que saía fora da influência directa de Cleópatra, tomava decisões erróneas. A guerra era inevitável, mas Roma, sabiamente, não declarou guerra a Marco António. Para quê declarar guerra a uma nulidade política? Em 32, Roma declarou a guerra a Cleópatra e mais uma vez foi a supremacia naval que decidiu a vitória. Vencida em Actium (31) a esquadra de António, o império do Oriente, cujo suporte consistia apenas nas forças romanas de António, desmoronou-se. Octávio entrou como vencedor em Alexandria. António e Cleópatra suicidaram-se, e o prestigioso reino dos faraós foi incorporado no Império romano, do qual, sob o nome de Augusto, Octávio ia ser o único senhor.
Diz-se que quem não tem cão caça com gato. Foi o que Cleópatra tentou fazer. Só que aquele gato foi um fracasso.
Ler igualmente:
Os Idos de Março de 44AC 6
Os Idos de Março de 44AC 5
Os Idos de Março de 44AC 4
Os Idos de Março de 44AC 3
Os Idos de Março de 44AC 2
Os Idos de Março de 44AC 1
E como complemento sobre o mesmo período:
Orçamento de Estado para 14 AD
O Mercado de Trabalho
Publicado por Joana às 09:57 PM | Comentários (4) | TrackBack
Os Idos de Março de 44AC 2
A Economia Romana
Como explicar que o mundo romano, que manteve uma aparência de prosperidade financeira , embora com altos e baixos, desde unificação italiana, no apogeu da República, até Marco Aurélio, se arruinasse depois tão irremediavelmente? Não foi uma questão de personalidades. Depois de Marco Aurélio, Roma teve imperadores com grande capacidade e discernimento: os Severos, Aureliano, Diocleciano, Constantino, Juliano, etc., certamente melhores que a maioria dos imperadores da dinastia Júlio-Claudiana. Mas nenhum deles conseguiu opor um dique à decadência progressiva e fatal. Essa questão entronca com outras 1) teria existido em Roma uma economia capitalista? 2) Seria o Estado romano economicamente viável?
A monetarização da economia é uma das características do regime capitalista. Na Antiguidade existiram ilhotas de economia monetária: Babilónia, Fenícia, Grécia ou combinações de economia natural com áreas monetarizadas: Egipto (Império Novo) e o Império Persa dos Aqueménidas e, de uma forma mais alargada, o mundo helenístico.
Atenas era uma economia bastante monetarizada. A Ática, com menos de 3 mil km2, não conseguiria alimentar o meio milhão de habitantes que a povoavam no século de Péricles. Só subsistia com uma importante indústria alimentando um poderoso comércio de exportação de produtos industriais por troca com bens agrícolas (ou outros bens industriais). Quase metade daquela população era constituída por escravos.
A sucessiva ruína de todas aquelas ilhotas de economia pré-capitalista deve-se a vários factores. 1) Em primeiro lugar o serem ilhotas face a um mundo imenso bárbaro envolvente. A sua tecnologia mais avançada não era qualitativamente diferente de forma a assegurar-lhe uma superioridade militar decisiva e permanente sobre esse mundo; 2) em segundo lugar o facto de ter acontecido, em todos os casos, a progressiva fragilização da classe média, que fora inicialmente um dos motores da sua ascensão, mas que foi sendo eliminada pelas aristocracias dos ricos comerciantes. A existência do trabalho escravo facilitou essa fragilização e decadência; 3) a emigração, possibilitada pela abertura de vastos territórios à colonização, nomeadamente após as conquistas de Alexandre, e incentivada pelas crises políticas na cidade mãe, foi despovoando sucessivamente os grandes centros do mundo helenista, sempre que as crises sociais e financeiras os afectavam. Por todas estas razões as principais cidades gregas e helenistas passaram por períodos de ascensão, apogeu e declínio, relativamente curtos e desfasados no tempo. Atenas, Egina, Corinto, Rodes, Éfeso, Delos, etc. passaram sucessivamente por aquelas fases, com mais ou menos rapidez. Mesmo em Roma houve o progressivo despovoamento e desertificação do Latium, cuja população foi atraída quer pela vida ociosa da cidade, quer pela colonização e criação de novos municípios nas províncias.
Roma foi um caso de sucesso, apenas porque aquele ciclo foi mais longo, encontrou o caminho facilitado pela globalização das conquistas de Alexandre; dotou-se de uma técnica militar que embora não tivesse uma tecnologia qualitativamente diferente da dos seus inimigos, assentava num modelo de organização e disciplina que só modernamente voltou a conseguir-se.
Roma permaneceu em economia natural até à conquista da Magna Grécia (Itália do Sul 275 AC) ou ao começo das guerras púnicas (264 AC). A partir daí, o contacto com o exterior traduziu-se na monetarização progressiva da economia. A agricultura doméstica tinha dificuldade em concorrer com a agricultura egípcia, siciliana ou africana (África proconsular, correspondente ao norte da Tunísia actual). As crises agrárias do Lácio e do resto da península foram facilitadas pela importação maciça de escravos e pelo enorme afluxo de metais preciosos decorrente das conquistas e que ficou nas mãos da aristocracia. Esta riqueza conduziu a um capitalismo especulativo e financeiro, frágil na medida em que não assentava na produção sustentada de riqueza, mas na usura e na especulação usurária.
Em Roma havia uma indústria artesanal. Mas o capital em numerário, bastante abundante no fim da república e no início do império, não se dirigiu para a indústria, porque não encontra incentivos para tal. Roma não era uma cidade industrial. Em matéria de fábricas de grandes dimensões tinha apenas uma de papel e uma de corantes. Já desde os tempos antigos que a sua verdadeira indústria era a política, que proporcionava vias muito mais rápidas para obter lucros do que o verdadeiro trabalho. A fonte principal de riqueza dos senhores romanos eram a intriga nos corredores dos poderes e o saque das províncias. Gastavam muito dinheiro para fazer carreira. Mas, uma vez atingido qualquer cargo administrativo elevado, recuperavam tudo com grandes lucros, e investiam os ganhos na agricultura. Columela e Plínio deixaram-nos o retrato desta sociedade latifundiária e dos critérios que seguia para a exploração das fazendas agrícolas.
A pequena propriedade, que os Gracos, César, e Augusto tinham pretendido restaurar com as suas Leis Agrárias, não aguentara a concorrência com o latifúndio: uma guerra ou um ano de seca bastavam para destruí-la em proveito dos grandes domínios, que tinham possibilidades de resistir. Havia alguns grandes como reinos, escreveu Séneca, trabalhados por escravos que custavam pouco, mas que tratavam a terra sem critério nenhum, e especializados na criação de gado, que rendia mais do que lavrar os campos. Pastagens de dez ou vinte mil hectares, com dez ou vinte mil cabeças, não eram raridade.
A resistência ao capitalismo residia, em primeiro lugar, na própria economia doméstica, que estava muito implantada nos hábitos. Cada grande villa tinha os seus moinhos, os seus fornos, forjas, carpintarias, oficinas de tecelagem e vestuário. Nas villas mais ricas havia mesmo ourives, pintores, arquitectos, escultores, etc.. A grande aristocracia fornecia-se nos seus domínios, baseada no trabalho de escravos ou libertos. O capitalismo moderno implantou-se porque destruiu a economia doméstica dos domínios feudais, através da revolução tecnológica, da divisão do trabalho e do embaratecimento drástico dos produtos industriais. O atraso tecnológico da antiguidade não permitiu esse desenvolvimento. Algumas ideias, como a máquina a vapor de Hieron, não tinham quaisquer possibilidades de passarem à prática, pela inexistência de uma base técnica que o permitisse. Não passavam de trabalhos académicos, curiosidades filosóficas. Sem ruptura técnica a indústria capitalista, baseada na divisão do trabalho, na especialização das tarefas e na grande produção, não consegue competir com a indústria doméstica, nomeadamente quando o poder político está nas mãos dos que detêm os domínios onde essa indústria se desenvolve.
Mas, não havendo aperfeiçoamentos técnicos, o capitalismo não se poderia desenvolver baseado na utilização de um factor de produção a baixo preço o trabalho escravo? Houve tentativas nesse sentido, mas que não deram resultado. Em primeiro lugar um escravo tem um custo de aquisição (ou de criação, quando nasce na casa do dono) e de manutenção. Esse custo de manutenção é independente das flutuações económicas (e em altura de crise, obviamente se perde dinheiro na venda de um escravo); em segundo lugar tem uma produtividade inferior à do trabalhador livre (tem menos incentivos a aperfeiçoar-se e tem menos rapidez de execução); finalmente este tipo de trabalho indiferenciado não incentiva o aparecimento da divisão do trabalho. Portanto, o factor de produção trabalho escravo não era apetecível em termos de investimento capitalista. Em termos de rendibilidade deste factor de produção, ele não era competitivo economicamente. Essa situação foi admitida por Columella, que escreveu sobre as questões técnicas da agricultura, e considera o trabalho escravo como ineficiente, ponto de vista que é também admitido por Plinio.
As únicas indústrias orientadas segundo critérios capitalistas eram as extractivas. O proprietário do subsolo, teoricamente, era o Estado, que no entanto entregava a sua exploração, por concessão, aos particulares. Os custos de produção eram mínimos, porque o trabalho nos poços era confiado exclusivamente a escravos e a forçados, aos quais não se devia pagar nenhum salário e que não era preciso segurar contra qualquer acidente. Mas as minas foram exploradas até à sua exaustão (de acordo com as condições técnicas de então), e nos últimos séculos do Império a sua importância decaiu, nomeadamente no que se refere aos metais preciosos, base do numerário. A estatização da indústria mineira, medida tomada por Augusto numa tentativa para superar a diminuição da produção mineira e receber directamente os lucros da extracção, apenas acelerou o seu declínio.
Os escravos, bastante numerosos em Itália no período de transição entre a república e o império (constituindo cerca de 30% a 35% da sua população), eram frequentemente utilizados mais por ostentação que pela sua rendibilidade. Com o fim das conquistas deixou de haver o afluxo de escravos até então existente e os próprios mecanismos sociais baixo saldo demográfico, alforrias (muito numerosas por testamento), etc. encarregaram-se de fazer diminuir o peso dos escravos na sociedade romana. O colonato e outros regimes laborais substituíram o trabalho escravo que nos últimos dois séculos do império seria insignificante.
Um outro obstáculo foi que Roma, a capital do império, era também a capital da ociosidade. A população vivia numa semi-ociosidade. A distribuição livre de cereais pelos proletários romanos que, desde Clodio, em 58AC, se fazia gratuitamente, foi modificada por César e convertida num Rendimento Mínimo Garantido, pois foram excluídos das listas aqueles que tinham meios mínimos de subsistência. Os 320 mil romanos até então alimentados pelo Estado ficaram reduzidos a 150 mil, fazendo-se, além disso, uma revisão anual dos contemplados. Durante o seu curto governo conseguiu igualmente César estabelecer nas províncias cerca de 80 mil colonos, quer veteranos das suas legiões, quer parte da plebe assistida pela anona. Todavia após a morte de César aquele número subiu pouco a pouco, e o número dos que viviam permanentemente da anona manteve-se sempre flutuando à volta de 200 mil, apesar das distribuições diversas de terras nas províncias aos proletários romanos. Essa distribuição gratuita de víveres adquiridos no Egipto, Sicília e África proconsular tinha como contrapartida o dinheiro que Roma sacava às províncias. O comércio romano baseava-se na espoliação indirecta reembolsava as importações com os impostos com que taxava as províncias. Roma era uma cidade de pedintes.
Subvencionar e distrair a população de Roma tornou-se, depois de César, uma necessidade política. Além das distribuições gratuitas de cereais, os jogos constituíam um dos serviços públicos mais importantes do Estado. Os dias feriados passaram de 65, na época de César, para 135 no tempo de Marco Aurélio, e depois para 175 dias. A partir desta época pode dizer-se que a população de Roma passava a sua vida nos teatros, anfiteatros e no circo. O circo era o seu templo. No resto do tempo discutia-se os jogos do dia anterior ou os do dia seguinte. Este sistema manteve-se mesmo após o fim do Império do Ocidente, até que a destruição de Roma na sequência da reconquista da Itália, no tempo de Justiniano, despovoou a cidade (554). Foi para ganhar popularidade que Cómodo descia à arena (aliás, este facto e o nome do pai dele, são as únicas coisas verídicas no recente filme Gladiador). O mais grave dos jogos era o de promover a crueldade, a luxúria e a cobardia na populaça. Graças a este Estado Providência, a população vivia e divertia-se, com um trabalho muito moderado ou mesmo nulo. A plebe romana descuidada, apenas se interessava pelos seus prazeres e, depois de cristã, pelas controvérsias religiosas. As grandes ocorrências políticas passaram por esta populaça amorfa e inerte, como nuvens longínquas. Esta espantosa atonia da população, o amolecimento da sua vontade é o reverso deste sistema e está em completo contraste com o interesse pela coisa pública, ainda evidente no tempo de César, como se percebe pela reacção da plebe romana à arenga de Marco António nos funerais de César.
O comércio estava na mão de não romanos. Quando se refere a importância de italianos nas rotas comerciais do império, ou os 80 mil mercadores massacrados por ordem de Mitrídates, são quase sempre italianos do sul, que nos séculos anteriores haviam feito parte do mundo helenístico (Magna Grécia). O comércio estava nas mãos dos povos orientais sírios e judeus. A cidade mais activa no tempo do Império era Alexandria, que tinha como hinterland o Egipto, que era a província mais habitada do império (7 milhões de habitantes - 12% do império). Outra cidade com uma actividade económica importante era Antioquia da Síria. Roma seria apenas um Moloch consumidor e estéril.
A agricultura também não era apetecível como base de uma economia capitalista. A auto-suficiência dos grandes domínios e o facto de Roma ser abastecida pelo Estado não permitia a exploração dos latifúndios numa base capitalista. Os latifúndios foram os antecessores da propriedade feudal, nunca a base para um desenvolvimento capitalista. A rarefacção dos escravos e o facto dos libertos e colonos, sem outros meios que os seus braços, serem a nova base do trabalho agrícola, facilitou a sua passagem a servo de gleba a protecção do senhor em troca de ficar ligado permanentemente à terra.
Portanto Roma constituiu uma sociedade cuja classe superior era de uma enorme riqueza, obtida directa ou indirectamente através da espoliação de todo o mundo antigo. As riquezas produzidas durante séculos pelas civilizações da Antiguidade Oriental e Greco-helenística foram drenadas para Roma. Todavia a base sustentável da riqueza não é o capital-moeda ou os tesouros artísticos, mas sim o capital produtivo, investido em meios de produção. Essa base não existiu em Roma. O aparente fulgor do Alto Império (de Augusto a Marco Aurélio) escondia uma decadência progressiva e inelutável, pela inadequação da base económica e das instituições, que emergiu como uma catástrofe logo que a exaustão das minas e o deficit permanente das transacções com o exterior levassem ao colapso da economia monetária. Uma das razões da conquista da Dácia, por Trajano, foram as minas de ouro aí existentes.
Como escrevi anteriormente Plínio, século e meio depois de César, no tempo de Trajano, queixava-se das importações sumptuárias do Oriente (Índia, Pérsia, etc), sem contrapartida de exportações, que, segundo ele, ascenderiam a 100 milhões de sestércios por ano (cerca de100 milhões de , à cotação actual do ouro, ou 5 vezes mais em termos de paridade de poder de compra, segundo estimei) o que é de facto uma soma avultada (cerca de 5% da despesa pública anual ou 0,6% do PIB romano segundo estimativas que fiz então). Não é possível, durante dois séculos, manter esta sangria em numerário, sem contrapartidas de criação interna de riqueza. No caso de Roma, a dívida com o exterior levou ao esgotamento do numerário e à cunhagem de moeda de teor cada vez mais baixo (o antoninianus chegou a ter um teor de prata de menos de 2%! não passava de uma moeda de cobre e chumbo, com um revestimento de prata). A reforma monetária de Diocleciano tentou inverter a situação, mas foi sol de pouca dura, até porque foi acompanhada de uma estatização sufocante da actividade económica e da vida social que levou ao colapso do império, mais por implosão interna, que por acção dos bárbaros.
Neste entendimento, as sucessivas crises políticas que ocorreram a partir do fim do reinado de Marco Aurélio e até Diocleciano, com o seu cortejo de guerras civis, invasões bárbaras, epidemias, confiscações, etc., levaram a uma calamitosa decadência económica, com a desaparição do numerário, aniquilamento do comércio e regresso à economia natural. Roma havia atingido uma condição económica que tornava quaisquer leis impotentes e ineficazes, O Império Romano nos séculos III e IV não conseguia sustentar os seus habitantes, manter a sua administração e pagar às suas tropas. A base económica da Idade Média havia começado.
Portanto, a economia romana não foi uma economia capitalista, mas o grau de monetarização que atingiu e a grande extensão atingida pelo comércio que a globalização romana permitiu, criaram formas contratuais capitalistas. Percebe-se isso nas doutrinas desenvolvidas pelos juristas romanos sobre a regulamentação das relações económicas. Eles construíram uma ordem jurídica da propriedade privada, cujos direitos não tinham coacções extra-económicas, e levaram a liberdade contratual a um ponto que, em muitos aspectos, se mostra perfeitamente apropriada às condições do capitalismo moderno. Os traços basilares do Direito Romano reflectem a característica predominantemente individualista da estrutura económica romana. Esse individualismo sem limites considera lícito o próprio jus abutendi (Direito de abusar; isto é, direito de dispor da propriedade sem qualquer restrição), contrário, por exemplo, aos princípios éticos de Aristóteles.
Provavelmente por isso, Aristóteles foi a base do pensamento económico medieval cristão e do pecado do lucro, enquanto o Direito romano foi a base jurídica onde se ergueu o capitalismo.
Ler igualmente:
Os Idos de Março de 44AC 6
Os Idos de Março de 44AC 5
Os Idos de Março de 44AC 4
Os Idos de Março de 44AC 3
Os Idos de Março de 44AC 2
Os Idos de Março de 44AC 1
E como complemento sobre o mesmo período:
Orçamento de Estado para 14 AD
O Mercado de Trabalho
Publicado por Joana às 09:36 PM | Comentários (3) | TrackBack
Os Idos de Março de 44AC 3
Caio Júlio César
César nasceu em Roma no ano 100 AC (ou 102AC) de uma família aristocrata pobre, que fazia remontar as suas origens a Anco Márcio e a Vénus, mas que mas que nunca se ilustrara por qualquer outra coisa mais tangível. Embora de origem nobre, pertencia no entanto ao partido democrático por ser sobrinho de Mário. Foi notável a quantidade de mulheres que teve, entre esposas e amantes. Mas também o inverso ... Curião, num discurso, chamou-lhe o «marido de todas as mulheres e a mulher de todos os maridos».
Esta declaração tem a ver com César, moço de 17 anos, se ter tornado o favorito de Nicomedes, rei da Bitínia, que tinha um fraco por efebos. Segundo Suitas, no dia do seu triunfo das Gálias, os soldados cantavam: «Gallias Caesar subegit, Nicomedes Caesarem...». Cícero, a propósito da defesa que César fez de Nisa, filha de Nicomedes disse: «Passemos sobre tudo isto... Sabemos o que ele te deu e o que de ti recebeu» e sem menoscabo de Cícero, embora do partido adverso, considerar César o primeiro orador do seu tempo.
Sila, quando instaurou a ditadura, ordenou a César que se divorciasse de Cornélia, filha de Cina, alto dirigente do Partido democrático. César que, com menos de 20 anos então, já ia na 2ª mulher, recusou-se. Foi condenado à morte e o dote de Cornélia foi confiscado. Mas Sila acabou por desistir da pena capital e mandou-o para o exílio. Esta recusa teimosa de César é estranha porque o repúdio da 1ª mulher e o casamento com Cornélia foi um acto de conveniência. Seria certamente o orgulho de César a afirmar-se. Casaria sucessivamente com Pompeia (a mulher de César, acusada de ultraje ao pudor e à religião) e com Calpúrnia. E durante o seu matrimónio com Calpúrnia, casou-se no Egipto com Cleópatra!
César só regressou a Roma depois da morte de Sila, onde exerceu diversos cargos: membro do colégio dos pontífices, tribuno militar, questor, edil e era pretor quando rebentou a conspiração de Catilina, que havia sido, anteriormente, aliado de César e Crasso. Apesar de tal poder levantar suspeitas, procurou, sem êxito, salvar da morte os chefes dos conjurados entretanto aprisionados. Foi depois nomeado propretor em Espanha, onde combateu os rebeldes, e regressou a Roma com a fama de hábil cabo de guerra e de administrador competente, e também com uma grande riqueza.
Apoiado pelo exército e pelo povo, em 60 AC, Júlio César foi nomeado cônsul juntamente com Bibulo, a quem se sobrepôs de tal forma que se dizia: Vivemos sob o consulado de Júlio e César. Era costume baptizar o ano com o nome dos dois cônsules o ano 59 ficou assim conhecido como «o de Júlio e César» Enfrentando a hostilidade do Senado, fez promulgar leis importantes para uma melhor administração das províncias e para punir a concussão. Impôs que todas as discussões que se realizassem no Senado fossem registadas e publicadas diariamente. Assim nasceu o primeiro jornal, o Acta diurna, gratuito, pois era afixado nas paredes, de maneira que todos os cidadãos pudessem lê-lo e saber aquilo que faziam e diziam os seus governantes. A invenção teve um enorme alcance, porque sancionou o mais democrático de todos os direitos a transparência da informação sobre os actos governativos.
Estreitou a aliança com Crasso e Pompeu (que embora do partido aristocrático se tinha malquistado com o Senado devido à frieza com que fora recebido, depois dos seus triunfos no Oriente, e pela recusa daquele em distribuir pelos seus soldados as terras que lhes havia sido prometidas), tomando para lugar-tenente o filho do primeiro e casando a filha com o segundo. Mas o poder requeria, além do dinheiro, poder-se dispor dos exércitos. Com tal fim, os triúnviros, a coberto de um voto dos comícios, partilharam entre si o império. César ficou com o governo da Gália, Crasso com o da Síria e Pompeu com o da Espanha (59). Os triúnviros tiveram sorte diferente. César, entre 58 e 50, após uma guerra duríssima, conquista a Gália e aproveitou os enormes tributos que aí arrecadou para sustentar a fidelidade dos seus partidários. Crasso morre numa expedição contra os Partos (53) e Pompeu foi nomeado cônsul único pelo Senado para pôr fim às perturbações sociais em Roma.
O Senado, assustado com as vitórias de César, exonerou-o do comando e nomeou Pompeu para o lugar de cônsul, entregando-lhe a defesa da República (52AC). O que é que César tinha pela frente? Pompeu? Militar «colonial» de valor, mas político sem ousadia O Senado? Uma assembleia que se dava a si própria a ilusão verbal da forca. Cícero? Um advogado. César tinha as suas legiões treinadas numa guerra duríssima e habituadas a vencer, mesmo confrontadas com adversários superiores em 5 a 10 para 1.César enviou um ultimato ao Senado, intimando-lhe a demissão de Pompeu, e como não fosse atendido passou o Rubicão (49 AC), que definia a fronteira entre a Gália Cisalpina, onde o procônsul linha o direito de ter os seus soldados, e a Itália propriamente dita, para onde a lei o proibia de os levar, e marchou sobre Roma apenas com uma legião, apesar de Pompeu dispor de sessenta mil homens. Sucedeu a César o mesmo que mais tarde a Napoleão quando regressou da Ilha de Elba: à medida que ia avançando, as tropas juntavam-se-lhe. «As cidades abrem-se diante dele e saúdam-no como um deus», escrevia Cícero contristado.
Pompeu fugiu para o Epiro, mais toda a corte de aristocratas espavoridos com César. César foi a Espanha derrotar o exército sem general, e depois foi perseguir Pompeu que, batido em Farsália, fugiu e foi assassinado pelos esbirros de Ptolomeu Auleto quando ia a desembarcar no Egipto. César, que fora em sua perseguição, instalou-se em Alexandria e, a exemplo de Alexandre, fez-se reconhecer como filho de Amon. Elevado deste modo a rei legítimo do Egipto, desposou em 48 a jovem rainha Cleópatra (que havia nascido em 69AC), que nesse momento disputava o trono a seu irmão Ptolomeu. Da união do conquistador romano e da rainha do Egipto nasceu um filho, Cesarião. Esboçava-se o plano da reunião, sob a autoridade pessoal de César, dos dois únicos grandes Estados mediterrâneos que ainda subsistiam, a monarquia egípcia e a república imperial de Roma. Voltando a Itália, passa a África, onde havia partidários de Pompeu e bate-os em Tapsos. Os filhos de Pompeu, que tinham ficado em Espanha, serão posteriormente esmagados em Munda (45AC). Em cinco anos César percorreu a costa da Narbonense (Provença), a Hispânia, a Grécia, o Egipto, onde Cleópatra o conduziu até «às cataratas do Nilo», a África ... a todo o mundo romano
César voltou a Roma mas recusou-se a receber honras pelas suas vitórias na guerra civil. Os poderes de ditador, que lhe haviam sido dados em 48, foram-lhe prolongados por dez anos depois de Tapsos, e por toda a vida depois de Munda. Foi feito cônsul, censor, grande pontífice e declarado inviolável. Teve honras quase reais, estátuas, templos e altares. Depois proclamou uma amnistia e restabeleceu as estátuas de Sila e Pompeu. A sua obra governativa foi então imensa e de alcance extraordinário. Acalmou a plebe urbana distribuindo-lhe víveres e dinheiro. Depois, tratou do problema das dívidas, cujo montante se avolumara em consequência da guerra civil e das dificuldades económicas. Por meio de medidas de compromisso diminuiu os juros dos empréstimos na proporção de um quarto do capital emprestado, deu um prazo maior para os reembolsos e submeteu os julgamentos dos casos em litigância à autoridade do pretor urbano. Quando a agitação recomeça em resultado da má fé de devedores e credores, promulga várias leis fiscais: uma concede uma moratória de um ano aos locatários endividados, a outra convida os devedores insolventes em numerário a pagar em géneros com dedução dos pagamentos já feitos e fixação das avaliações na taxa anterior à guerra civil. Tenta aumentar a liquidez na economia, reduzindo a 60 mil sestércios o total das somas que cada qual podia conservar (já deveria ter lido algo sobre a Lei de Gresham ...). Faz votar uma lei para obrigar os capitalistas a investirem na própria Itália uma parte do seu dinheiro e a proporcionarem os seus empréstimos ao valor venal do seu domínio, diminuindo a especulação. Faz verificar as listas dos beneficiários da anona e reduz o seu número de 320.000 a 150.000. Diminui desta maneira as despesas anuais do Tesouro de 9 milhões de denários (36 milhões de euros à cotação actual do ouro). Reformou o calendário com o auxilio do matemático alexandrino Sosigenes. O novo calendário juliano apareceu a 1 de Janeiro de 45 AC, passando desde então o dia 1 de Janeiro a ser oficialmente o primeiro do ano (o calendário juliano manteve-se até aos nossos dias, com pequenos ajustes, e é actualmente utilizado em quase todo o mundo), reorganizou os municípios romanos, deu direito de cidade às populações fiéis da Gália, moralizou a acção de governadores e publicanos, reduziu o Senado a um corpo puramente consultivo, depois de lhe ter elevado o número de membros de seiscentos para novecentos, com a admissão de novos elementos, uma parte dos quais escolhidos entre a burguesia de Roma, outra parte entre a da província e outra entre os seus velhos oficiais celtas, muitos dos quais eram filhos de escravos, deu trabalho aos pobres e reconstituiu (ou deu início à reconstituição) as classes média e rural, restringiu a liberdade do divórcio e protegeu as famílias numerosas.
As reformas que César realizou em tão pouco tempo foram bem sucedidas em virtude do seu realismo e do seu oportunismo, e teve tudo o que faltou aos seus antecessores: os exércitos que faltaram aos Gracos, a calma que faltara a Cipião, a diplomacia que faltara a Mário, a clemência que faltara a Sila, a decisão que faltara a Pompeio. Tendo começado a sua carreira no partido democrático, este patrício soube conquistar o povo; apoiando-se sobre os nobres, soube restringir os seus privilégios; não tinha programa organizado, pelo menos na aparência, e fez reformas.
Em fins de 45 decidiu uma expedição contra os partos, a iniciar-se na primavera de 44, e cuja duração fora calculada em três anos. O regresso vitorioso de César da guerra contra os partos era evidente que havia de fundar e consolidar o regime monárquico. Uma eventual conquista da Mesopotâmia e da antiga Média abriria a Roma as rotas de seda, facilitaria o comércio com a Índia e tornaria Alexandria, já então a cidade mais industriosa do mundo mediterrâneo, como o centro económico do mundo antigo e do Estado Romano. César, regressado a Roma, continuava a coabitar com a sua esposa romana, Calpúrnia, embora Cleópatra, a esposa egípcia, que César mandara entretanto vir do Egipto, estivesse igualmente instalada na cidade, numa villa de César, com o seu herdeiro, Cesarião (o Cesarinho).
Tornava-se evidente que César pretendia reformar as velhas estruturas da Cidade-Estado, administrando contra-natura um império, transformando-as numa monarquia constituída por uma federação de Estados e províncias, assente na força e tradição militares de Roma e das regiões mais romanizadas Itália, Gália Cisalpina e nos centros comerciais e industriais do Oriente Alexandria e Antioquia. E Cleópatra, uma mulher dotada de uma grande capacidade política e de atributos físicos que soube usar com mestria insuperável ao serviço dos seus projectos políticos, era uma peça indispensável nesse projecto.
O Oriente inteiro estava preparado para aceitar a criação de uma dinastia juliana (César pertencia à gens Julia). Mas faltava convencer os Romanos. Mandara erigir a si próprio um santuário sob o nome de Júpiter Julius, e erguer estátuas suas nos templos, ao mesmo tempo que dedicava a Cleópatra, rainha e deusa, um templo de Vénus Genitrix (Vénus Genitrix é Vénus considerada como deusa mãe). Espalhando ele próprio a lenda da sua origem divina, instituiu um clero especial para celebrar o culto de «César deus vivo».
Não é possível saber em que medida Cleópatra influenciou César nos seus projectos. Haviam feito um cruzeiro de 2 meses pelo Nilo e, segundo Suetónio, teriam ido até à Etiópia se as legiões que acompanhavam César tivessem estado de acordo. Certamente que o tempo não foi unicamente ocupado na concepção de Cesarião. Projectos terão sido discutidos e traçados. Cleópatra era odiada pela aristocracia romana que via nela a base do projecto monárquico de César, do projecto oriental de ambos, do fim de Roma como o Moloch que sugava a seiva vital das províncias, transformada numa Roma apenas primus inter pares, apenas a metrópole política de um Império.
As preocupações de César acerca de criar uma base económica sustentável para Roma mostra que, para ele, Roma deveria manter-se a capital e fazer jus a essa situação pela sua própria actividade e não apenas pelo saque das províncias. O ocidente, mais romanizado, era indispensável como base demográfica para recrutamento das legiões e as reformas de César no sentido da reconstituição de uma classe média e do saneamento económico, mostram que a prosperidade de Roma era uma peça essencial no seu plano. Se sonhou reconstituir o império de Alexandre, não foi para o dar ao Oriente, às suas pompas, aos seus títulos, nem a uma das suas cidades uma proeminência sobre Roma, capital da Itália, do Ocidente e dos seus triunfos pessoais. Romano é, Romano fica. Unicamente.
Estes planos estavam muito para além do republicanismo aristocrático e estreito dos romanos aferrados à ideia de Roma, Cidade-Estado, dominadora das províncias. Na primavera de 44, os diversos elementos descontentes tramaram uma conspiração contra a vida de César. Entre os conjurados, em numero de sessenta, contavam-se Decimo Bruto e Caio Trebonio, antigos partidários de César, mas o principal era Cassio, que, depois da morte de Crasso, salvara a Síria e, após a batalha de Farsalia, fora perdoado por César e se aliara a este. Outro conjurado era Marco Junio Bruto, pretor da cidade, filho dum outro Bruto e de Servília, irmã do severo Catão e amante durante muitos anos de César. Há autores que encaram mesmo a possibilidade de Bruto ser filho natural de César, o que não parece provável pela diferença de idades. Bruto era um doutrinário, orgulhoso e sombrio, que César amnistiara em Farsália, e nomeara em 46 para o governo da Cisalpina e para a pretura urbana algumas semanas antes, no primeiro de Janeiro de 44. Mais ainda do que o ideal republicano (que ele não separava do direito que os senatoriais teriam de explorar o mundo em seu próprio proveito), Bruto representava a oligarquia romana. Não fora ele próprio quem arruinara a cidade de Salamina de Chipre, com os seus empréstimos usurários? Não fora ele (e os seus agentes) um voraz usurário na Capadócia, depredando essa província? Normalmente quem teoriza sobre virtudes, não está muito seguro de as praticar.
Nas Lupercais de 15 de Fevereiro de 44, César, no fausto da cerimónia, revestido da púrpura ditatorial, sentado numa cadeira de ouro, em face da multidão entusiasmada, afasta por três vezes o diadema que lhe querem pôr sobre a cabeça. Mas não foi convincente. Sente que a sorte está lançada: Roma vigia-o na pessoa dos partidários de Pompeu, indultados e ingratos, na dos cesaristas que César assusta, na dos pacifistas que a guerra apavora, na dos patriotas que receiam a influência de um orientalismo invasor.
Um mês depois, o plano dos conspiradores foi coroado pelo êxito mais completo; os conjurados escolheram a ultima sessão do senado, a que César devia assistir, antes de partir para a Ásia, a 15 de março de 44, para com segurança poderem ferir a sua vitima. Efectivamente, nesse dia, numa sala do teatro de Pompeu, conseguiram envolvê-lo e apunhalá-lo. Crivado com vinte e três golpes, César caiu sem vida ao pé da estátua do seu antigo rival que, sina do destino, fora ele próprio que ordenara que a restabelecessem ali.
Ler igualmente:
Os Idos de Março de 44AC 6
Os Idos de Março de 44AC 5
Os Idos de Março de 44AC 4
Os Idos de Março de 44AC 3
Os Idos de Março de 44AC 2
Os Idos de Março de 44AC 1
E como complemento sobre o mesmo período:
Orçamento de Estado para 14 AD
O Mercado de Trabalho
Publicado por Joana às 09:22 PM | Comentários (2) | TrackBack
Os Idos de Março de 44AC 1
Antecedentes Políticos e Sociais
Há episódios da História do Mundo onde os destinos do mundo se jogaram de forma dramática. Nunca saberemos qual teria sido a evolução se eles não se tivessem dado. Tudo o que podemos calcular é que teriam sido seguramente diferentes. A derrota dos persas às mãos dos atenienses; a morte prematura de Alexandre Magno; o assassinato de César nos idos (15) de Março de 44 AC, são exemplos. Nunca saberemos como teria evoluído o mundo romano se César tivesse levado a cabo as reformas que havia encetado e que, tudo o indica, estavam nas suas intenções.
O Estado romano não era, de raiz, um verdadeiro Estado territorial. As suas instituições e as suas magistraturas estavam adaptadas ao governo da Cidade Antiga e não de um grande Império. Os seus órgãos governativos tinham funcionado exemplarmente enquanto Roma se circunscreveu à cidade ou ao Latium. Foi a essas instituições, ao sentido do serviço público, às virtudes cívicas e à coesão social que elas desenvolveram que Roma deveu a sua expansão e a sua invencibilidade. A vitória de Roma sobre Cartago não é exemplo de um facto fortuito, pois Roma nunca poderia ter perdido aquela guerra. Basta ver como tanta coisa lhe correu mal nas duas primeiras guerras, os revezes da fortuna que teve, o ter tido pela frente um dos maiores cabos de guerra de todos os tempos, e como conseguiu sempre ultrapassar essas contrariedades e vencer. A sua obstinação e persistência eram uma das facetas mais poderosas das virtudes públicas e patrióticas resultantes do exercício das suas instituições.
Todavia, assim que ultrapassou o estádio da conquista e da exploração hipócrita ou brutal dos vencidos, Roma não soube verdadeiramente que atitude tomar face às suas conquistas. Era essa a contradição em que a República Romana vivia no século I AC. A cidade era um molde demasiado estreito para aí refundir o mundo. A partir do fim da 2ª guerra púnica, os governadores e os publicanos submeteram as províncias e inclusivamente os países «protegidos» a uma exploração desenfreada. Fazendo frutificar no próprio lugar os imensos rendimentos que tiravam da arrematação dos impostos, as sociedades de publicanos não tardaram a monopolizar a actividade creditícia em todas as províncias. As cidades gregas, arruinadas pelas requisições, não tiveram outra alternativa, para fazer face aos seus encargos, senão recorrer aos empréstimos dos banqueiros romanos, ficando assim à sua mercê. Governadores e publicanos operavam aliás com toda a liberdade; com efeito, os seus abusos não podiam deixar de ficar impunes, apesar de uma lei que, em 149, criara, para os julgar, uma comissão de senadores, pois que estes eram ao mesmo tempo juízes e réus.
A tutela da finança romana alargou-se ao decrépito Reino dos Selêucidas, na altura reduzido a pouco mais que a actual Síria, que para pagar a Roma o tributo anual, se viu obrigado a contrair empréstimos aos próprios banqueiros romanos e ao Egipto dos Ptolomeus, que vieram igualmente procurar em Roma uma ruinosa protecção.
Estas exacções provocaram diversas revoltas. As classes populares de Corinto, o principal centro industrial da Grécia de então, tomou o poder na cidade e na Liga Aqueia, até então dominada pelo partido dos grandes proprietários, e arrastou-a para a revolta contra a tutela romana e para o caminho das reformas radicais: abolição das dívidas, libertação dos escravos, lançamento de impostos maciços sobre as classes ricas. Roma interveio. Os seus exércitos esmagaram as forças aqueias, e o senado, para aterrorizar os revolucionários, ordenou que se arrasasse Corinto (146AC), significativamente o mesmo ano em que Cartago era tomada e arrasada.
A situação social na cidade eterna era periclitante. Até então Roma fora governada pela nobreza apoiada pelos cavaleiros. Ambos eram contra as distribuições de terras que a plebe rural reclamava. A classe média havia sido destruída durante as convulsões financeiras decorrentes das conquistas. O afluxo de metais preciosos e de escravos a bom preço havia arruinado a pequena propriedade, a base social de Roma e da sua grandeza. Recusando-se a fazer os sacrifícios indispensáveis para a reconstituição de uma classe média de pequenos proprietários, a nobreza achara melhor garantir-se os votos do partido popular nos comícios, constituindo uma clientela comprada pelas esmolas e pela corrupção eleitoral. Mas as reformas provinciais que tinham em vista limitar os lucros ilícitos dos publicanos levantaram a alta finança contra o senado. A coligação dos poderosos desfez-se, e os cavaleiros voltaram-se para o proletariado, para graças a ele obterem a maioria nos comícios. Para conservar a liberdade de explorar as províncias, os financeiros davam à plebe, como moeda de troca, as grandes propriedades da nobreza.
Esta aliança «da esquerda» não era consequente, porque havia clivagens nela. Não se pode ser «democrata» intra-muros e agiota e gatuno fora de muros. A revolta de escravos que estalou na Sicília em 135, e que só pôde ser dominada ao fim de três anos de luta, e, na mesma altura, a revolta de Aristónico, filho bastardo de Átalo III, Rei de Pérgamo (que havia legado, por morte, os seus Estados a Roma), que, para tentar conquistar o poder em Pérgamo e na Ásia Menor, chamou às armas o povo e os escravos, e punha em prática as reformas sociais preconizadas em toda a Grécia pelo partido revolucionário, abolindo as dívidas, libertando os escravos e concedendo o direito de cidade tanto a estrangeiros como aos libertos, incitou os extremistas do partido popular em Roma que chegou a preconizar a constituição de uma frente revolucionária, em que participariam o proletariado e os escravos. Era óbvio que a classe equestre nunca aceitaria semelhante política. O extremismo do partido popular retirou-lhe a base social de apoio e facilitou que se gorassem as tentativas de reformas de Tibério e Caio Graco e que estes fossem impunemente assassinados.
Esta aliança acabou por ocorrer, cerca de duas décadas depois, em 108AC, e por razões paradoxais. A classe financeira era partidária da guerra contra Jugurta, rei da Numídia, para vingar a morte de alguns mercadores romanos (e de passagem, adquirir mais uma província). O senado queria a paz. Mas a classe equestre convenceu a plebe que a vitória das armas romanas poderia proporcionar a distribuição de terras em África, e a guerra foi levada por diante.
Foi a coligação da finança com o partido democrático que fez perder ao senado, pouco entusiasmado com a guerra, a sua posição dominante nos comícios e levaram à ascensão de Mário ao consulado e ao comando militar. Coube a Mário, paradoxalmente o chefe do partido democrático, a criação de um exército profissional. Doravante, as legiões não seriam já a nação em pé de guerra, mas um exército profissional, ávido de saque e a soldo dos seus generais. Ou seja a aliança «da esquerda» chefiada por um líder do partido democrático teve como objecto a guerra, conduziu à profissionalização do exército e criou em Roma o hábito sanguinário, até então inexistente, de cada facção, logo que chegada ao poder, massacrar os adeptos da facção oposta.
Para vencer a oposição senatorial, Mário, depois de campanhas militares vitoriosas contra os Númidas, os Címbrios e os Teutões, e sendo nomeado cônsul pela sexta vez, fez com que os comícios, para constrangerem o Senado a ceder, votassem uma lei De majestate, que permitia dar-se a morte a todos os cidadãos culpados de crime contra a majestade do povo romano. Era entregar a Mário e ao partido democrático, de quem era o ídolo, a vida e os bens de todos os cidadãos. Seguiram-se horríveis carnificinas. Desencadeou-se a guerra civil entre o senado e o partido democrático, guerra que degenerou numa revolução dos proletários romanos. Aterrorizados, os cavaleiros aproximaram-se da nobreza. A revolta foi abafada, e à coligação dos partidos da esquerda sucedeu um governo da direita. Todavia a semente da guerra civil e da apetência pelos massacres dos opositores ficou latente na sociedade romana.
A guerra contra Mitrídates, para a qual Roma havia sido empurrada pelas provocações montadas pelos publicanos contra o Rei do Ponto, criou mais uma crise social gravíssima. Mitrídates, com grande habilidade política, chamou às armas os democratas de todos os países gregos e apelou ao massacre dos Italianos residentes na zona. A população grega e asiática, farta das exacções romanas, respondeu ao seu apelo massacrando 80.000 Italianos (88AC). Mitrídates instalou o seu quartel general em Atenas que, como toda a Grécia, o recebeu de braços abertos. A guerra que Mitrídates conduzia tomou o aspecto de cruzada democrática, libertando os escravos, abolindo as dívidas e dando o direito de cidade aos metecos e aos estrangeiros.
A revolta dos países da Grécia e da Ásia Menor, onde a finança romana investira tanto, provocou em Roma uma crise financeira, dentro em breve seguida por uma crise fiscal. Além disso, a perturbação que os piratas, aliados de Mitrídates, causavam à navegação, e a guerra na Itália, sublevada em virtude de não lhe haver sido concedido o direito de cidade, como tantas vezes fora prometido, provocaram a escassez e a fome em Roma com os consequentes movimentos populares. Para conseguir recursos, o senado secularizou os bens dos templos e desvalorizou a moeda em 50% do seu valor. Mas o resultado desta medida foi o pânico na bolsa que tornou ainda mais precária a situação financeira. A braços com as mais graves dificuldades, devidas ao ódio que suscitara por todos os lados, Roma mandou Mário contra os Italianos revoltados, e Sila, chefe do partido aristocrático, contra Mitrídates. Os Italianos foram vencidos, embora Roma lhes tivesse de seguida concedido a cidadania romana.
Mário, regressado vitorioso da sua campanha, pôs-se novamente à frente do partido democrático e entrou com o seu exército em Roma, onde organizou as proscrições e o massacre dos aristocratas. A sua morte (86AC) evitou o prolongamento desse massacre. Entretanto, Sila, vencedor de Mitrídates, impunha aos Estados deste o enorme tributo de guerra de 20.000 talentos (cerca de 750 milhões de euros à cotação do ouro, ou 5 a 6 vezes mais em termos de paridade de poder de compra). Senhor destes recursos, Sila regressou a Roma, apoderou-se do poder e reeditou as proscrições de Mário em escala porventura maior. Um jovem proscrito teve a vida poupada mercê da coragem então demonstrada (82AC), que Sila soube apreciar: Júlio César.
Sila estabilizou provisoriamente a situação, mas após a sua renúncia (79AC) sucedeu a revolta dos escravos de Spartacus (75-71), a tentativa de desforra de Mitrídates, apoiado na Grécia pelo partido revolucionário, e no mar pelos piratas. A anarquia regressou. Roma, bloqueada pelos piratas, passava fome e a gravidade da situação social fazia com que os capitais emigrassem. O partido da finança entrou novamente numa coligação com o partido democrático. O senado, cujo poder Sila havia restaurado, foi novamente vencido. E os comícios levavam ao consulado aqueles que, pela demagogia, conseguiam obter o favor das massas. Crasso, o mais típico representante da finança das negociatas, e Pompeu, que fazia a sua entrada na política, foram eleitos cônsules em 70.
Em 67, os cavaleiros conseguiram decidir os comícios a confiar a Pompeu o comando supremo do Mediterrâneo. A unidade de comando deu imediatamente os seus frutos. Pompeu bateu Mitrídates definitivamente, liquidou com o reino selêucida e fez dele a província da Síria (64), e destruiu as frotas dos piratas. Ao mesmo tempo, Cícero, cônsul em 63, decretando em Roma o embargo ao ouro, detinha o êxodo dos capitais provocado pelo temor da revolução social. Graças às suas vitórias e conquistas, Pompeu elevara os rendimentos da república de 8.000 para 14.000 talentos.
Roma parecia momentaneamente salva. Mas os tributos exigidos às províncias dominadas eram de tal modo pesados que estas só podiam pagá-los pedindo empréstimos, a juro muito elevado, aos próprios banqueiros romanos. Graças a este subterfúgio, as prestações puderam ser pagas durante alguns anos, mas não tardaria a resultar daí uma formidável quebra financeira, que iria contribuir para lançar a república numa crise que lhe seria fatal.
Roma tinha chegado a uma encruzilhada. As instituições da Cidade Antiga eram completamente inadequadas à governação de um Estado territorialmente extenso. E Roma, a cidade, uma democracia mais alargada que a maioria das democracias europeias do século XIX. Os seus principais magistrados cônsules, pretores e censores eram eleitos pelos comícios centuriais que incluíam todos os cidadãos. Era uma democracia censitária na medida em que o voto era por centúrias (havia 193) distribuídas por 5 classes, de acordo com a riqueza, e as classes mais ricas ou aristocratas tinham mais centúrias (os não possidentes estavam todos numa única centúria). Era uma espécie de votação ponderada pela riqueza.
Não era possível continuar como até então, com um governo democrático intra-muros e saqueando as conquistas fora de portas. Nem era possível manter permanentemente as conquistas a serem conquistadas, nem era possível conciliar intra-muros a democracia com o saque exterior. A perversão das espoliações e exacções nas províncias perverteria, como perverteu, o funcionamento da democracia intra-muros, tornando-a numa caricatura. Algo teria que mudar, nem que fosse para que continuasse tudo na mesma. Foi aliás esta a hipótese que acabou por vingar com a ascensão ao poder de Augusto. A reforma de Augusto permitiu um fôlego de 2 séculos, até ao reinado de Marco Aurélio.
O assassínio de César impediu que se soubesse o que poderia ter acontecido se a mudança tivesse constituído uma ruptura com as instituições anteriores.
Ler igualmente:
Os Idos de Março de 44AC 6
Os Idos de Março de 44AC 5
Os Idos de Março de 44AC 4
Os Idos de Março de 44AC 3
Os Idos de Março de 44AC 2
E como complemento sobre o mesmo período:
Orçamento de Estado para 14 AD
O Mercado de Trabalho
Publicado por Joana às 08:05 PM | Comentários (33) | TrackBack
Uma Imagem de Marca
A Arrogância Francesa
Há dias a actriz britânica Rachel Weisz foi ao Daily Show, o programa do Jon Stewart. Falando sobre um filme que tinha acabado de rodar em Montréal, e questionada sobre a sua estadia, gabou imenso a ambiência daquela cidade, o seu perfume e sabor francês, mas sem a arrogância francesa. E Jon Stewart, o militante anti-Bush, portanto imparcial sobre a velha Europa, assentia com compreensivos acenos de cabeça. E Rachel Weisz repetia aquele conceito do sabor a França sem o travo francês inquirindo se Jon Stewart percebia aquilo que ela pretendia dizer e Jon Stewart acenava que compreendia. Perfeitamente consensual.
A naturalidade com que aquele diálogo se desenrolou e a espontaneidade consensual na referência à arrogância dos franceses como se tal fosse uma verdade solidamente instalada e universalmente (fora do hexágono) aceite, deu-me que pensar. Como se sentiria um francês ao ver aquela gente a falar da arrogância dele, com a tranquilidade e a naturalidade das teorias consistentes, incontestáveis e universais?
A propósito disso vou contar uma história passada comigo, que é paradigmática. Certamente muitas situações semelhantes ajudaram a criar aquela imagem de marca. Em fins da década de 80 os meus pais foram fazer turismo a Paris connosco. Estivemos lá 3 semanas. Ficámos instalados num hotel de nível médio (éramos 6!), mas central, a 100m da Sorbonne, à beira do BoulMich e de St-Germain, no coração de Paris. O sítio era óptimo.
Fizemos o check-in e dirigimo-nos para os elevadores, que divisávamos, lá ao fundo. Chegados ao piso, andámos para trás e para diante, à procura dos quartos, mas não demos com eles. Como eram 4 quartos (éramos 3 raparigas de 19,12 e 10 anos e um rapaz de 14 anos), se não os conseguíamos encontrar era porque obviamente não existiam ali. Eram demasiados quartos para passarem desapercebidos por muito despassarados ou ignaros que fôssemos.
Regressámos à recepção e, à medida que nos aproximávamos, o sorriso do empregado alargava-se escarninho. Quando chegámos junto dele disse-nos divertido, com aquela divina sobranceria com que os parisienses mostram a sua superioridade face aos estrangeiros: Eu apontei naquela direcção mas não me referia aos elevadores do fundo ... a meio, à esquerda há um recanto, onde está outra coluna de elevadores. É aí!
Aquele empregado tinha-nos visto a caminhar para os outros elevadores, a esperar pela sua chegada, a arrumar a miudagem e as bagagens no elevador, tudo durante uns bons minutos, en rigolant. Não havia qualquer barreira da língua, pois os meus pais falam francês fluentemente e eu própria já o falava então bastante bem talvez demasiado literário para o argot do empregado; tínhamos alugado 4 quartos por 3 semanas e não um single por uma noite; ele tinha um ar bastante mais mediterrânico que nós; etc.. Todavia ele tinha algo de que nós estávamos absolutamente carenciados: era francês ... ou pelo menos parisiense (de adopção, certamente).
No elevador, o meu pai comentou filosoficamente: adoro os franceses ... Rousseau, Stendhal, Victor Hugo, Flaubert, Proust infelizmente, os franceses que adoro estão todos mortos. Os vivos são insuportáveis!
Não me lembro de alguma vez ter ido a França e não acontecer algo que me faça lembrar esta frase paterna.
Publicado por Joana às 07:16 PM | Comentários (52) | TrackBack
março 15, 2005
Neoliberalismo e Intelectuais
Como já tive aqui ocasião de observar, o nosso modelo do Estado Providência perverteu toda a sociedade muito para além da simples esfera económica e social. Por exemplo, a principal razão por não haver em Portugal nem Teatro nem Cinema dignos desse nome, é porque estes apenas vivem da dependência dos subsídios. Isso fez com que não tivessem necessidade de obter o favor e a adesão do público. Aliás, desprezam-no. Os agentes culturais portugueses só produzem para os amigos verem, só sabem viver na subsídio-dependência e temem qualquer êxito comercial, que os pode deixar, em definitivo, liquidados culturalmente junto dos seus pares.
Foi um processo rápido. Inicialmente, bastava-lhes obterem os subsídios. Agora, estes tornaram-se a própria razão da sua existência. Já não podem viver sem eles, pois que o público, ignaro e desprezível, os desconhece. A sua produção é em circuito fechado, pois o público é-lhes igualmente despiciendo. Assim, em vez de promover a cultura, o Estado Providência meteu-a num asilo, com a conivência dos asilados. Para definir o nosso regime, melhor que Estado Providência, seria a designação de Estado Asilo.
O liberalismo (ou como o alcunham, o neoliberalismo) encontra uma explicação simples para este divórcio. Os intelectuais (os agentes culturais) menosprezam a actividade empresarial porque esta oferece ao público o que este deseja, enquanto que eles pregam ao público o que ele deve e não deve desejar. O empresário opera dentro de um sistema de preferências e de juízos de valor que o intelectual pretende sempre modificar. Por isso não é estranho que o intelectual se sinta identificado com o défice financeiro da sua actividade e pretenda o subsídio estatal para a financiar.
Os intelectuais (os agentes culturais) têm assim um especial carinho pelas instituições deficitárias, pelas institutos ou entidades financiados pela Estado, pelos centros universitários que dependem de subsídios e dotações, pelos periódicos e revistas incapazes de auto-financiar-se. E isto porque sabem por experiência própria que sempre que produzem da forma como julgam que deve ser produzido, verificam que não há coincidência entre o seu esforço e o acolhimento que têm no mercado. Como os intelectuais (os agentes culturais) se auto-incumbiram da missão de evangelizar o público sobre o que é verdadeiro e certo e dado que esse mesmo público não se reconhece nessas verdades e certezas, encontram uma total e absoluta resistência ao escoamento do seu produto o que, pelo sistema de equações que modeliza este caso, levaria o preço de mercado a ser muito inferior ao seu custo marginal. Numa economia de mercado tal situação conduziria à falência imediata do produtor.
Há pois uma explicação microeconómica para este facto. Como deixou de haver relação entre o preço (que é tendencialmente nulo) e o custo marginal, no limite o Estado Providência avoca a si a procura daqueles bens, do ponto de vista da sua transacção, remetendo o seu usufruto para o público, um público reduzido, por este processo de distanciamento, aos amigos e colegas dos produtores intelectuais.
Há aqui uma violação clara das condições estruturais da concorrência, visto o Estado se comportar como um Monopsónio, que compra aqueles bens por critérios que nem ele sabe, visto o Estado ser incompetente em matéria económica e não saber, por via disso, fazer vingar o seu poder económico de monopsonista.
Ora esta situação resulta da existência do Estado Providência. Antes dele não existiam estas violações grosseiras das condições estruturais da concorrência. Rembrandt viveu das encomendas que lhe faziam. Trabalhava para o mercado. Voltaire, Delacroix, Victor Hugo, George Sand, Camilo Castelo Branco (e em Portugal!!), Charles Dickens, Verdi, Renoir (o pintor e o cineasta), Chaplin singraram em mercados concorrenciais. A riqueza acumulada por Chaplin poderia mesmo ter constituído um insulto público, se ele não se tivesse revestido com tintas de esquerda. Houve outros que tiveram mais dificuldade em controlarem custos e prazos, como Miguel Ângelo na Capela Sixtina, mas foram acidentes de percurso. Milhares de artistas produziram as obras maravilhosas que constituem hoje o nosso enlevo. E produziram-nas para o mercado com que estavam confrontados.
Veio o Estado Providência e a cultura preferiu o asilo, reformou-se ...
Publicado por Joana às 09:56 PM | Comentários (68) | TrackBack
março 14, 2005
O Espectro Neoliberal 2
A importância de Hayek foi ter-se apercebido que o Rei vai nú, numa época em que ninguém punha em causa que ele estaria soberbamente vestido, uns com o traje Keynesiano, outros pelo figurino comunista. Os excessos de Hayek são porventura datados, porquanto são uma resposta ao dogmatismo colectivista do comunismo soviético, ao totalitarismo da organização económica nazi e ao racionalismo construtivista da criação ex nihilo de sociedades perfeitas, que os Prometeus do século XX nos anunciavam que construiriam.
Hayek na sua iconoclasia face aos ícones colectivistas ou do Estado Providência, foi liminar: O salário mínimo é um absurdo que impede a mobilidade de trabalho, reduz a produtividade e o nível de vida da colectividade. O imposto progressivo perturba a afectação óptima dos recursos, pois o imposto deve ser proporcional, afim de salvaguardar a sua neutralidade. O Estado-Providência produz efeitos perversos pois a socialização da economia que o acompanha não pode, por definição, ir a par com a realização do óptimo de Pareto. A intervenção estatal, que pretenda ir além da formulação de regras gerais, não passa de um crime contra a economia, porquanto limita a prosperidade e faz da justiça social uma caricatura.
Durante as 3 gloriosas décadas, em que a Europa prosperou, beneficiando de uma conjuntura única, Hayek não passou de um iconoclasta apenas apto para prelecções académicas.
Foi preciso chegar ao fim dos anos 70, quando o estatismo ultrapassou os limites do razoável e as economias ocidentais entraram em desaceleração, para se começar a escutar Hayek e a reverenciá-lo. A Grã-Bretanha, depois das receitas trabalhistas do após guerra, foi o laboratório onde se verificou, na prática, como se poderia estagnar uma economia a partir de uma alta intervenção do Estado e dos sindicatos. A Grã-Bretanha tinha perdido terreno considerável face ao continente europeu. No final da década de 70, com a eleição de Margaret Thatcher, esta diminuiu drasticamente a intervenção estatal na economia, o que permitiu gerar riqueza, empregos e desenvolvimento. Ironicamente para o pensamento socialista, a economia britânica gerou uma maior justiça social, distribuindo mais riqueza sem interferência do governo, do que até então. É certo que a Grã-Bretanha nunca recuperou totalmente, mas tornou-se, apesar de tudo, numa economia mais dinâmica e saudável que as suas congéneres alemã e francesa.
Para os que o diabolizam, o neoliberalismo é a principal causa da exclusão social do mundo, aparecendo nas Bíblias colectivizantes associada à palavra globalização, sendo portanto o principal causador das mazelas sociais mundiais. Para eles, onde há neoliberalismo, não há justiça social. E, na verdade, se justiça social é igual ao paternalismo de um Estado Providência, é evidente que o neoliberalismo não é uma forma de justiça social.
Mas o que é realmente a justiça social e qual a sua relação com o neoliberalismo? Ora, justiça social, na óptica liberal, constrói-se com a liberdade. A justiça social aumenta na mesma proporção que a intervenção estatal diminui, o que permite um desenvolvimento mais eficiente das forças produtivas da sociedade. Se uma empresa paga menos impostos e menos encargos sociais com o factor trabalho poderá crescer e aumentar os seus efectivos, gerando mais riqueza que será entregue directamente a estes trabalhadores e não indirectamente, e apenas uma pequena parcela, através do governo. Se o peso do Estado diminui, a atracção pelo investimento criativo aumenta, e os níveis de emprego e prosperidade aumentam. O próprio mercado de trabalho se encarrega de regular a afectação dos recursos relativos a esse factor.
É incompreensível que aceitando todos que o preço das mercadorias é regulado pelo equilíbrio dos respectivos mercados, muitos garantam que a liberalização do mercado de trabalho seja sinónimo de exploração do trabalhador. Ao fazê-lo estão a admitir que o factor trabalho (ou parte desse factor) deva ser (ou é) remunerado acima do valor de equilíbrio. Como esse valor de equilíbrio é o que garante o funcionamento eficiente da economia, estão a pressionar para tornar a economia ineficiente, ou seja, para a levar à estagnação. Ao afirmarem lutar contra a exploração do trabalhador, estão na verdade a lutar pela estagnação ou corrosão dos rendimentos desse mesmo trabalhador.
É a liberdade económica que gerará riqueza, desenvolvimento e bem estar. A existência de diferenças é inevitável, mas, e eu aqui estou a fazer um aggiornamento do pensamento de Hayek, deve ser preservada a equidade: as desigualdades sociais e económicas devem ser organizadas de forma a trazer aos mais desfavorecidos melhores perspectivas e a serem compatíveis com o objectivo permanente da igualdade das oportunidades. Este princípio é compatível com um aumento da desigualdade. Pouco importa que o rico se torne muito mais rico se o pobre se tornar menos pobre. Não é a igualdade que é importante, mas sim a equidade. Equidade na política de educação, segurança social e saúde, administração da justiça, etc..
Para Hayek o mercado livre e a ordem espontânea é a base da prosperidade social e da democracia. Ora a economia vive com regras e com estruturas. Como compatibilizá-las com uma ordem espontânea? Nunca pelo efeito da vontade humana, mas como fruto do acaso, de um darwinismo institucional pois «as instituições são produto da acção dos homens, mas não de um seu projecto». A sociedade acaba por conservar aquelas que são as mais adaptadas.
Portanto para o liberalismo, ou o neoliberalismo, na sua designação actual, a liberdade de mercado e a democracia são inseparáveis. Um sem o outro não funciona. Uma economia liberal não funciona num regime ditatorial, mesmo que os seus líderes a tentem fazer funcionar, como se viu no Chile de Pinochet. Um regime democrático fragiliza-se e sucumbe sem um mercado livre. Marx explicou, interpretando a História, que o capitalismo e o mercado livre tinham sido as condições prévias e necessárias de todas as nossas liberdades democráticas, todavia nunca sonhou, prevendo o futuro, que essas liberdades pudessem desaparecer com a abolição do mercado livre.
Porquê então postular uma espécie de Providência omnipresente e omnisciente, a Mão Invisível, numa época já distante dos primórdios da Economia Política, onde aquela metáfora poderia ter algum impacte explicativo? Não bastaria afirmar que o mercado é o menos mau de todos os sistemas conhecidos?
Talvez, mas então que dizer dos defensores do colectivismo ou da intervenção estatal que apostrofam as forças cegas do mercado"? Se para o liberalismo, o mercado é auto-regulável (a Mão Invisível), para os que se lhe opõem, a economia de mercado sofre de contradições internas que acarretam sua destruição, exigindo, pois, a intervenção estatal para corrigir (ou abolir, no caso de Marx) as suas "falhas". Todavia quem argumenta que as forças de mercado são "cegas" está a afirmar, simultaneamente, que o planeamento estatal é omnisciente, ou, no mínimo, menos falível do que o mercado. Assim sendo, se o Estado é capaz de corrigir as falhas do mercado, deve logicamente suprimi-lo por completo. É essa a contradição dos socialistas democratas (terceira via, keynesianos, sociais-democratas, etc.) pressionados à sua esquerda, pois se o Estado é intrinsecamente superior ao mercado na organização da economia, porque não substitui-lo totalmente? É essa contradição que faz com que, normalmente, os socialistas na governação se comportem como o gestor contra-natura, constrangido pelas realidades a aplicar receitas que, geneticamente, abomina.
Portanto, a Mão Invisível e as Forças Cegas do Mercado não são duas faces da mesma moeda. São duas designações que trazem implícitas duas visões antagónicas do funcionamento da economia.
Todavia, o que as experiências colectivistas provaram foi que a intervenção do Estado no domínio económico também é "cega". Ou seja, a economia colectivista é um processo pelo qual cegos (pois que desprovidos da liberdade de escolhas na produção e no consumo) são guiados por cegos. Aliás, se o paternalismo estatal funciona bem, porque será que praticamente todos os regimes socialistas ruíram?
Publicado por Joana às 11:41 PM | Comentários (61) | TrackBack
março 13, 2005
As Fêmeas do Parque Jurássico
Mário Mesquita e Ana Sá Lopes dedicaram-se hoje, no Público, a formar um «contra-governo feminino, com o declarado objectivo provocatório, de contrapor à misógina constituição do XVII Executivo Constitucional uma alternativa imaginária, embora dotada de credibilidade suficiente».
Ora este exercício foi uma ofensa pública e indelével à mulher portuguesa, ou a qualquer mulher, em qualquer latitude ou longitude. Francamente nós não merecíamos isso! Estão lá todas. Toda a tralha guterrista do Segundo Sexo. Todas aquelas que se guindaram à política ou a instituições corporativas não pela sua competência, mas apenas por serem mulheres, foram criteriosamente escolhidas pelo guru Mesquita e pela sua ex-aluna.
À medida que aqueles nomes ... Elisa Ferreira (como primeira-ministra!!), Maria de Belém, Edite Estrela (!!!),Helena Roseta, Maria Carrilho, Ana Gomes (!!), Ana Benavente(!!), Leonor Coutinho, ... se perfilavam ante os meus olhos, eu fui-me apercebendo da diversidade e da vetustez das espécies femininas que povoam o Parque Jurássico socialista.
Apenas um último aceno de simpatia para 2 ou 3 dos nomes citados no artigo, que não mereciam terem sido capturadas pelos articulistas para figurar naquele Parque. Isto se estivessem, como calculo, entre aquelas que o guru e a sua aluna julgam que recusariam, por motivos políticos ou profissionais.
E o que é mais espantoso é o guru e a aluna escreverem que aquela equipa era «dotada de credibilidade suficiente». Eles lá sabem ... de há tanto viverem naquele Parque, saberão certamente as espécies mais credíveis que por lá habitam.
O Blasfémias comenta que se trata certamente de uma espécie de filme de terror com que os autores quiseram justificar a composição do actual Governo e a sua falta de alternativa em razão do género. É uma interpretação plausível ...
Publicado por Joana às 11:47 PM | Comentários (18) | TrackBack
O Espectro Neoliberal
Um espectro aterroriza a velha Europa. O espectro do neoliberalismo. Todas as forças políticas se aliaram, mais ou menos declaradamente, contra ele. E todos elas o diabolizam em nome de um alegado humanismo. São os humanismos perversos, como o humanismo comunista, herdeiro do estalinismo; o humanismo radical, herdeiro do maoismo; o humanismo da extrema-direita, herdeiro do fascismo; o humanismo alteromundialista, um heterogéneo herdeiro dos anteriores. São os humanismos convencionais, como o humanismo das religiões reveladas; o humanismo do centro-direita cristão e social; o humanismo socialista e social-democrata do Estado Providência, etc..
Ora o liberalismo baseia-se no princípio fundamental de que, na relação do indivíduo com o Estado, a liberdade do indivíduo é o bem supremo, que, enquanto tal, tem preponderância sobre qualquer outro. Defender o liberalismo, portanto, é defender a liberdade que lhe está na base do nome. É defender o humanismo contra o colectivismo. É esse princípio fundamental que postula que melhor Estado é aquele que tem uma menor intervenção, deixando, portanto, aos indivíduos mais liberdade. O melhor Estado, assim, é o "Estado mínimo", aquele que deixa aos indivíduos o máximo de liberdade compatível com a vida em sociedade. E sublinho, compatível com a vida em sociedade.
Foi a perversão da semântica política que tem tentado transfigurar o significado original da palavra liberalismo (que defende a liberdade e que luta contra a opressão) dando-lhe o sentido oposto conservador e reaccionário. Já alguns, que defendem ou defenderam, consciente ou inconscientemente, doutrinas que floresceram à sombra dos Gulags, profetizam mesmo futuros Gulags neoliberais!! Os que o atacam têm em comum o estarem todos, de crentes a ateus, de comunistas a conservadores, de acordo com a definição da ortodoxia católica: Sistema que, apoiado numa concepção economicista do homem, considera o lucro e as leis de mercado como parâmetros absolutos em prejuízo da dignidade e do respeito da pessoa e do povo. Igualmente, muitos dos que o diabolizam têm em comum o facto de, quando estão no poder, serem constrangidos a adoptarem receitas de índole neoliberal para aliviarem a sociedade do peso insustentável do Moloch estatal.
Liberal tem, todavia, desde a sua origem, um significado diferente e antagónico. Durante a longa luta contra o regime feudal e a ideologia das coacções extra-económicas como base do funcionamento da sociedade, o liberal era o amante da liberdade e do fim das corveias, das corporações e dos regulamentos que dificultavam ou impediam a actividade económica. Era ele que lutava contra o absolutismo real que consubstanciava o poder político que mantinha aquelas sujeições.
Os enciclopedistas franceses, o Aufklärung alemão, o iluminismo do século XVIII em geral, cresceram sob o signo do liberalismo. No campo económico, o liberalismo encontrou o seu primeiro alicerce em Bernard de Mandeville e nesse espantoso livro A Fábula das Abelhas: Ou velhacos transformados em gente honesta escrito no início do século XVIII, onde se pode ler, logo no prefácio: O que, no estado da natureza, faz o homem sociável, não é o desejo que tem de estar em companhia, nem a bondade natural, nem a piedade, . As qualidades mais vis, frequentemente as mais odiosas, são as mais necessárias para torná-lo apto a viver com o maior número. São elas que mais contribuem para a felicidade e prosperidade das sociedades. e, mais adiante: Grandes multidões pululavam atropelando-se para satisfazerem mutuamente a luxúria e a vaidade. Consequentemente cada parte estava cheia dos vícios mas, no seu todo, o conjunto era um paraíso.
Ou, como Adam Smith, meio século depois, traduziu em termos económicos: cada indivíduo ao tentar satisfazer o seu próprio interesse promove, frequentemente, de uma maneira mais eficaz, o interesse da sociedade, do que quando realmente o pretende fazer. Ou como escreveu Hayek, em meados do século XX, afirmando que as melhores leis não são as que resultam da visão magnífica de qualquer sábio legislador, mas de um tortuoso e longo processo de ensaios e erros. Não é ao Estado que o homem deve a sua prosperidade, quando a tem, mas a si próprio, à sua liberdade, à sua capacidade de pensar e agir autónoma e individualmente, à sua persistência no fazer, não receando errar, porquanto sabe que tem capacidade de corrigir o erro. Im Anfang die Tat, como escreveu Goethe. Ao Princípio era a Acção.
O que a Santa Aliança (tal como a enumerei no primeiro parágrafo) teme é o facto de ser impossível lutar contra o liberalismo (ou o neoliberalismo). O liberalismo não é uma partido político, é uma ideia, ou um sistema coerente de ideias. Partidos e facções derrotam-se em eleições, em revoluções ou em contra-revoluções. A ideia da liberdade humana e do primado do homem sobre o Estado é inerente à sua natureza e reaparece sempre. Fecha-se-lhe a porta e ela entra pela janela; fecha-se-lhe a janela e ela entra por qualquer frincha. Só há uma maneira de a liquidar: calafetar a sociedade e o pensamento social, mas isso só é possível asfixiando e liquidando a espécie humana. Muitos o tentaram; a Inquisição, que pretendeu a pureza dos cristãos; o Fascismo, que pretendeu a pureza da raça; o Comunismo, que pretendeu criar o homem novo. Mataram dezenas de milhões de seres humanos em nome do seu humanismo perverso, mas perderam.
Aliás, desde sempre, as ideias liberais têm sido utilizadas para curar os desastres provocados pelas experiências colectivistas. Mas quando o paciente apresenta sintomas de melhoras, regressa a vertigem do Moloch estatal, suportado pela sede de sinecuras dos aparelhos partidários e pela crença ilusória que esse dispendioso e insaciável monstro traz segurança. Vem desde as suas origens ... foi o liberalismo que desencadeou a Revolução Francesa e lhe deu a base teórica, mas foi o Terror e a visão estatizante dos jacobinos que liquidaram a revolução e a entregaram ao cesarismo.
O liberalismo não é um dogma nem uma religião. A doutrina liberal alimenta-se, em cada instante, da realidade em que se move e não, como qualquer doutrina política e/ou religiosa, tentando forçar a realidade para a enquadrar no seu dogma. Assim sendo, o liberalismo falha como partido. Na satisfação dos seus próprios interesses, o homem, agindo livremente, conduz ao óptimo social. Mas como enquadrar esses interesses decorrentes do individualismo humano numa estrutura partidária? Ora há que sublinhar que nem só de economia vive o homem. Há os valores da colectividade humana: a cultura, a solidariedade e a coesão social, a religião, a identidade nacional. Neste entendimento, se a economia de mercado é o melhor sistema para desenvolver a riqueza material de uma sociedade, há outros mecanismos que devem ser adicionalmente implementados, embora de forma a não viciar a eficiência económica e a não se comprometer a prosperidade social, para criarem o consenso social necessário. O óptimo social pode não coincidir com o óptimo económico. O conceito de Óptimo de Pareto deve assim ser alargado para conter variáveis, não quantificáveis, que contemplem o equilíbrio e o consenso social. Ora essa compatibilização para passar do Óptimo de Pareto, visto unicamente na vertente económica, a um Óptimo de Pareto Económico e Social, permite uma diversidade de opiniões, dentro da coerência do seu ideário, que são fecundas no funcionamento do sistema democrático e no exercício da cidadania, mas que podem ser um obstáculo para constituir um partido político que aspire à governação. O liberalismo é um sistema coerente de ideias, mas um partido requer um receituário operacional para a conquista e manutenção do poder ao qual o liberalismo é avesso.
O fundamento do liberalismo são a propriedade privada, o primado do indivíduo sobre o Estado, a prevalência da lei e do Direito, uma justiça independente e eficiente, e uma democracia aberta que permita a transparência das instituições e o exercício do espírito crítico. Apenas isso. Por isso mesmo, desde a socialismo e social-democracia até à direita conservadora, todos declaram abominar o neoliberalismo, e todos aplicam as suas receitas, quando tudo o resto falha.
Nota - Sobre este tema ler ainda:
Neoliberalismo e Intelectuais
O Espectro Neoliberal
Duas Mãos Invisíveis
Publicado por Joana às 10:38 PM | Comentários (41) | TrackBack
março 10, 2005
Aron e Sartre
Faz em 2005 cem anos que nasceram Raymond Aron e Jean-Paul Sartre. Têm muito em comum. Nasceram ambos em 1905; foram condiscípulos na Escola Normal Superior da Rua de Ulm; estiveram, até às suas mortes (Sartre em 1980 e Aron em 1983), empenhados em todas as grandes lutas e eventos do século. Apenas houve duas pequenas diferenças entre ambos: 1) Em cada evento, Sartre esteve, quase sempre, do lado certo, de acordo com o pensamento politicamente correcto da época; Aron esteve, quase sempre, do lado errado, de acordo com esse mesmo pensamento politicamente correcto; 2) Em cada evento, Sartre esteve, quase sempre, do lado errado, de acordo com o posterior julgamento da história; Aron esteve, sempre, do lado certo, de acordo com esse mesmo julgamento.
Sartre foi sempre o ídolo do pensamento politicamente correcto, mesmo quando se verificava, poucos anos depois, que tinha apoiado um erro o pensamento politicamente correcto não tem memória. Aron foi sempre diabolizado pelo pensamento politicamente correcto as injustiças da História (ou seja, os factos que tramaram o pensamento politicamente correcto) são imperdoáveis para aqueles que tomam as suas ideias como valores absolutos.
Aron pressentiu o que adviria com a ascensão do nazismo. Para ele, o dizer não a Hitler deveria ter ocorrido em Março de 1936 (ocupação militar da Renânia) e não após Munique. O espírito de Munique nascera em 1936. Pelo contrário, Sartre sempre pensou que Hitler seria um epifenómeno transitório e mesmo aquando dos acordos de Munique, não se apercebeu logo da dimensão exacta do que estava em jogo. Após a derrota, Aron foi para Londres, enquanto Sartre, saído do cativeiro, dedicou-se à escrita em Paris. Foi, segundo ele, «un écrivain qui résiste, et non un résistant qui écrit», porque resistir não pode ser uma finalidade em si. Tentaram, mais tarde, fazer dele um resistente, mas como afirmou J-C Casanova num debate recente «Si la résistance consiste à discuter dans un café, alors il y a eu beaucoup de résistants en France!».
Depois de acabada a guerra, Sartre (e os Temps Modernes, a cujo Comité Directivo, Aron também pertenceu de início) envereda pela 3ª via, nem capitalismo, nem comunismo. Mas o futuro Sartre já está prefigurado na apresentação dos Temps Modernes (lançado em Outubro de 1945): quer se queira quer não, todo o texto «possui um sentido»: «para nós o escritor não é Vestal nem Ariel ele está no momento, e não importa o que faça, está marcado e comprometido mesmo no seu retiro mais remoto» ... «Cada palavra tem repercussões. Cada silêncio também» «as palavras são pistolas carregadas». Já tive ocasião de me debruçar, aqui, sobre a perversão da filosofia do intelectual comprometido.
E pouco a pouco, Sartre deixa-se impregnar pelo fascínio do PCF, que se apresentava como o futuro da humanidade perante os crentes, como o agente decisivo da História. Vai ser o percurso de Sartre, o da tentativa (sempre frustrada, mas sempre permanente) de reconciliar o aventureiro de origem burguesa, motivado pelo seu ego a agir, e o militante revolucionário cujo ego é motivado pela acção. O PC continua, apesar de tudo, a ser a única chave no que respeita à sua vontade de romper com a burguesia e com a «civilização da solidão» que ela traz em si e na qual foi educado. A invasão da Coreia do Sul pela tropas norte-coreanas e a intervenção americana sob o patrocínio da ONU extremou os campos. A partir daí, Sartre tornou-se um compagnon de route do movimento comunista «Um anticomunista é um cão, persisto e persistirei em dizê-lo».
Aron ficou decididamente, no outro lado da barreira. Para ele, a influência de Estaline não parava no Elba. A força do imperialismo soviético dependia menos do seu potencial militar do que da sua irradiação ou da penetração da sua propaganda. A existência, na própria Europa Ocidental, de grandes partidos comunistas, como em França e na Itália, é descrita por Aron, em 1948, como sendo a de «quintas colunas». Sem dúvida, os milhões de eleitores que confiam nos partidos comunistas ocidentais nutrem-se de esperanças honrosas, mas isso não deve ocultar a realidade, a saber, que os dirigentes e os aparelhos desses partidos fazem a política da URSS no quadro nacional onde exercem as suas actividades.
Aos olhos de Aron, para frustrar os seus objectivos três condições se impunham: primeiramente, o restabelecimento dos grandes equilíbrios económicos, financeiros e monetários; logo - em segundo lugar - a restauração de um poder de Estado; e, em terceiro lugar, a luta decidida contra a ideologia comunista no próprio terreno das ideias e da propaganda.
E disso se encarregou Aron «Os revolucionários têm como que um ódio ao mundo e um desejo da catástrofe. Todos os regimes conhecidos são condenáveis face a um ideal abstracto de igualdade e liberdade. Apenas a Revolução, porque é uma aventura, ou um regime revolucionário, porque este consente no uso permanente da violência, parecem capazes de conjugar este objectivo sublime. O mito da Revolução serve de refúgio ao pensamento utópico, torna-se o intercessor misterioso, imprevisível, entre o real e o ideal. .... A própria violência atrai, fascina, mais que repele. O mito da Revolução converge com o culto fascista da violência.»
A crítica ideológica [ do intelectual de esquerda] é moralista contra uma parte do mundo e em extremo indulgente perante o movimento revolucionário. A repressão nunca é excessiva, antes pelo contrário, quando atinge a contra-revolução ou é ministrada por um movimento revolucionário. A prova da culpabilidade é sempre insatisfatória, quando ministrada pela justiça dos países ocidentais sobre «revolucionários». Quantos intelectuais aderiram aos PCs por indignação moral e acabaram subscrevendo de facto o terrorismo soviético e a razão de Estado?
Estes escritos de 1955 tornaram Aron no lacaio da burguesia, encarregado de lhe «fornecer a dose de justificações capazes de permitirem a esta ter boa consciência e enfraquecer os seus adversários». E isto não foi dito por nenhum radical, mas sim por Maurice Duverger, que de esquerda nunca teve nada. Tal era o ambiente intelectual que se vivia na época.
E quando lhe objectaram que o anticomunismo conduz ao fascismo, Aron respondeu com firmeza: «Não temos qualquer credo ou qualquer doutrina a opor à doutrina e ao credo comunistas, mas isso não nos humilha, porque as religiões seculares são sempre mistificações. Elas propõem às multidões uma interpretação do drama histórico e atribuem a uma causa única as infelicidades da humanidade. Ora, a verdade é outra, não há uma causa única ... Não há Revolução que, de um golpe, possa inaugurar uma fase nova da humanidade. A religião comunista não tem rival, ela é a última dessas religiões seculares, que acumularam as ruínas e espalharam torrentes de sangue».
Enquanto isso, Sartre apressava-se a estar do lado da causa do proletariado comunista. Em 1954, de regresso de uma viagem à Rússia onde fora passeado, louvado e empanturrado, dá entrevistas onde afirma: «A liberdade de crítica é total na URSS. O contacto é tão alargado, tão aberto, tão fácil quanto possível». E avança esta predição ousada: «Por volta de 1960, antes de 1965, se a França continuar a estagnar, o nível médio de vida na URSS será 30 a 40 por cento superior ao nosso. É bem evidente, para ela e para todos os homens, que a única relação razoável é uma relação de amizade». E Sartre conhece os factos, sabe do Gulag, mas tem uma atitude dúplice, pois embora condene existência dos campos soviéticos, alerta contra a exploração que disso faz, todos os dias, a imprensa burguesa. Todavia, 2 anos depois, o esmagamento da revolta húngara era um facto demasiado evidente e demasiado público Sartre anuncia então que quebra «as relações com os escritores soviéticos meus amigos, que não denunciaram, ou não podem denunciar, o massacre da Hungria», e descobre, finalmente, que «já passou o tempo das verdades reveladas, das palavras de evangelho: um Partido Comunista não pode viver no Ocidente se não adquirir o direito de livre exame».
Aron tinha mais uma vez acertado. Sartre precisou da brutalidade dos factos para ver, não direi claro, mas alguma ténue luz.
Foi igualmente oposta a posição deles perante o fim da IV República, incapaz de encontrar uma solução para a guerra da Argélia. Sartre preconizava uma nova Frente Popular e o combate ao gaullismo que seria a continuação da política colonial sob uma espécie de monarquia constitucional, Aron apostou no general, prevendo que ele faria uma política contrária aos militares que o tinham chamado. Mais uma vez foi Aron que acertou.
Mas Sartre encontrou outros heróis. Meses antes da crise dos mísseis, escreve «Os cubanos, é preciso repeti-lo, não são comunistas e nunca pensaram em instalar bases de foguetões russos no seu território»!! Fidel é um anjo... Fidel é «o homem para tudo e é o homem de todos os pormenores»... Fidel «é, a um tempo, a ilha, os homens, o gado, as plantas e a terra; ele é a ilha inteira»... vi Fidel no meio dos «seus» cubanos - «os cubanos tinham adormecido um após outro, mas Castro unia-os numa mesma noite branca: a noite nacional, a sua noite...»
Com a crise de Maio de 1968, Sartre abre uma nova página da sua intervenção política. Novos heróis se prefiguram diante dele: os estudantes revoltados e os grupúsculos trotskistas, maoistas e anarquistas que tentavam acaudilhar a revolta. Declara então que o PC e a CGT já não estão na corrida revolucionára: «O que está prestes a formar-se é um novo conceito de sociedade baseado na democracia plena, numa conjunção de socialismo e de liberdade»
Aron, do outro lado da barricada, declara com enorme coragem política, face ao vendaval existente, que os «estudantes franceses formulam várias reivindicações legítimas a partir de motivos de queixa autênticos. Mas uma pequena minoria entre eles, aproveitando a capitulação de muitos professores, graças à inocência política da massa estudantil e dos professores tradicionais, está prestes a conseguir levar a cabo uma operação verdadeiramente subversiva .... Dirijo-me a todos, mas em primeiro lugar aos meus colegas, de todas as correntes de opinião, aos estudantes, tanto aos dirigentes como aos manipulados. Convido todos aqueles que me lerem, e que encontrarem nos meus pontos de vista o eco das suas próprias inquietações, a escreverem-me. Talvez tenha chegado o momento, contra a conjura da lassidão e do terrorismo, de nos reagruparmos, fora de todos os sindicatos, num vasto comité de defesa e de renovação da universidade francesa.»
Nada mais distante das posições de Sartre que acusa com brutalidade o antigo condiscípulo: «Aposto que Raymond Aron nunca se pôs em causa e é por isso que ele é, na minha opinião, indigno de ser professor. Não é o único, evidentemente, mas vejo-me obrigado a falar dele porque, nestes últimos dias, ele escreveu muita coisa.» Contra Aron, Sartre defendia a eleição dos professores pelos estudantes e a participação dos estudantes nos júris dos exames. «Isso implica que deixemos de pensar, como Aron, que pensarmos sozinhos atrás das nossas secretárias - e pensarmos a mesma coisa há trinta anos - representa um exercício de inteligência». Todavia, esse exercício de inteligência tinha permitido ao pensamento político de Aron ser validado pela história, enquanto o de Sartre era apenas uma verdade absoluta enquanto durava cada contexto; depois ele próprio se encarregava de mudar de rumo.
Também aqui as posições de Aron se revelaram correctas. Foi perseguido e para receber um prémio universitário teve que o fazer clandestinamente, mas as eleições marcadas na sequência da crise foram um triunfo para De Gaulle e uma derrota clamorosa para os protagonistas do Maio de 68. Sartre, perante a recusa do PCF e dos sindicatos de encabeçarem o movimento, propôs a refundação da esquerda, «à esquerda» do PCF
E assim Sartre seguiu um percurso ligado ao radicalismo de esquerda. Em 1972 afirmava em entrevista que «continuava a favor da pena de morte por motivos políticos ... num país revolucionário em que a burguesia terá sido expulsa do poder, os burgueses que fomentassem um motim ou uma conspiração mereceriam a pena de morte ... um regime revolucionário deve desembaraçar-se de um certo número de indivíduos que o ameaçam e, para este caso, não vejo outro meio a não ser a morte; é sempre possível sair de uma prisão». No La Cause du Peuple, do qual ele é, desde Maio de 1970, o director titular, pode ler-se apelos a «sangrar os patrões», «esfolá-los vivos como porcos que são», a «linchar os deputados», a «catar os «pequenos chefes», a responder aos patrões sequestrados que ainda pedem «autorização para ir urinar»: «mija nas calças! Não sabes o que são umas cuecas que colam ao traseiro por causa do suor, assim, pelo menos, ficarás a saber o que é ter o cu molhado...», dos comunicados de «operários em revolução», «Vai chegar o dia em que exterminaremos toda a corja de patifes a que pertences». E outras expressões que prefiro não transcrever aqui.
A barbárie de outros textos publicados num jornal, Jaccuse, na década de 70, do qual ele se mantém como director e em relação ao qual, ao que se sabe, não deixou nunca de se mostrar solidário: «quanto a esse patrão, será preciso tirar-lhe os miúdos, se eles os tiver, até que as reivindicações sejam satisfeitas...» e a imagem - que também não o parece escandalizar - de Dreyfus, nessa altura patrão da Régie Renault, em que este surge caricaturado como um cão ocupado a sodomizar outro, suposto representar a «canalha sindical» de Billancourt.
Em meados da década de 20, Aron e Sartre haviam prometido, um ao outro, que aquele que sobrevivesse escreveria o obituário do outro no Boletim dos Antigos Alunos da Escola Normal. Aron não honrou essa promessa e explicou porquê: «Demasiado tempo passou entre a intimidade de estudantes e o aperto de mão na conferência de imprensa do Barco para o Vietname(*), mas ficou qualquer coisa. Deixo aos outros o encargo, ingrato, mas necessário, de celebrar uma obra cuja riqueza, diversidade e amplitude confundem os contemporâneos, de pagar um justo tributo a um homem cuja generosidade e desinteresse ninguém porá em dúvida, mesmo quando se empenhou, e fê-lo por diversas vezes, em combates duvidosos»
É, de facto, preferível, no interesse da memória de Sartre que é um filósofo importante e um escritor de mérito esquecer o Sartre político, cuja lógica do absoluto revolucionário o levou a escrever textos que poderiam figurar em antologias de literatura fascizante. E continuarmos a ler os escritos políticos de Aron, o intelectual lúcido, que durante 40 anos se debateu com a actualidade, tentando captar-lhe o sentido, com objectividade, sem sentimentalismos nem romantismos. Um intelectual que permanece actual.
(*)Em 1979, quando da tragédia dos boat people estiveram juntos para sensibilizarem o Eliseu e o povo francês a colaborarem na tentativa de salvamento das dezenas de milhares de refugiados vietnamitas que fugiam do país por mar em condições dramáticas.
Publicado por Joana às 11:45 PM | Comentários (112) | TrackBack
março 09, 2005
Portugal e a Eurolândia
A primeira crise no sistema monetário europeu (o SME, moeda própria, mas com taxas de câmbio variando dentro de uma dada banda) foi despoletada pela reunificação da Alemanha em 1990, embora muitas das maleitas económicas hoje evidentes já existissem nessa época, mas sem a visibilidade actual.
Um sistema de paridade fixa funciona bem em tempos normais, quando os restantes parâmetros estão de acordo com o que seria aconselhável para cada um dos países aderentes. Se aparece uma crise, cada país desenha um uma política própria, há ataques especulativos a algumas moedas específicas (aquelas cujos especuladores calculem que se depreciem mais facilmente) e gera-se uma situação de grande instabilidade.
Portanto, os peritos europeus concluíram que a moeda única era mais sólida e capaz de resistir a ataques especulativos. Isso tem-se revelado um facto indiscutível. A união monetária trouxe importantes benefícios. Com uma moeda comum, desaparece a volatilidade interna das taxas de câmbio, de forma que o comércio e as finanças deixam se preocupar com a incerteza sobre preços decorrente da flutuação das taxas de câmbio.
Todavia a taxa de câmbio é um importante instrumento de ajustamento macroeconómico. Não haveria problemas se todos os países tivessem legislações semelhantes sobre o funcionamento do mercado, mobilidade dos factores de produção e regras da sua remuneração, procedimentos iguais no funcionamento da administração pública, o mesmo grau de intervenção estatal na economia, idênticos níveis de qualificação e aceitassem a livre circulação dos factores de produção entre as áreas transitoriamente em declínio e aquelas em expansão, como sucede, por exemplo, nos EUA. Ou seja, se fossem um único país, e não diversos países, com identidades próprias, e orgulhosos da sua soberania e da sua história.
Ora isso não se verifica na eurolândia, devido à rigidez da estrutura salarial, às diferentes políticas sociais e ao baixo grau de mobilidade do trabalho entre os vários países. Enquanto nos EUA crises económicas regionais levam rapidamente à migração de trabalho, de modo que, passado algum tempo, as taxas de desemprego regressam aos níveis anteriores, na UE esses ajustamentos não ocorrem, e os países que sofreram essas crise vêem um elevado desemprego e a estagnação económica manterem-se de forma persistente.
Portanto, Portugal arrisca-se a empobrecer e a definhar, tornando-se o "Alentejo interior" da Europa, se não tomarmos medidas para sairmos dessa situação. Não podemos mexer nas taxas de câmbio, nem nas taxas de juro. Não temos mecanismos para iludir a economia, mantendo salários nominais conforme as reivindicações, mas reduzindo o seu poder de compra pela inflação, através de mexidas nas taxas de câmbio e de juros.
Temos portanto que enfrentar e resolver os problemas estruturais que inquinam a nossa sociedade, e que a mantêm economicamente estagnada. Só o conseguiremos fazer se abandonarmos a nossa actual postura de medo das mudanças e de aversão ao risco. Haverá custos sociais, como houve em Espanha, por exemplo, onde o desemprego rondou os 20%, mas quanto mais tarde fizermos essas reformas, maiores serão esses custos.
A menos que apostemos neste actual projecto de empobrecimento em segurança ilusória (e a prazo), que nos tornará, com o tempo, no pardieiro da Europa.
Publicado por Joana às 11:22 PM | Comentários (54) | TrackBack
março 08, 2005
Países Soberanos com uma Moeda Única
e as contradições inerentes
É difícil o entendimento no Luxemburgo. Temos 12 Estados com situações diferenciadas quanto ao desenvolvimento económico, competitividade e qualificação do sector produtivo, peso relativo e eficiência do sector público, conjuntura económica específica, grau de consciência cívica e discernimento dos respectivos habitantes, etc., etc.. Cada um destes Estados soberanos, se não houvesse moeda única, estaria a realizar uma política financeira própria.
Por exemplo, Portugal ainda estaria a ser governado por António Guterres, o escudo estaria desvalorizado 50% ou mais, e caminharíamos, hipnotizados, para uma economia de troca natural, para uma situação similar à vivida pela Argentina há poucos anos.
Outros Estados teriam aplicado políticas diferentes. O difícil é uniformizá-las, dentro da diversidade de situações. Há Estados que consolidaram a sua economia e têm um modelo que funciona bem, nas presentes circunstâncias.
Outros não o fizeram e estão com sérios problemas orçamentais que tenderão a agravar-se, como os casos da Alemanha e da França, por exemplo. Estes últimos gostariam de aplicar as mezinhas keynesianas, tentando dinamizar a economia através da despesa, sem cortar na sua actual despesa pública, tornada rígida pelo modelo que adoptaram. São soluções de efeito transitório, porque o que é estruturante não é alterado. Mas como as legislaturas também são transitórias e o objectivo é ganhar as próximas eleições...
As razões apontadas para flexibilizar o pacto até são aliciantes. A Alemanha pede que o PEC não contemple: 1) custos com a reunificação do país (que já foi há 14 anos!); 2) contribuições nacionais para o orçamento comunitário; 3) despesas públicas com qualidade. Quanto à França quer excluir: 1) despesas de investimento; 2) despesas de investigação; 3) despesas de Defesa (!!); 4) ajudas ao desenvolvimento.
O problema é que um défice é um défice, quer seja por motivos nobres, quer seja por se ser perdulário. Eu posso endividar-me porque investi em casa própria mais do que conseguiria pagar; porque fui perdulária a despender nos centros comerciais e locais de diversão; ou apenas porque, em repetidos gestos piedosos e altruístas, dei esmolas em excesso. Ou ainda, como no caso da França, porque adquiri uma AK47 e vários pitbull e doberman, para defender a minha residência de intrusos.
A questão é que, quando se começa neste regateio, criam-se escapatórias por todo o lado, nomeadamente no caso dos países com contabilidades públicas criativas. Talvez por isso, o primeiro-ministro do Luxemburgo, que assume actualmente a presidência da União Europeia, considera que o PEC em vigor funciona mal mas prefere essa realidade a ter um novo Pacto que, daqui a uns anos, não funcione.
Provavelmente tem razão. Quem não tem dinheiro, não tem vícios. Portanto, uma forma de acabar com o vício da despesa excessiva, é cortar no dinheiro.
Publicado por Joana às 07:58 PM | Comentários (74) | TrackBack
março 07, 2005
A Seca do Ambiente
O caso da não-Barragen de Odelouca é típico da situação de desconchavo e de demissão em que o país vive. O abastecimento de água ao Algarve baseava-se em 2 sistemas principais: Odeleite-Beliche a Sotavento e Odelouca a Barlavento. O primeiro está funcionar há alguns anos. Odelouca está parada há meia dúzia de anos. De quem é a culpa? Dos ambientalistas? Mas estes comportam-se como o lacrau da parábola do lacrau e da rã está na natureza deles. Dos promotores do empreendimento? Mas eles estão impedidos de avançarem pelas decisões de Bruxelas de não financiar a obra devido à queixa da LPN. A culpa é de todos nós e deste laxismo emoliente em que vivemos.
O desleixo governamental de décadas deixou em autogestão uma série de institutos criados por esses governos e pagos pelo dinheiro dos contribuintes. Assim, em Portugal, começaram a ser classificadas áreas sob os mais variados pretextos: REN, Rede Natura 2000, biótipo Corine, paisagem protegida, etc., etc. O país ficou todo classificado (por exemplo, 43% do território do Algarve foi classificado na Rede Natura 2000, sendo a média portuguesa de 24%, enquanto na União Europeia a média não ultrapassa os 12%).
Por exemplo, quando se tentaram construir centrais eólicas, como elas têm que se situar em locais altos e menos habitados, verificou-se que não havia locais disponíveis: estavam todos classificados. Não se podiam abrir valas para a passagem dos cabos eléctricos porque se iria destruir a biodiversidade, as pás dos aero-geradores ameaçavam matar umas aves que tinham o hábito inveterado de passar por ali (como se as aves não fossem mais inteligentes que os seus defensores e capazes, ao fim de 3 ou 4 experiências desastrosas, de escolher outro percurso) etc., uma desgraça. Todavia, como a alternativa às centrais eólicas é o incremento da energia térmica e o não cumprimento dos protocolos de Quioto e das directivas da UE, lá teve que ser: começaram a desclassificar as áreas em causa, uma a uma. Mais uma burocracia para atrasar um investimento indispensável.
O lince ibérico foi o valor natural mais importante que levou à suspensão do financiamento comunitário da barragem de Odelouca. A Comissão Europeia sustenta que não ficou provado que a barragem era indispensável para o abastecimento de água à região, enquanto um estudo publicado em 1998 apontava as serras algarvias (Odemira, Monchique e Caldeirão) como tendo a principal concentração de linces em Portugal - com 19 a 23 animais. Todavia esta informação baseava-se apenas em entrevistas com pessoas que afirmaram ter avistado linces, ou seja ... em boatos (Não seriam antes gambozinos?). Um trabalho posterior realizado pelo próprio ICN pôs aquela informação em causa, afirmando que, salvo os testemunhos verbais, nenhuma evidência concreta de existência do lince havia sido encontrada na região nos últimos dez anos.
Quando se fala no abastecimento de água ao Algarve, aparecem os radicais miserabilistas a clamarem contra os campos de golfe. Acontece que dos 250 milhões de m³/ano de água consumida anualmente naquela região, apenas 6% se destina a campos de golfe. Acontece ainda que os campos de golfe são a actividade que permite a hotelaria algarvia manter uma taxa de ocupação razoável fora da estação alta. Acontece finalmente que o turista do golfe é, de muito longe, aquele que mais despende per capita. O turismo do golfe está no topo do turismo de qualidade e tratar com ligeireza e pretenso moralismo esta actividade é matar uma das poucas galinhas dos ovos de ouro que nos restam.
Quando o ministro Nobre Guedes anunciou, há meses, que se perspectivava um período de seca e que as obras de Odelouca teriam que arrancar, os autarcas da região, achando embora que as obras deveriam arrancar, consideraram irresponsáveis as declarações do ministro. Os irresponsáveis, como se observa actualmente, foram esses autarcas, pois que produziram aquelas afirmações na ingénua esperança de não assustar o turismo, quando o que era premente era assustar Bruxelas, para desbloquear os financiamentos, demonstrando a urgência da barragem.
O ministrou entretanto, ainda antes das eleições, assinou um despacho para avançar com a construção da barragem, quer haja ou não fundos comunitários, enquanto o presidente da LPN ameaçou que tal decisão pode trazer «graves penalizações para Portugal» e que «dificilmente a obra poderá avançar», mesmo depois da reformulação do projecto, dado que «contém graves distorções ambientais» ... devido aos boatos sobre existência de linces numa área geográfica onde a barragem irá ocupar menos de 1% da superfície. É um folhetim que continuará, seguramente.
Na televisão passam continuamente imagens dos efeitos da seca nas culturas algarvias. Fala-se vagamente na Barragem de Odelouca, mas como quem tem audiência na Comunicação Social são os fundamentalistas do ambiente, quem é diabolizado são os campos de golfe. Ninguém faz conta à água consumida e a quem a consome; ninguém viu os linces; ninguém contabiliza as divisas que os turistas do golfe cá deixam e o seu efeito positivo na economia e no emprego no Algarve (e no resto do país). Tudo é desvalorizado face à iconoclasia do pecado do lucro.
Continuamos a ser um país de pensamento medieval, moralista e escolástico, convencidos que isso é ser progressista. Parecemos as multidões enfurecidas do início da Revolução Industrial que escavacavam as máquinas convencidas que eram elas a causa dos males da sociedade.
Nota: Segundo aquele estudo baseado em entrevistas, haveria em Portugal 40-53 linces, distribuídos por 5 pequenas populações: Algarve/Odemira (19-23 indivíduos), Vale do Sado (6-8), Malcata (7-9), S. Mamede (4-6) e Guadiana (4-7), as últimas três em contacto com populações espanholas. Ocorreria também, embora as entrevistas não fossem conclusivas, no Gerês, Montesinho, pinhais de Mira e Serra de Ossa.
Publicado por Joana às 07:48 PM | Comentários (48) | TrackBack
A Questão do Desemprego
Portugal não tem um problema do desemprego. Portugal tem três problemas de desemprego:
1 Tem mais de 400 mil desempregados. Como o pleno emprego admite taxas da ordem de 3% ou 4%, incluindo o desemprego friccional, teremos, estatisticamente, mais de 200 mil desempregados que a nossa economia não consegue actualmente absorver;
2 Parte significativa da indústria têxtil não é competitiva no actual quadro da globalização e da emergência da China, Índia, etc.. Há, igualmente um excesso de população activa na construção civil e tal não será sustentável a médio prazo. No conjunto estamos a falar de 200 mil a 300 mil efectivos;
3 Há um excesso de empregados no sector público na ordem dos 200 mil a 250 mil efectivos, quando comparado com a média europeia. Este excesso de emprego, sem qualquer contrapartida a nível de qualidade de prestação de serviço (antes pelo contrário), cria um ónus pesado sobre o sector privado, quer pela fiscalidade excessiva (Daniel Bessa citou, há meses, uma folha do World Economic Forum sobre a competitividade dos países onde se via que entre 59 países, éramos a 57ª carga fiscal mais elevada), quer pelo péssimo funcionamento da máquina do Estado, que, ambos, desincentivam o investimento.
No total, estamos a falar de passar de 7% para 17% de taxa de desemprego (sem falar no desemprego induzido nos serviços pela diminuição dos rendimentos das famílias). A agravar a questão, muito daquele desemprego apresenta um claro sintoma de histerese, isto é, não parece recuperável.
A eficiência do mercado de trabalho consegue-se com a sua liberalização. No caso português é necessário que, para além da liberalização, o sector público seja profundamente reformado, porque só assim será possível o seu downsizing. O papel do Estado, para além de promover o seu downsizing, deverá ser o de remover todos os entraves à mobilidade do factor trabalho, assegurar que não há violações estruturais da concorrência, assegurar os cumprimentos contratuais nas relações entre os agentes económicos e a agilização da recuperação dos débitos.
As derrogações à liberdade contratual e à mobilidade do mercado de trabalho criam situações de imperfeição no modelo concorrencial que afectam a eficiência económica da sociedade como um todo e atingem, perversamente, aqueles que julgavam que essas derrogações os punham a salvo das injustiças do modelo concorrencial.
Na sequência do 25 de Abril, com o nobre intuito de proteger os trabalhadores, legislou-se no sentido de impedir qualquer despedimento ou flexibilização da relação laboral. Pensava-se que, com esses institutos legais, os trabalhadores ficariam eternamente protegidos contra a exploração capitalista. Rapidamente o poder político se apercebeu que aquela legislação tinha um efeito perverso na evolução económica, desincentivando os empresários em aumentarem o emprego, mesmo em períodos de expansão económica, colocando o país em estagnação económica, levando empresas à falência ou à deslocalização e diminuindo daquilo que se queria conservar: os efectivos da população activa. E assim, para introduzirem alguma flexibilidade num mercado de trabalho rígido e à beira do estrangulamento, apareceram a lei dos contratos a prazo e a proliferação do sistema de prestação de serviços contra recibos verdes, em completo arrepio ao espírito daquele sistema, inventado para as profissões liberais.
Aliás, a rigidez laboral tem igualmente efeitos negativos no comportamento e produtividade dos trabalhadores, retirando-lhes o estímulo pela inovação e requalificação e estimulando, em contrapartida, a sua aversão ao risco e à mudança.
Aqueles dois novos tipos de relações de trabalho tiveram um notável efeito estimulante na nossa economia e no nível de emprego. Portugal passou a ser, na União Europeia, o país onde o índice de desemprego era menor. Mesmo em períodos de grande crise, como no início da década de 80 ou no início da década de 90, enquanto o desemprego na Europa assumia níveis assustadores, em Portugal mantinha-se quase o pleno emprego.
Os empresários, em face de expectativas, mesmo medianamente favoráveis, admitiam pessoal com bastante facilidade, pois sabiam que podiam demitir esse pessoal, total ou parcialmente, quer se gorassem as expectativas, quer se o pessoal não satisfizesse profissionalmente. Na maioria dos casos verificou-se que essas admissões se tornaram permanentes porque a economia estimulada pelas decisões desses empresários cresceu o suficiente para assegurar a manutenção desse nível de emprego.
Portanto, a questão da mobilidade do factor trabalho, como regra geral, tem que ser encarada de frente e resolvida. Com a actualidade rigidez laboral do mercado normal, o país não é atractivo para o investimento de alta tecnologia, mas apenas para investimento não qualificado, aproveitando os expedientes legais.
A avaliação do comportamento económico das sociedades tem mostrado que a política de redistribuição de rendimentos terá que ser concebida de forma a não menoscabar a eficiência do tecido produtivo pois se este perder a eficiência haverá cada vez menos rendimento para redistribuir. É essa a lei do mercado e sempre que se tentaram implementar soluções de índole estatizante fixando preços e quantidades administrativamente, ignorando os equilíbrios que se geram num mercado eficiente, o resultado foi péssimo. A curto prazo os resultados parecem bons, enquanto dura o efeito das medidas estatais e o mercado não desenvolveu as respostas adequadas; a longo prazo é a catástrofe. Desde que existem trocas, que é assim: se se fecha a porta ao mercado ... ele entra pela janela.
Se o governo tomar as medidas certas, o desemprego irá aumentar a curto prazo, mas a economia será saneada e será possível um desenvolvimento sustentado futuro. Foi assim que sucedeu, por exemplo, em Espanha. Se não as tomar, talvez que o desemprego não aumente tanto no curto prazo, mas permaneceremos nesta situação de derrapagem económica, com prognóstico muito reservado, e o desemprego continuará a aumentar, a aumentar sempre. E quanto mais tarde se tomarem aquelas medidas, maior será o seu custo social e económico.
Nota - Ler ainda:
Sócrates e o Desemprego
Publicado por Joana às 12:20 AM | Comentários (50) | TrackBack
março 06, 2005
Reescrever a História
A História não se reescreve. Interpreta-se. Os dirigentes soviéticos ficaram célebres por retocarem fotografias e assinaturas em documentos, à medida que dirigentes políticos, cujas caras apareciam nas primeiras e cujas assinaturas estavam apostas nos segundos, caíam em desgraça. Já aqui exprimi a minha opinião sobre a estrutura óssea de Freitas do Amaral. Também por isso, sinto-me com autoridade para dizer que esta atitude moscovita da Direcção do CDS/PP é ridícula, insensata e inútil. A História não se reescreve. Interpreta-se.
Publicado por Joana às 10:23 PM | Comentários (14) | TrackBack
março 04, 2005
Temos que viver com o que Temos
O problema socialista é o de não ter pessoas que estejam por dentro do tecido produtivo português. Portanto acaba por virar-se para os meios universitários ou para gente do sector público em geral. Em qualquer dos casos, os nomes apontados para as Finanças, Campos e Cunha, e para a Saúde, Correia de Campos, são fortes. Já aqui escrevi, por diversas vezes, que a diferença entre Correia de Campos e o actual ministro, no que respeita à política de Saúde, é que ... têm boys diferentes. No resto têm a mesma visão sobre a reforma do SNS. Resta saber se Correia de Campos tem apoio político para continuar as reformas.
Campos e Cunha é um nome sólido no que respeita à política orçamental. Todavia há um desafio importante: a reforma da administração pública, que é vital, pelas razões que já aqui escrevi diversas vezes. Só se conseguem cortar despesas no sector público se ele for reorganizado e reestruturado. Ora do lado dos especialistas do despesismo temos Vieira da Silva, no Trabalho e Solidariedade Social, que pertence ao Parque Jurássico do Socialismo. É um nome que, só por ele, pode comprometer toda a política económica e financeira do governo, a menos que lhe metam uma grilheta no tornozelo.
Na Economia e Inovação temos Manuel Pinho, que tem sido um personagem politicamente errático e sobre o qual se têm colocado dúvidas sobre o currículo académico, não sei se justificadas ou não. Via-o mais na área financeira que na área económica. É um homem que não conhece o tecido produtivo, o que não é um bom currículo para esta pasta.
António Costa parece-me bem na Administração Interna e como nº 2 do Governo. Mário Lino, que conheço bem, foi um bom Administrador da CDL, não gostei dele à frente das AdP e acho que não tem qualquer currículo para a pasta que sobraçará (ou ... sossobrará?). Parece-me o percurso do Princípio de Peter.
Já dizem, por piada, que com Diogo Freitas do Amaral nos Estrangeiros, teremos que cortar relações com os EUA ... É blague. Freitas do Amaral é caracterizado pela ausência de coluna vertebral que, pensava-se, distinguiria os vertebrados dos outros animais. Logo, adaptar-se-á ao que tiver que ser. Desde que teve que pagar do bolso dele, e dos sogros, as despesas da candidatura perdida, Freitas do Amaral resolveu que princípios, ideologias, etc., eram luxos despiciendos.
O resto é a gente do sector público do costume. Mudam-se os nomes ... o resultado é o mesmo.
Quanto a Vitorino, é a incógnita. Será o nome a propor pelo PS para PR? Veremos.
Publicado por Joana às 09:37 PM | Comentários (90) | TrackBack
O Novo Elenco Governativo
Semíramis encontra-se em condições de divulgar a composição do XVIIº Governo Constitucional. Foi uma negociação difícil, devida à correlação de forças no interior do partido, às dificuldades de obtenção dos necessários consensos, à compreensível repugnância que qualquer cidadão qualificado e competente tem pelo exercício de servir a coisa pública e à óbvia e abnegada ambição que qualquer cidadão desqualificado e incompetente tem pela obtenção de um sinecura governativa. Devido ao aperto orçamental, terá apenas 11 ministérios A composição é a que se segue:
Presidência do Conselho de Ministros [PCM] Engº José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
Ministério da Administração Interna [MAI] Dr. J. S. C. Pinto de Sousa
Ministério das Actividades Económicas, Agricultura, Pescas e Florestas [MAEAPF] - Engº J. S. Carvalho P. de Sousa
Ministério do Ambiente, das Cidades, Administração Local, Habitação, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional [MACALHOTDR] Prof. Dr. Engº José S. C. P. de Sousa
Ministério da Educação, Ciência, Inovação e Ensino Superior [MECIES] Prof. Dr. J. Sócrates C. P. de Sousa
Ministério das Finanças e da Administração Pública [MFAP] Prof. Dr. J. S. Carvalho Pinto de S.
Ministério da Cultura, do Trabalho e do Plano Tecnológico [MCTPT] - Arqº José Sócrates C. P. de S.
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações [MOPTC] - Engº J. Sócrates Carvalho P. de S.
Ministério da Defesa Nacional [MDN] - Almirante José S. Carvalho Pinto de Sousa
Ministério da Justiça [MJ] Juiz Conselheiro José S. C. P. de S.
Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Turismo e das Comunidades Portuguesas [MNETCP] Embaixador José S. Carvalho P. de Sousa
Ministério da Saúde, da Segurança Social, da Família e da Criança [MSSSFC] Drª J. S. C. P. de Sousa
Este elenco assegura uma elevada coesão, tem uma aparente homogeneidade e pretende, pese embora as dificuldades compreensíveis e eventuais acidentes de percurso, ter uma única voz, ao contrário do que acontecia com o anterior governo
Publicado por Joana às 05:55 PM | Comentários (21) | TrackBack
março 03, 2005
Orçamento de Estado para 14 AD
Apresento seguidamente um exercício, com os mesmos pressupostos do exercício do post anterior, relativamente ao Orçamento do Estado Romano, genérico, durante o primeiro quartel do século I. Faço depois um exercício arriscado, relativamente ao cálculo do PIB do Império Romano (no conceito p.p.p. purchase power parity, obviamente), e algumas comparações interessantes com o Estado português.
Estas receitas e despesas não incluem os valores relativos aos diferentes municípios das províncias que tinham algumas despesas administrativas e recebiam taxas para as solver. Provavelmente esses valores em falta não excederiam 20% do OE Romano, visto que as despesas militares (a fatia maior) e a administração provincial faziam parte do OE.
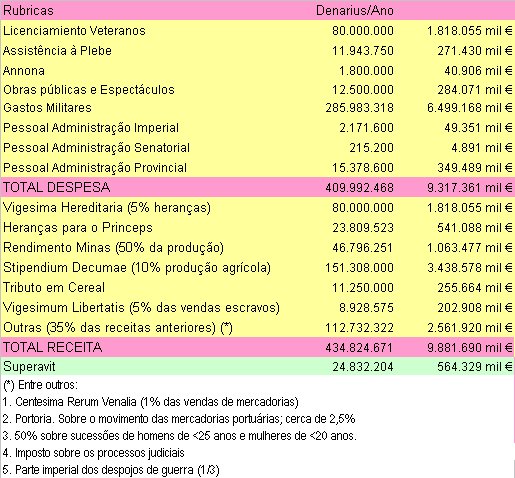
Estes valores são consistentes com o superavit financeiro encontrado no erário público à morte de Tibério (14-37AD), de 2.700 milhões de sestércios (13.500.000 mil ), que era 24 vezes superior àquele valor anual (Tibério havia reinado 23 anos). Portanto este OE Romano poderia considerar-se um orçamento anual típico daqueles anos.
O PIB que calculei a partir daqueles valores baseou-se nos pressupostos indicados no quadro. Considerei que as actividades não agrícolas correspondiam a 40% dos valores anteriores e adicionei mais 40% sobre o total obtido, para ter em conta as actividades que não eram taxadas (aliados, etc.) e a subestimação da produção agrícola e mineira. Mesmo assim o PIB deve estar algo subavaliado
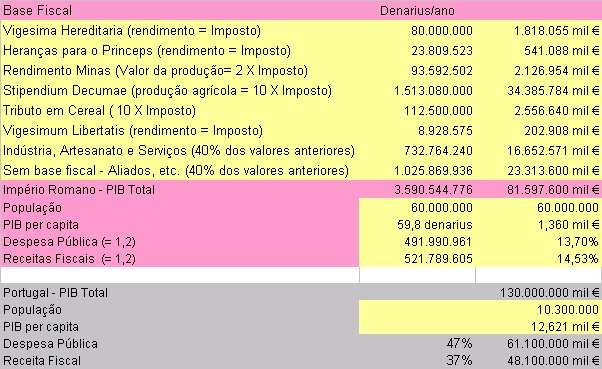
Plínio, quase um século depois, no tempo de Trajano, queixava-se das importações sumptuárias do Oriente (Índia, Pérsia, etc), sem contrapartida de exportações, que, segundo ele, ascenderiam a 100.000.000 sestércios por ano (500.000 mil ) o que é de facto uma soma avultada (cerca de 5% da despesa pública ou 0,6% do PIB).
Para comparar a fiscalidade e a despesa pública com o PIB, multipliquei aquelas por 1,2 para ter em conta despesas e receitas da administração própria dos municípios da província.
Não vale a pena fazer grandes reflexões. Todos falam do peso do Estado Romano que asfixiava a sociedade. É certo que, durante Tibério, as coisas funcionavam razoavelmente bem do ponto de vista administrativo. Mas comparando com o Estado português verifica-se que, este sim, asfixia a sociedade. É certo que o Estado português tem despesas sociais (o Estado romano também tinha algumas, como se pode ver), mas as nossas despesas não sociais representam 23% do PIB. E isso é asfixiante.
Publicado por Joana às 07:37 PM | Comentários (36) | TrackBack
março 02, 2005
O Mercado de Trabalho
... Há 2 mil anos ... em Roma
Aproveitando o silêncio socrático, vou-me debruçar hoje sobre a formação de preços no mercado de trabalho, no início do Império Romano. Há algumas curiosidades deveras interessantes.
Em primeiro lugar, é um erro supor que a economia romana se baseava fundamentalmente no trabalho escravo. Erro aliás que foi alimentado por uma leitura muito superficial de Marx. Numa população estimada de 60 milhões de habitantes (durante a dinastia Júlia-Claudiana, até à morte de Nero), ou talvez um pouco mais, 70 ou 80 milhões de habitantes, durante os Flávios (o apogeu do Império), os escravos não representariam mais de um sexto da população, embora na Itália (que só incluía a península) e na cidade de Roma representassem cerca de 30%.
Ora os Estados do sul dos EUA tinham, anteriormente à guerra civil, percentagens de escravos, relativamente à população total, superiores a 40% (Alabama, Luisiana e Geórgia) e mesmo 50% (Mississipi e Carolina do Sul), ou cerca de 40%, como na Virgínia e Carolina do Norte. Florida e Texas também tinham valores semelhantes, mas eram então muito pouco povoados. Todavia ninguém afirma que nos estados confederados o modo de produção era esclavagista. A diferença, profunda aliás, está em que a sociedade sulista livre tinha, toda ela, direitos iguais, ou seja, vivia em democracia, enquanto a sociedade romana estava muito estratificada.
Os cidadãos, cujo 1º censo, no tempo de Augusto, deu cerca de 4,5 milhões (só incluía os cidadãos capazes de pegar em armas) o que significaria cerca de 18 milhões de pessoas, e o último, no tempo de Vespasiano, 70 anos depois, deu cerca de 7 milhões (provavelmente 28 a 30 milhões de pessoas), aumento parcialmente devido à extensão da cidadania a alguns aliados, dividiam-se em diversas classes. Essas classes não derivavam de castas, mas da riqueza imobiliária, embora essa fortuna estivesse em paralelo com a nobreza da linhagem. Sem entrar na complicada divisão pelas centúrias, pode dizer-se, grosso modo, que havia os patrícios, a ordem equestre e os plebeus. Cada classe só podia aspirar a exercer certos cargos. Os outros estavam vedados. Os casamentos inter-classistas eram vedados ou tinham severas restrições. Todavia, as famílias ilustres tendiam a fortalecer-se através do matrimónio, e esses casamentos de conveniência eram a origem de uma crescente libertinagem de costumes. «Esta cidade» dizia Catão, «não passa de uma agência de casamentos políticos corrigidos pelos cornos».
Estas classes tinham, como escrevi, clivagens de acordo com a fortuna. A ordem senatorial obrigava a ter uma fortuna superior a 1 milhão de sestércios (o que estimo em 5,7 milhões ), enquanto que a dos cavaleiros impunha um limiar de 400 mil sestércios (2,3 milhões ). A população restante compunha-se dos cidadãos plebeus, libertos, aliados (gente livre que habitava as províncias) e os escravos. Portanto no tempo de Vespasiano, em cerca de 70 milhões, haveria cerca de 30 milhões de cidadãos, 10 a 15 milhões de escravos e 25 a 30 milhões de livres, mas não cidadãos. O Édito de Caracala, já na decadência do Império, estendeu a cidadania a todos os habitantes livres do Império. Todavia essa medida tinha apenas o objectivo de aumentar a base de incidência fiscal, que atingia sobretudo os cidadãos. Outra medida, para evitar a diminuição drástica de escravos, era a limitação às disposições testamentárias, quer fixando a proporção máxima de escravos que poderiam ser libertos, quer estabelecendo o máximo de 100. Durante a dinastia Flávia apareceu, no mundo rural, uma nova forma contratual, o colonato, que evoluiu para o que se denominou mais tarde servo de gleba. Nos finais do império a escravatura já era insignificante, tirando nalgumas grandes cidades, como Roma (mas nada comparável com o que era séculos antes).
Passemos aos salários. Comecemos pelos de diversas profissões:
Em primeiro lugar os romanos não cometeram o erro de todos os professores ganharem o mesmo. O salário dependia do nível e grau de ensino. Um professor de Retórica ou de Literatura ganhava 5 e 4 vezes mais que um professor de primeiras letras.
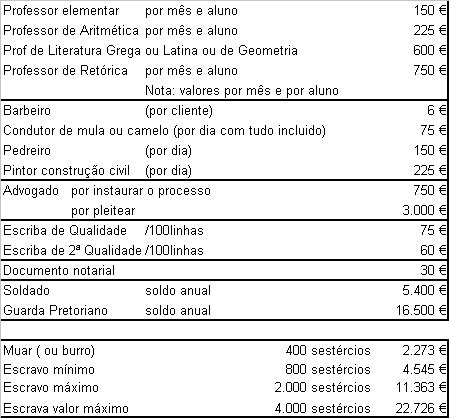
Comparando o ensino com o trabalho manual, o professor elementar deveria estar equiparado ao trabalhador manual. Como os romanos tinham muito mais feriados e dias inúteis que nós, um trabalhador manual não trabalharia mais de 15 dias por mês. Assim sendo, ganharia o mesmo que um professor elementar com 15 alunos. Mas os professores recebiam adicionalmente bens em espécie, donde a situação de professor seria melhor que a do trabalhador manual.
Os escribas eram bem pagos. Hei-de calcular qual seria o meu estipêndio pelo que tenho escrito neste blogue, mesmo como escriba de 2ª! Cerca de 15 por A4, eu deveria receber 30 a 50 por dia. Tanto quanto uma mulher a dias! Considerando que é um trabalho extra ...
Aparentemente os militares ganhavam menos que os trabalhadores manuais. Todavia tinham alimentação e alojamento grátis e recebiam, quando passavam à reserva, uma gratificação e uma propriedade rural. De notar que os pretorianos, tropa de elite que protegia o imperador, recebiam o triplo. Os efectivos militares variaram entre 250 mil e 350 mil soldados. Os pretorianos nunca atingiram os 10 mil efectivos.
Um escravo era mais caro que um muar, o que é lisonjeiro para a nossa espécie, e, no caso de uma jovem bela, pelos padrões da época, poderia atingir valores razoáveis.
Mas quem ganhava bem, eram os altos funcionários imperiais, senatoriais e da administração provincial. Há cargos que não tinham vencimento. O Imperador (Princeps) tinha o erário público por conta ... Os cônsules estavam um ano no cargo e a seguir iam como procônsules para as províncias, onde além do estipêndio avultado, recebiam extras. Às vezes tão volumosos, que levavam à sublevação da província.
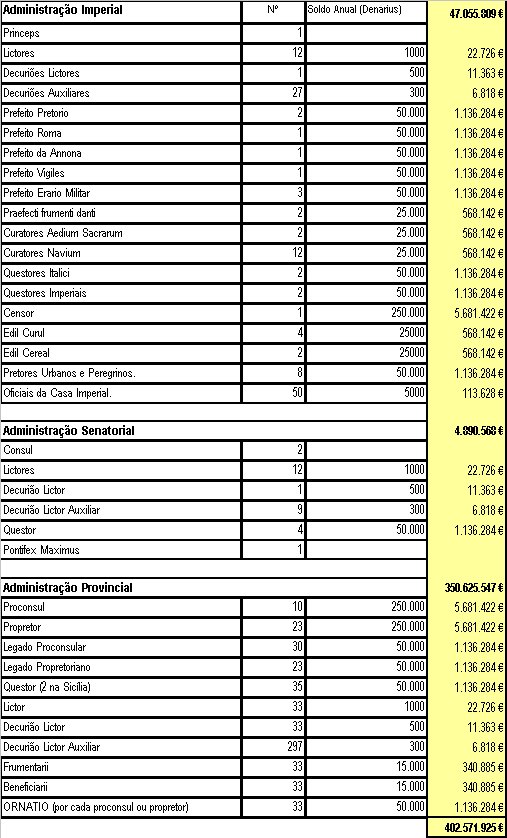
É óbvio que os decuriões ganhavam ao nível da tropa mais bem paga, mas cargos como o Prefeito do Pretório, ou o Prefeito de Roma (cargo que o assassinado Pedanius Secundus exerceu ver post abaixo), ganhavam mais de 1 milhão de euros por ano. O mesmo sucedia com o Prefeito da Annona. A Annona era uma espécie de Rendimento Mínimo Garantido... pois tratava-se da distribuição de víveres aos proletários romanos (da cidade de Roma), que viviam da assistência do Estado (número que variou ao longo dos tempos, ultrapassando frequentemente os 200 mil, apesar da distribuição de terras para os incentivar a ter meios de subsistência próprios).
Mas os mais bem remunerados eram os governadores das províncias (procônsules e propretores) que recebiam mais de 5 milhões de euros por ano, fora o que receberiam por baixo da mesa. Ganhavam várias centenas de vezes o salário de um trabalhador manual.
Nota: Os valores em euros foram estimados a partir do teor em ouro do Áureo, subentendendo uma relação entre o preço do Ouro e da Prata de 12 para 1, relação que se manteve praticamente idêntica até ao século XVIII. No século XIX era de 15 para 1. A partir do último quartel do século XIX, a prata desvalorizou-se muito perante o ouro. Por sua vez o ouro tem-se desvalorizado desde meados do século XX. Estimei essa desvalorização de 1 para 6. Igualmente é difícil comparar preços em sociedades com cabazes de compras muito diferentes. O preço da alimentação, na sociedade europeia, não representará mais de 15% a 20% do orçamento familiar, enquanto na sociedade romana representaria certamente bastante mais de 50%.
Isto foi apenas um exercício que fiz, com algum critério, mas sem aprofundar muito por escassez de tempo.
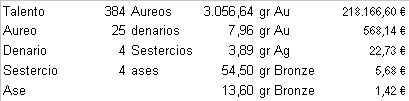
Publicado por Joana às 07:54 PM | Comentários (35) | TrackBack
março 01, 2005
Tempos Muito Difíceis
A única coisa que transpirou do que está a acontecer com a futura estratégia e o futuro governo de Sócrates é que «vêm aí tempos difíceis». O problema é que não vêm aí, estão aí. O desemprego continua a crescer, e de forma sustentada, pois os efectivos que caíram no desemprego têm uma qualificação (e idade) que dificilmente permite que encontrem nova colocação. E se o encontrarem será com um salário significativamente inferior. A economia está estagnada e o desequilíbrio das contas públicas continua insanável. A nossa sociedade e a nossa estrutura produtiva estão anquilosadas.
O governo tem duas alternativas (embora se admitam alguns paliativos intermédios que apenas adiam o desfecho inevitável):
1) Corta a despesa até ao limiar aceitável, e isso exigirá uma reforma profunda do sector público, pois não basta por cada 2 que se reformam (ou saem), admite-se1. Num serviço desorganizado por cada 2 que se reformam (ou saem), entram 3. É a lógica das burocracias desorganizadas e ineficientes. Foi essa lógica que impediu uma contenção da despesa pública apesar dos cortes de Manuela Ferreira Leite.
2) Aumenta as receitas. Todavia este aumento está limitado pela própria situação económica. As empresas públicas, exceptuando talvez a EDP, vão entregar muito menos dividendos ao Estado do que se previa. Obviamente que o IRC liquidado (pelas empresas públicas e restantes) será igualmente menor. A estagnação salarial e do volume estacionário de emprego não augura nada de bom para o IRS. O governo pode optar pelo fundamentalismo fiscal. Mas é uma opção que pode ter custos sociais graves. A punção fiscal já é muito elevada para quem não está na economia paralela. Os trabalhadores independentes (refiro-me àqueles que são obrigados a passarem recibos de tudo o que ganham) estão a ser duramente atingidos. O eventual (e magro) aumento de receitas no combate à evasão fiscal deve ser aplicado em diminuir o peso fiscal dos que são obrigados a cumprir. Se o governo pretender aumentar as receitas pelo lado fiscal é capaz de ter a surpresa desagradável de ver as receitas descerem com taxas maiores, quer pelo efeito J.-B. Say, quer pela perda de competitividade das empresas, quer pela diminuição da base de incidência fiscal.
O governo e o país estão igualmente confrontados com a globalização e a liberdade de escolhas e de movimentação. O estado da nossa economia e este projecto mesquinho de empobrecimento em segurança que é defendido nos nossos areópagos políticos e sociais afugentam aqueles que têm mais potencial, porquanto estes podem obter resultados muito superiores, e intelectualmente mais estimulantes, com o mesmo esforço, em espaços económicos no estrangeiro. Não me refiro apenas aos empresários, mas aos quadros técnicos qualificados, quer tenham ou não instrução superior.
E se restarem apenas aqueles que estão conformados com a mediocridade e estão empenhados no projecto de empobrecimento em segurança, não percebo como irá sobreviver o Estado. Os paladinos estatizantes diabolizam aqueles que pretendem ganhar dinheiro, ter lucro, ter êxito financeiro. São émulos dos escolásticos da Alta Idade Média no que respeita ao horror pelo pecado do lucro. Mas lançam-lhes olhares cobiçosos para lhes tentarem extrair os lucros para se subsidiarem a si próprios e às suas actividades ineficientes ou mesmo estéreis. Todavia apenas conseguem matar a galinha dos ovos de ouro. É isso que os distingue do pensamento liberal, que prefere tratar a galinha o melhor possível, alimentá-la e robustecê-la, para lhe melhorar a postura, e não matá-la por um misto de ódio pelo êxito da postura e para sacar de uma vez todos os ovos.
Não amam o dinheiro produtivo, cobiçam-no apenas para o tornar estéril.
Publicado por Joana às 09:58 PM | Comentários (55) | TrackBack