outubro 16, 2005
Cantinho do Pinter
Tinha que ser. Em face do alarido na blogosfera eu teria que me pronunciar sobre a atribuição do Prémio Nobel da Literatura ao Harold Pinter. Infelizmente nunca vi (nem li) nada dele. Mas julgo que isso não constitui obstáculo. Se em Portugal apenas nos pronunciássemos sobre aquilo que soubéssemos, julgar-se-ia viver em terra de mudos. Vi a Amante do Tenente Francês e o Julgamento, cujos argumentos são dele, que achei muito bons, mas cujo âmbito pertence mais a Hollywood que a Estocolmo, até porque foram feitos sobre textos de outros. Segundo dizem os seus críticos, poucos como ele souberam criar o clima de vazio, náusea, mesquinhez, inveja e angústia nas relações dentro da família e grupos sociais da nossa época. Isso é patente naqueles dois filmes. Pinter tem-se notabilizado pelas imprecações anti-Bush e anti-Blair. Mas Saramago, a Elfriede, Prado Coelho e Fernando Rosas também, e estes dois últimos ainda não foram galardoados com aquela distinção. E temos que nos regozijar com uma coisa: A Academia Sueca conseguiu um notável progresso sobre a decisão do ano passado. Todavia, receio que isto não seja um elogio a Pinter ... pior que a Elfriede era impossível.
Publicado por Joana às 01:01 PM | Comentários (67) | TrackBack
março 10, 2005
Aron e Sartre
Faz em 2005 cem anos que nasceram Raymond Aron e Jean-Paul Sartre. Têm muito em comum. Nasceram ambos em 1905; foram condiscípulos na Escola Normal Superior da Rua de Ulm; estiveram, até às suas mortes (Sartre em 1980 e Aron em 1983), empenhados em todas as grandes lutas e eventos do século. Apenas houve duas pequenas diferenças entre ambos: 1) Em cada evento, Sartre esteve, quase sempre, do lado certo, de acordo com o pensamento politicamente correcto da época; Aron esteve, quase sempre, do lado errado, de acordo com esse mesmo pensamento politicamente correcto; 2) Em cada evento, Sartre esteve, quase sempre, do lado errado, de acordo com o posterior julgamento da história; Aron esteve, sempre, do lado certo, de acordo com esse mesmo julgamento.
Sartre foi sempre o ídolo do pensamento politicamente correcto, mesmo quando se verificava, poucos anos depois, que tinha apoiado um erro o pensamento politicamente correcto não tem memória. Aron foi sempre diabolizado pelo pensamento politicamente correcto as injustiças da História (ou seja, os factos que tramaram o pensamento politicamente correcto) são imperdoáveis para aqueles que tomam as suas ideias como valores absolutos.
Aron pressentiu o que adviria com a ascensão do nazismo. Para ele, o dizer não a Hitler deveria ter ocorrido em Março de 1936 (ocupação militar da Renânia) e não após Munique. O espírito de Munique nascera em 1936. Pelo contrário, Sartre sempre pensou que Hitler seria um epifenómeno transitório e mesmo aquando dos acordos de Munique, não se apercebeu logo da dimensão exacta do que estava em jogo. Após a derrota, Aron foi para Londres, enquanto Sartre, saído do cativeiro, dedicou-se à escrita em Paris. Foi, segundo ele, «un écrivain qui résiste, et non un résistant qui écrit», porque resistir não pode ser uma finalidade em si. Tentaram, mais tarde, fazer dele um resistente, mas como afirmou J-C Casanova num debate recente «Si la résistance consiste à discuter dans un café, alors il y a eu beaucoup de résistants en France!».
Depois de acabada a guerra, Sartre (e os Temps Modernes, a cujo Comité Directivo, Aron também pertenceu de início) envereda pela 3ª via, nem capitalismo, nem comunismo. Mas o futuro Sartre já está prefigurado na apresentação dos Temps Modernes (lançado em Outubro de 1945): quer se queira quer não, todo o texto «possui um sentido»: «para nós o escritor não é Vestal nem Ariel ele está no momento, e não importa o que faça, está marcado e comprometido mesmo no seu retiro mais remoto» ... «Cada palavra tem repercussões. Cada silêncio também» «as palavras são pistolas carregadas». Já tive ocasião de me debruçar, aqui, sobre a perversão da filosofia do intelectual comprometido.
E pouco a pouco, Sartre deixa-se impregnar pelo fascínio do PCF, que se apresentava como o futuro da humanidade perante os crentes, como o agente decisivo da História. Vai ser o percurso de Sartre, o da tentativa (sempre frustrada, mas sempre permanente) de reconciliar o aventureiro de origem burguesa, motivado pelo seu ego a agir, e o militante revolucionário cujo ego é motivado pela acção. O PC continua, apesar de tudo, a ser a única chave no que respeita à sua vontade de romper com a burguesia e com a «civilização da solidão» que ela traz em si e na qual foi educado. A invasão da Coreia do Sul pela tropas norte-coreanas e a intervenção americana sob o patrocínio da ONU extremou os campos. A partir daí, Sartre tornou-se um compagnon de route do movimento comunista «Um anticomunista é um cão, persisto e persistirei em dizê-lo».
Aron ficou decididamente, no outro lado da barreira. Para ele, a influência de Estaline não parava no Elba. A força do imperialismo soviético dependia menos do seu potencial militar do que da sua irradiação ou da penetração da sua propaganda. A existência, na própria Europa Ocidental, de grandes partidos comunistas, como em França e na Itália, é descrita por Aron, em 1948, como sendo a de «quintas colunas». Sem dúvida, os milhões de eleitores que confiam nos partidos comunistas ocidentais nutrem-se de esperanças honrosas, mas isso não deve ocultar a realidade, a saber, que os dirigentes e os aparelhos desses partidos fazem a política da URSS no quadro nacional onde exercem as suas actividades.
Aos olhos de Aron, para frustrar os seus objectivos três condições se impunham: primeiramente, o restabelecimento dos grandes equilíbrios económicos, financeiros e monetários; logo - em segundo lugar - a restauração de um poder de Estado; e, em terceiro lugar, a luta decidida contra a ideologia comunista no próprio terreno das ideias e da propaganda.
E disso se encarregou Aron «Os revolucionários têm como que um ódio ao mundo e um desejo da catástrofe. Todos os regimes conhecidos são condenáveis face a um ideal abstracto de igualdade e liberdade. Apenas a Revolução, porque é uma aventura, ou um regime revolucionário, porque este consente no uso permanente da violência, parecem capazes de conjugar este objectivo sublime. O mito da Revolução serve de refúgio ao pensamento utópico, torna-se o intercessor misterioso, imprevisível, entre o real e o ideal. .... A própria violência atrai, fascina, mais que repele. O mito da Revolução converge com o culto fascista da violência.»
A crítica ideológica [ do intelectual de esquerda] é moralista contra uma parte do mundo e em extremo indulgente perante o movimento revolucionário. A repressão nunca é excessiva, antes pelo contrário, quando atinge a contra-revolução ou é ministrada por um movimento revolucionário. A prova da culpabilidade é sempre insatisfatória, quando ministrada pela justiça dos países ocidentais sobre «revolucionários». Quantos intelectuais aderiram aos PCs por indignação moral e acabaram subscrevendo de facto o terrorismo soviético e a razão de Estado?
Estes escritos de 1955 tornaram Aron no lacaio da burguesia, encarregado de lhe «fornecer a dose de justificações capazes de permitirem a esta ter boa consciência e enfraquecer os seus adversários». E isto não foi dito por nenhum radical, mas sim por Maurice Duverger, que de esquerda nunca teve nada. Tal era o ambiente intelectual que se vivia na época.
E quando lhe objectaram que o anticomunismo conduz ao fascismo, Aron respondeu com firmeza: «Não temos qualquer credo ou qualquer doutrina a opor à doutrina e ao credo comunistas, mas isso não nos humilha, porque as religiões seculares são sempre mistificações. Elas propõem às multidões uma interpretação do drama histórico e atribuem a uma causa única as infelicidades da humanidade. Ora, a verdade é outra, não há uma causa única ... Não há Revolução que, de um golpe, possa inaugurar uma fase nova da humanidade. A religião comunista não tem rival, ela é a última dessas religiões seculares, que acumularam as ruínas e espalharam torrentes de sangue».
Enquanto isso, Sartre apressava-se a estar do lado da causa do proletariado comunista. Em 1954, de regresso de uma viagem à Rússia onde fora passeado, louvado e empanturrado, dá entrevistas onde afirma: «A liberdade de crítica é total na URSS. O contacto é tão alargado, tão aberto, tão fácil quanto possível». E avança esta predição ousada: «Por volta de 1960, antes de 1965, se a França continuar a estagnar, o nível médio de vida na URSS será 30 a 40 por cento superior ao nosso. É bem evidente, para ela e para todos os homens, que a única relação razoável é uma relação de amizade». E Sartre conhece os factos, sabe do Gulag, mas tem uma atitude dúplice, pois embora condene existência dos campos soviéticos, alerta contra a exploração que disso faz, todos os dias, a imprensa burguesa. Todavia, 2 anos depois, o esmagamento da revolta húngara era um facto demasiado evidente e demasiado público Sartre anuncia então que quebra «as relações com os escritores soviéticos meus amigos, que não denunciaram, ou não podem denunciar, o massacre da Hungria», e descobre, finalmente, que «já passou o tempo das verdades reveladas, das palavras de evangelho: um Partido Comunista não pode viver no Ocidente se não adquirir o direito de livre exame».
Aron tinha mais uma vez acertado. Sartre precisou da brutalidade dos factos para ver, não direi claro, mas alguma ténue luz.
Foi igualmente oposta a posição deles perante o fim da IV República, incapaz de encontrar uma solução para a guerra da Argélia. Sartre preconizava uma nova Frente Popular e o combate ao gaullismo que seria a continuação da política colonial sob uma espécie de monarquia constitucional, Aron apostou no general, prevendo que ele faria uma política contrária aos militares que o tinham chamado. Mais uma vez foi Aron que acertou.
Mas Sartre encontrou outros heróis. Meses antes da crise dos mísseis, escreve «Os cubanos, é preciso repeti-lo, não são comunistas e nunca pensaram em instalar bases de foguetões russos no seu território»!! Fidel é um anjo... Fidel é «o homem para tudo e é o homem de todos os pormenores»... Fidel «é, a um tempo, a ilha, os homens, o gado, as plantas e a terra; ele é a ilha inteira»... vi Fidel no meio dos «seus» cubanos - «os cubanos tinham adormecido um após outro, mas Castro unia-os numa mesma noite branca: a noite nacional, a sua noite...»
Com a crise de Maio de 1968, Sartre abre uma nova página da sua intervenção política. Novos heróis se prefiguram diante dele: os estudantes revoltados e os grupúsculos trotskistas, maoistas e anarquistas que tentavam acaudilhar a revolta. Declara então que o PC e a CGT já não estão na corrida revolucionára: «O que está prestes a formar-se é um novo conceito de sociedade baseado na democracia plena, numa conjunção de socialismo e de liberdade»
Aron, do outro lado da barricada, declara com enorme coragem política, face ao vendaval existente, que os «estudantes franceses formulam várias reivindicações legítimas a partir de motivos de queixa autênticos. Mas uma pequena minoria entre eles, aproveitando a capitulação de muitos professores, graças à inocência política da massa estudantil e dos professores tradicionais, está prestes a conseguir levar a cabo uma operação verdadeiramente subversiva .... Dirijo-me a todos, mas em primeiro lugar aos meus colegas, de todas as correntes de opinião, aos estudantes, tanto aos dirigentes como aos manipulados. Convido todos aqueles que me lerem, e que encontrarem nos meus pontos de vista o eco das suas próprias inquietações, a escreverem-me. Talvez tenha chegado o momento, contra a conjura da lassidão e do terrorismo, de nos reagruparmos, fora de todos os sindicatos, num vasto comité de defesa e de renovação da universidade francesa.»
Nada mais distante das posições de Sartre que acusa com brutalidade o antigo condiscípulo: «Aposto que Raymond Aron nunca se pôs em causa e é por isso que ele é, na minha opinião, indigno de ser professor. Não é o único, evidentemente, mas vejo-me obrigado a falar dele porque, nestes últimos dias, ele escreveu muita coisa.» Contra Aron, Sartre defendia a eleição dos professores pelos estudantes e a participação dos estudantes nos júris dos exames. «Isso implica que deixemos de pensar, como Aron, que pensarmos sozinhos atrás das nossas secretárias - e pensarmos a mesma coisa há trinta anos - representa um exercício de inteligência». Todavia, esse exercício de inteligência tinha permitido ao pensamento político de Aron ser validado pela história, enquanto o de Sartre era apenas uma verdade absoluta enquanto durava cada contexto; depois ele próprio se encarregava de mudar de rumo.
Também aqui as posições de Aron se revelaram correctas. Foi perseguido e para receber um prémio universitário teve que o fazer clandestinamente, mas as eleições marcadas na sequência da crise foram um triunfo para De Gaulle e uma derrota clamorosa para os protagonistas do Maio de 68. Sartre, perante a recusa do PCF e dos sindicatos de encabeçarem o movimento, propôs a refundação da esquerda, «à esquerda» do PCF
E assim Sartre seguiu um percurso ligado ao radicalismo de esquerda. Em 1972 afirmava em entrevista que «continuava a favor da pena de morte por motivos políticos ... num país revolucionário em que a burguesia terá sido expulsa do poder, os burgueses que fomentassem um motim ou uma conspiração mereceriam a pena de morte ... um regime revolucionário deve desembaraçar-se de um certo número de indivíduos que o ameaçam e, para este caso, não vejo outro meio a não ser a morte; é sempre possível sair de uma prisão». No La Cause du Peuple, do qual ele é, desde Maio de 1970, o director titular, pode ler-se apelos a «sangrar os patrões», «esfolá-los vivos como porcos que são», a «linchar os deputados», a «catar os «pequenos chefes», a responder aos patrões sequestrados que ainda pedem «autorização para ir urinar»: «mija nas calças! Não sabes o que são umas cuecas que colam ao traseiro por causa do suor, assim, pelo menos, ficarás a saber o que é ter o cu molhado...», dos comunicados de «operários em revolução», «Vai chegar o dia em que exterminaremos toda a corja de patifes a que pertences». E outras expressões que prefiro não transcrever aqui.
A barbárie de outros textos publicados num jornal, Jaccuse, na década de 70, do qual ele se mantém como director e em relação ao qual, ao que se sabe, não deixou nunca de se mostrar solidário: «quanto a esse patrão, será preciso tirar-lhe os miúdos, se eles os tiver, até que as reivindicações sejam satisfeitas...» e a imagem - que também não o parece escandalizar - de Dreyfus, nessa altura patrão da Régie Renault, em que este surge caricaturado como um cão ocupado a sodomizar outro, suposto representar a «canalha sindical» de Billancourt.
Em meados da década de 20, Aron e Sartre haviam prometido, um ao outro, que aquele que sobrevivesse escreveria o obituário do outro no Boletim dos Antigos Alunos da Escola Normal. Aron não honrou essa promessa e explicou porquê: «Demasiado tempo passou entre a intimidade de estudantes e o aperto de mão na conferência de imprensa do Barco para o Vietname(*), mas ficou qualquer coisa. Deixo aos outros o encargo, ingrato, mas necessário, de celebrar uma obra cuja riqueza, diversidade e amplitude confundem os contemporâneos, de pagar um justo tributo a um homem cuja generosidade e desinteresse ninguém porá em dúvida, mesmo quando se empenhou, e fê-lo por diversas vezes, em combates duvidosos»
É, de facto, preferível, no interesse da memória de Sartre que é um filósofo importante e um escritor de mérito esquecer o Sartre político, cuja lógica do absoluto revolucionário o levou a escrever textos que poderiam figurar em antologias de literatura fascizante. E continuarmos a ler os escritos políticos de Aron, o intelectual lúcido, que durante 40 anos se debateu com a actualidade, tentando captar-lhe o sentido, com objectividade, sem sentimentalismos nem romantismos. Um intelectual que permanece actual.
(*)Em 1979, quando da tragédia dos boat people estiveram juntos para sensibilizarem o Eliseu e o povo francês a colaborarem na tentativa de salvamento das dezenas de milhares de refugiados vietnamitas que fugiam do país por mar em condições dramáticas.
Publicado por Joana às 11:45 PM | Comentários (112) | TrackBack
fevereiro 12, 2005
Vidas Paralelas
Ou como Plutarco entra em campanha
Nobre Guedes afirmou há tempos ao "Diário de Notícias" que Paulo Portas podia ser o nosso Malraux. O pretérito imperfeito português é dos tempos mais imprevisíveis, pois nunca se sabe se é um passado inacabado, um presente cortês, ou um futuro condicionado. Aliás, deveria designar-se por pseudo-pretérito imprevisível para acautelar os utentes do idioma pátrio. Nesta imprevisibilidade resta-me comparar P Portas e Malraux no passado, presente e futuro. Foi o que Plutarco fez com os varões ilustres gregos e romanos. E eu serei menos que Plutarco?
Para começar, a diferença de idades, pouco mais de 6 décadas, pode considerar-se dentro dos limites da razoabilidade, quando se comparam heróis gregos e romanos, ou Malraux (o grego) e Portas (o romano). Mas depois começam a aparecer pormenores que não encaixam. Malraux publicou livros com uma cadência notável, um dos quais, A Condição Humana, obteve o Prémio Goncourt em 1933. Paulo Portas já leva um atraso notável nesta matéria, visto Malraux ter publicado Os Conquistadores logo em 1928 e Portas, por enquanto, nada. Mas tenhamos esperança (e fé!) nas imperfeições dos nossos pretéritos verbais.
Malraux roubou umas estatuetas khmeres do Templo de Banteai Srey em 1923, que lhe valeu a prisão em Phnom-Penh. O processo não deu em nada por vício de forma. A justiça colonial francesa não devia funcionar nada bem. No que toca a Portas, temos o caso Moderna, cuja investigação não deu em nada. Mas há diferenças substanciais: o uso de um Jaguar de uma universidade não tem a estatura de um roubo de baixos relevos khmeres de um Templo, e ser-se investigado não confere as mesmas regalias que ser-se preso.
Também lançou um jornal, mas em Saigão, em 1925, LIndochine (juntamente com a então sua mulher Clara) onde denunciava a exploração colonial. Portas, n'O Independente, denunciou a degradação cavaquista. Não terá a mesma dignidade e expressão histórica, mas já é alguma coisa.
Quando regressou a França, Malraux colaborou em todos os movimentos de intelectuais anti-fascistas Frente de Defesa Anti-Fascista e o CVIA (1934), movimento contra a guerra na Etiópia (1935). E quando deflagrou a Guerra Civil em Espanha, em 1936, lá estava Malraux em combate. Cisneros, do PCE, escreveu dele: foi, à sua maneira, um progressista ... talvez pretendesse ter entre nós um papel semelhante ao que Lord Byron desempenhou na Grécia ... mas ... se a adesão de Malraux, como escritor célebre, podia ser útil à nossa causa, o seu contributo como comandante de esquadrilha revelou-se absolutamente negativo. Mas sabe-se como os comunistas são mal agradecidos. Malraux poderia ser um inábil, mas obteve da França o fornecimento de alguns aviões.
Quanto a Portas ... bem, os tempos são outros, e agora, tal como Malraux o fez após o fim da 2ª Guerra Mundial, a luta é contra o totalitarismo de esquerda. Aí tem-se mostrado muito aguerrido, mas não me parece que venha a ganhar algum Goncourt. Quanto a acções militares, temos que ser indulgentes para com Portas. As épocas são diferentes ... Mesmo assim há que reconhecer o denodo com que perseguiu o barco das holandesas pró-aborto. O barco não trazia munições bélicas, mas tinha um grande potencial desmoralizador.
Malraux, até se aliar a De Gaulle, apoiou os comunistas Tal como a Inquisição não atingiu a dignidade fundamental do cristianismo, os processos de Moscovo também não diminuíram a dignidade fundamental do comunismo. Mas os intelectuais de esquerda, naquela época, disseram tanto disparate de que depois se vieram a arrepender, que não me pareça que se deva lançar aquela frase a crédito (ou a descrédito) de Malraux (também os intelectuais de esquerda, da nossa época, dizem tanto disparate ... só que ainda não chegou a época de se arrependerem). Proponho que se neutralize esta frase nas nossas Vidas Comparadas.
À medida que Hitler se prefigurava como uma ameaça, Malraux tornou-se figura de proa dos amigos da URSS. Por isso não se pronunciou aquando do pacto germano-soviético. Preso durante a guerra foge, vai para a zona de Vichy e em meados de 1944, após a ocupação dessa zona pelos alemães, entra na clandestinidade. Devido a isso, quando a seguir à guerra adere ao RPF do general De Gaulle, passa a ser acusado de seguir o itinerário clássico do entusiasmo revolucionário à "amargura reaccionária.
Era uma erro de análise para Malraux o perigo já não vinha de Hitler, mas do totalitarismo soviético. A uma escala reduzida, mas, cuidado! ... temos que atender à diferença de escala entre os dois países, Paulo Portas também teve um momento de ruptura até 1982, Paulo Portas fez parte da JSD, Juventude Social-Democrata, mudando a seguir para o CDS. Paralelizando ... o perigo vinha agora do autoritarismo cavaquista.
Em 1958, após a tomado do poder por De Gaulle, Malraux torna-se um efémero Ministro da Informação. Infelizmente, P Portas nunca poderia comparar-se a Malraux neste pormenor, pois se nem uma Central de Comunicação o PR consentiu, quanto mais um Ministério da Informação! Cairia o Carmo e a Trindade ... e Belém antes!
Em 1959 Malraux tornou-se Ministro da Cultura. Há aqui um paralelo que, a estabelecer-se, seria muito divertido. Portas, como Ministro da Cultura, a lidar com os agentes culturais portugueses que só produzem para os amigos verem, que só sabem viver na subsídio-dependência e que temem qualquer êxito comercial, que os pode deixar, em definitivo, liquidados culturalmente junto dos seus pares. Uma de três coisas podia acontecer: 1) Ou a Cultura liquidaria Portas; 2) ou Portas liquidaria a Cultura; 3) ou liquidar-se-iam mutuamente. Qualquer das hipóteses 2 ou 3 parece-me um resultado deveras interesse. Para o País e para a Cultura.
Há todavia um paralelo que não consigo estabelecer. No barco que os trouxe da Indochina, Clara teria tido um affaire, que Malraux romancearia num capítulo dA Condição Humana. É bom ser-se casada com um escritor em vez de uma cena de pugilato caricata e burlesca, apanhar com um capítulo cheio de erotismo, numa obra premiada! Porém, neste episódio, não atino com qualquer paralelo ... todavia, talvez Nobre Guedes, que estabeleceu a comparação, saiba alguma coisa. Se souber, que o diga, pois não há qualquer problema, porquanto a má língua só é ignóbil quando se refere a alguém da esquerda. O pessoal da direita não sofre desses complexos ... teve que se habituar ...
Publicado por Joana às 12:13 AM | Comentários (35) | TrackBack
janeiro 17, 2005
Vacas Sagradas
Portugal é um país cheio de sorte. Na Índia há mais de centena e meia de milhões de vacas sagradas, enquanto no nosso país ruminam apenas algumas centenas de vacas sagradas. E isto porque a variante lusitana da Vaca Sagrada é uma espécie urbana, recrutada num segmento social reduzido e cuja única manjedoura é a comunicação social que a alimenta a opíparas rações de artigos de opinião, entrevistas, declarações, proclamações, elegias, ditirambos, odes, soluços, etc., etc.. Vem isto a propósito das imprecações junto às muralhas do meu post sobre afirmações de Helena Roseta.
Eu escrevi há uns meses que, enquanto nas outras espécies, o Criador providenciara, para incentivar a procriação, que o acto de geração fosse acompanhado de um intenso prazer, as Vacas Sagradas, pelo contrário, geravam-se num acto de desprazer. Uma crítica, por menor que fosse, qualquer pretensão de melhorar ou mudar algo, expressa publicamente, que causasse desprazer a um qualquer óvulo de úteros culturais ou empenhados em causas alegadamente cívicas, causava uma fecundação e um parto simultâneos e a transfiguração imediata desse óvulo numa Vaca Sagrada. Esta espécie não conhece as alegrias descuidadas da adolescência. Não há vitelas sagradas. Aparece imediatamente sob a forma de Vaca Sagrada.
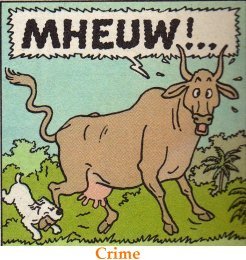
E, como qualquer (perdoem-me este blasfemo determinante indefinido) ídolo, a Vaca Sagrada, ao transfigurar-se em ícone, representa-se sempre rodeada de adoradores acocorados em êxtases sublimes.
Por exemplo, Maria Filomena Mónica recenseou, no início de Dezembro passado, no Público, uma série de poemas primários, possidónios e indecorosos publicados pelo eminente sociólogo Boaventura Sousa Santos, há pouco mais de 20 anos.
Mas Maria Filomena Mónica não se apercebeu que Boaventura Sousa Santos é a Vaca Sagrada cujas regurgitações impressas e televisivas mais deliciam os adoradores desta espécie. Imediatamente duas dúzias de bonzos da cultura rupestre lusitana (e da política rupestre) vieram a terreiro num abaixo assinado público, no Público, acusando Filomena Mónica de denegrir o pensamento sociológico daquela Vaca Sagrada a pretexto de uns versejos infelizes e canhestros.
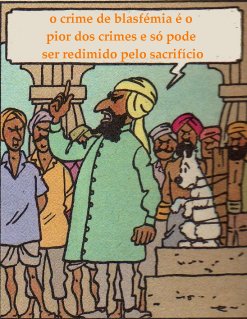
Nenhum daqueles bonzos teve a ousadia de apregoar as virtudes poéticas de Boaventura Sousa Santos. Também os adoradores de Krishna não idolatram a bosta das Vacas. Os bonzos apenas se insurgiam, duramente, civicamente e empenhadamente, contra o facto da Filomena Mónica ter utilizado a bosta do animal para o denegrir.
Mas há mais Vacas Sagradas de tetas úberes que pastoreiam e ruminam pelos prados da comunicação social e das alegrias cívicas das causas dos estereótipos pseudo-libertários. Verifiquei há dias que Helena Roseta era uma delas. E era evidente: um óvulo da espécie obreirista e pró-aborto transfigurar-se-ia em Vaca Sagrada ao mínimo desprazer. Foi o que aconteceu. E imediatamente acolitada por brâmanes iconólatras em justificada histeria, pois o crime de blasfémia é o pior dos crimes segundo os cânones dos adoradores das Vacas.
Infelizmente esta espécie não serve para nada. Não as podemos exportar porque lá fora ninguém quer estas reses. Cá dentro só estorvam. Espojam-se nos carris do progresso, impedindo o tráfego. Não passam de arqueologia ideológica.
Publicado por Joana às 10:11 PM | Comentários (54) | TrackBack
dezembro 23, 2004
Blogs de Outras Épocas (1822) 3
Um Ouvidor
A seguir estão as 3 primeiras páginas do panfleto de resposta de Pato Moniz, sob o nick de Um Ouvidor às gaitadas de Agostinho de Macedo.
Agostinho de Macedo escreveu, que eu conheça, 4 gaitadas. Não consigo situar em que altura das gaitadas se insere esta resposta. Aliás Pato Moniz escreveu dezenas de panfletos contra o Padre, como também lhe chamava, pelos mais diversos motivos, normalmente em resposta a panfletos do "Padre".
Só coloco as 3 primeiras páginas, porque me parecem suficientes para avaliar o estilo. Achei que não deveria sobrecarregar desnecessariamente o blog, mas poderei mudar de opinião ...
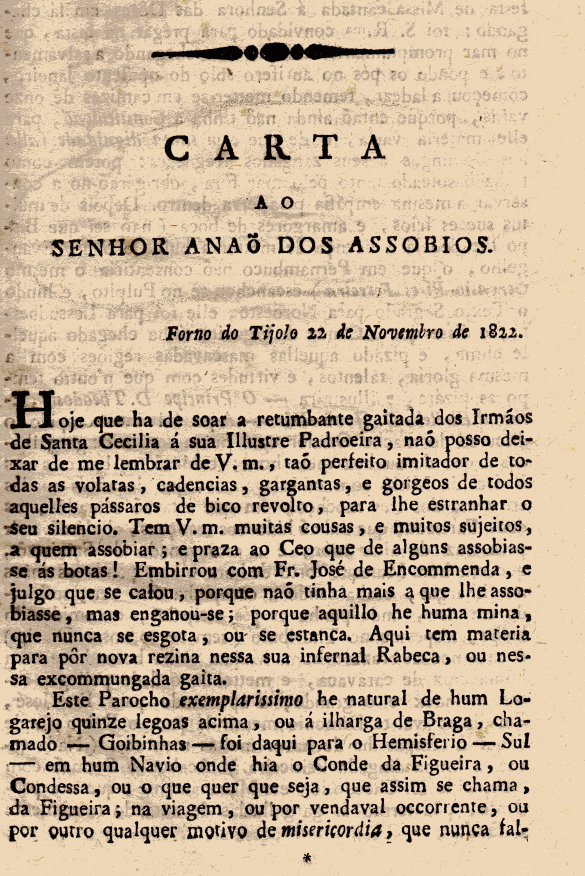
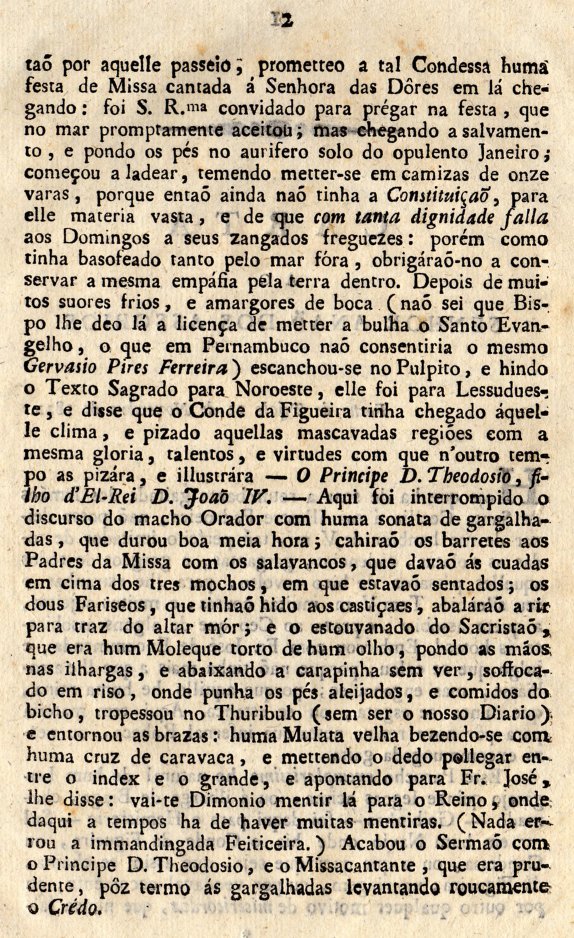
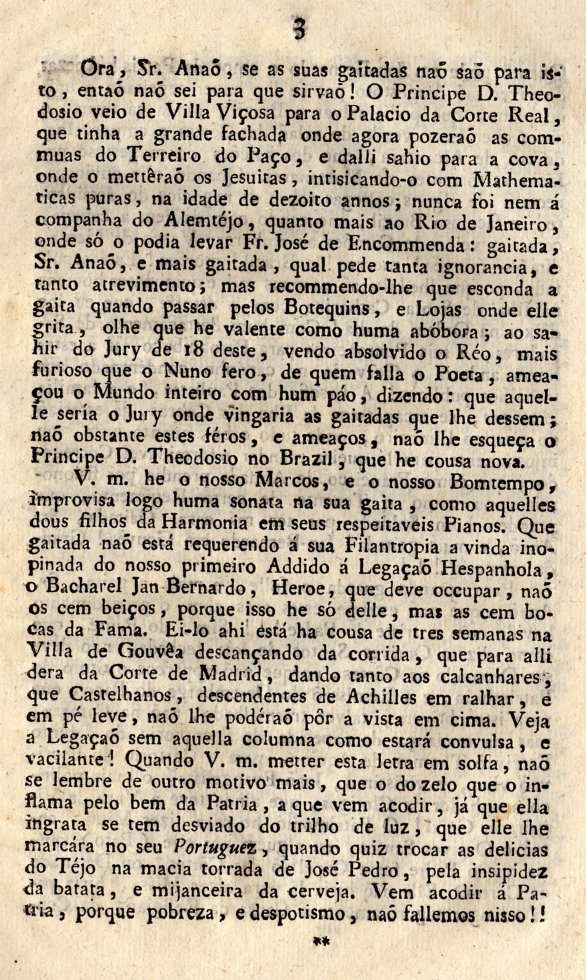
Publicado por Joana às 08:01 PM | Comentários (5) | TrackBack
Blogs de Outras Épocas (1822) 2
O Anão dos Assobios
Gaitada 2 últimas 4 páginas
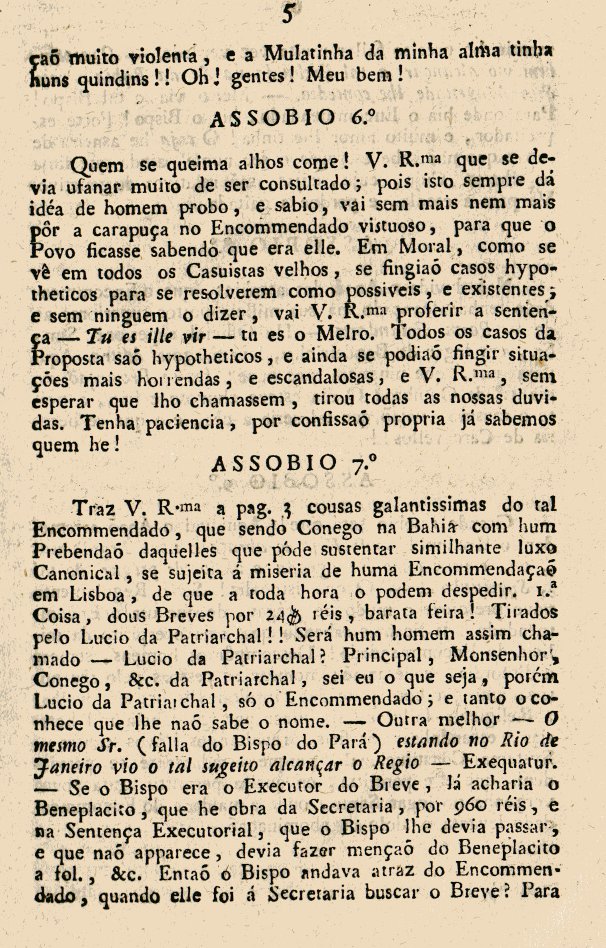
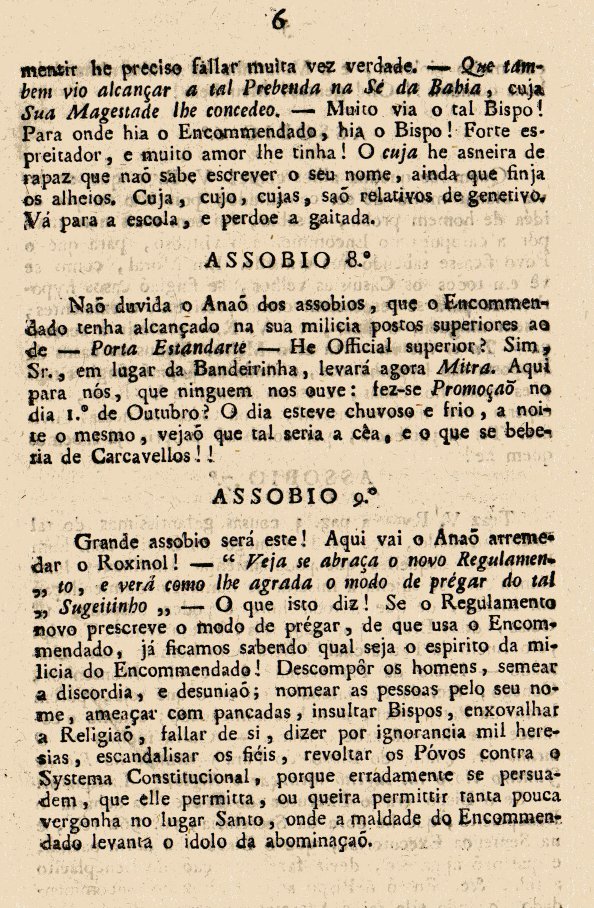
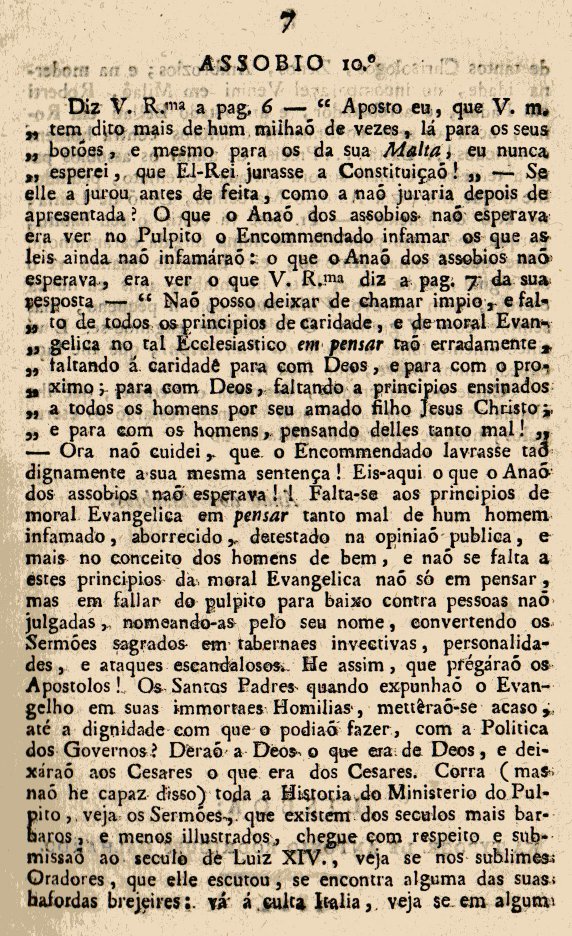
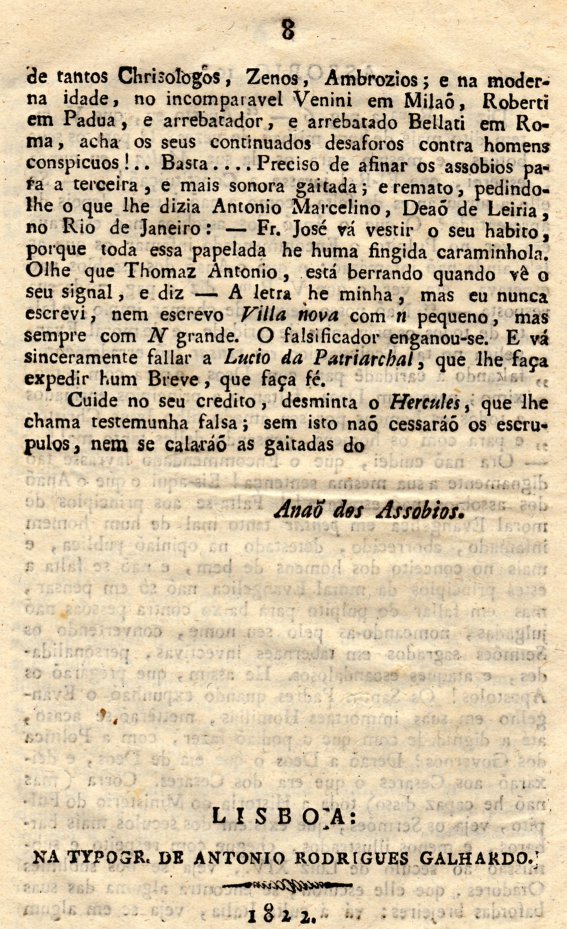
Publicado por Joana às 07:45 PM | Comentários (3) | TrackBack
Blogs de Outras Épocas (1822)
O Anão dos Assobios
Os frequentadores da blogosfera julgavam, provavelmente, que tinham inventado a realidade virtual, a polémica política grosseira e os insultos a coberto dos nicks, Puro equívoco. Vou mostrar-vos, neste e nos próximos posts, 2 blogs que se combateram ferozmente no longínquo ano de 1822 (e não só).
O primeiro é o Anão dos Assobios, blog pertencente a José Agostinho de Macedo, embora ele o tenha tentado negar. Todavia Inocêncio da Silva assevera que o Padre Agostinho de Macedo era mesmo o Anão dos Assobios. Vejam como meio século depois se descobre o nome acobertado atrás de um nick!
O outro blog era de Pato Moniz. Não tinha nome fixo, umas vezes assinava Um Seu Ouvidor, outra vezes era o Mestre Artista, mas todos os seus posts eram respostas a escritos de José Agostinho de Macedo. Bem vistas as coisas, o blog de Pato Moniz era dependente do blog do Padre Agostinho de Macedo.
Pato Moniz era liberal e Agostinho de Macedo miguelista. Escrever blogs naquela época era mais arriscado que hoje. Apesar de o país ainda estar sob a vigência do vintismo, embora final e já combalida, Pato Moniz foi desterrado para a Ilha do Fogo, ao que parece por pertencer à maçonaria. Morreu lá poucos anos depois, ainda relativamente novo.
Cada post do Padre Agostinho de Macedo, nesta altura, era designado por gaitada, o que diz bem dos intuitos do post. Cada folheto destes era constituído por 8 páginas (normal, devido à dobragem do papel saído da impressora) escritas do princípio ao fim. A técnica da impressão é que comandava a dimensão do post!
Vou colocar aqui as 4 primeiras páginas da Gaitada 2, a que me pareceu ser a mais legível, pelos hábitos actuais. No meu post seguinte colocarei as últimas 4.
A Gaitada 2 insere-se no protesto (anónimo) de Agostinho de Macedo por o seu nome haver sido riscado em diversos círculos, onde teve muitos votos, como Alenquer e Setúbal, por incompatibilidades. Como ele era pregador régio, foi considerado, pela vaga liberal, que então comandava o país, como assimilável a Criado del rei! Mas mesmo assim conseguiu ser eleito pelo círculo de Portalegre, mas apenas como primeiro substituto. Como o lugar nunca vagou, ele nunca ocupou o lugar nas Cortes. Isso tornou-o muito despeitado. Esta gaitada insere-se nessa questão.
Apreciem o tipo de polémica e as mexeriquices trazidas à colação.
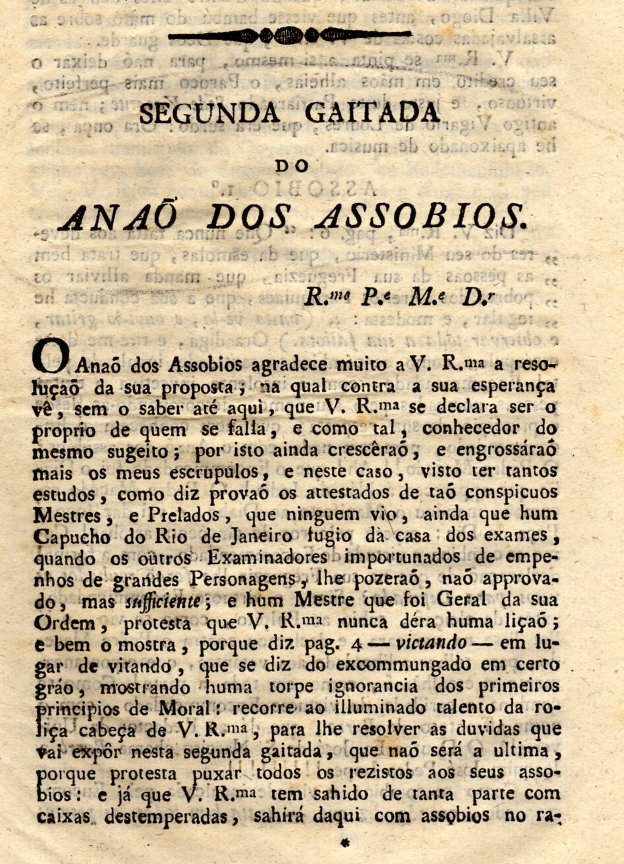
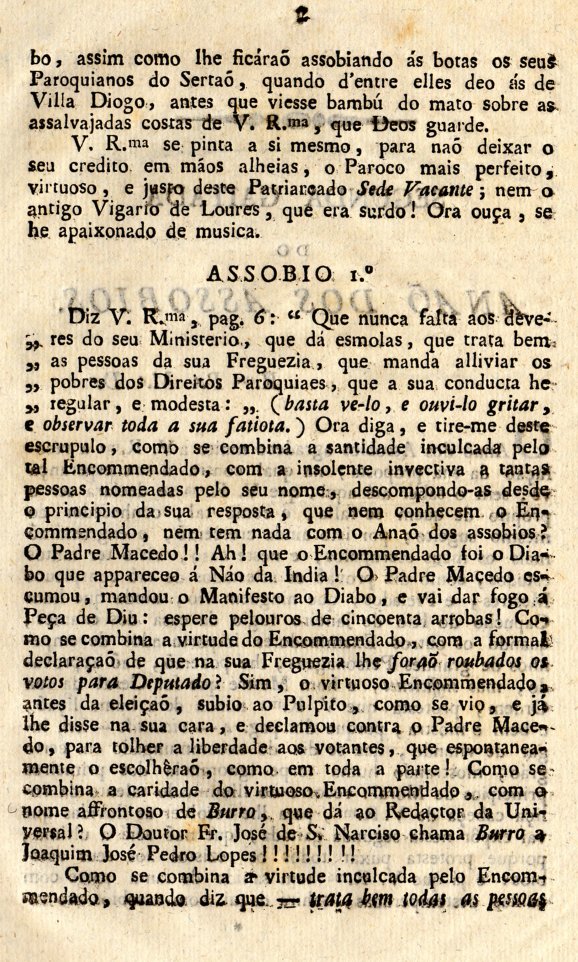
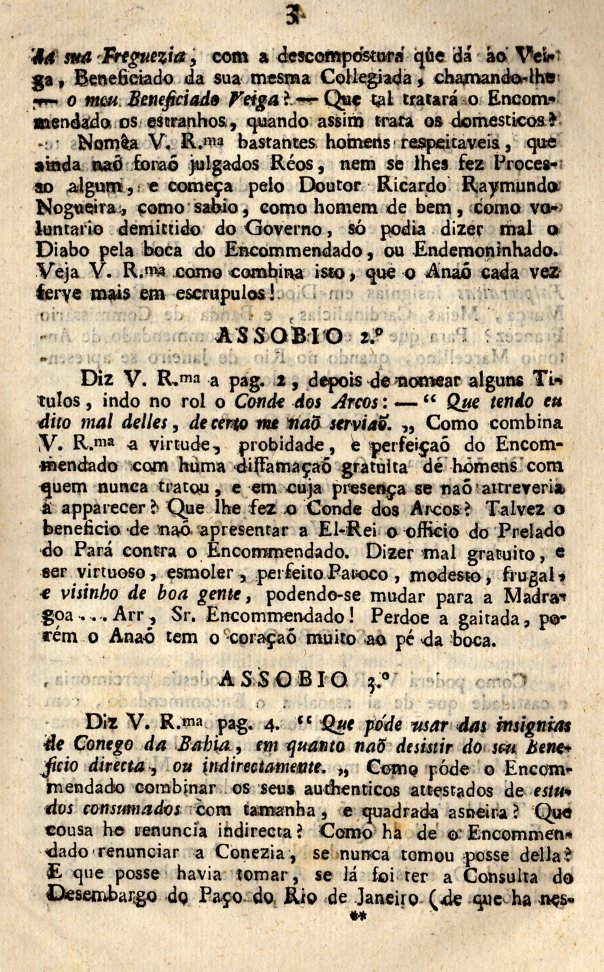
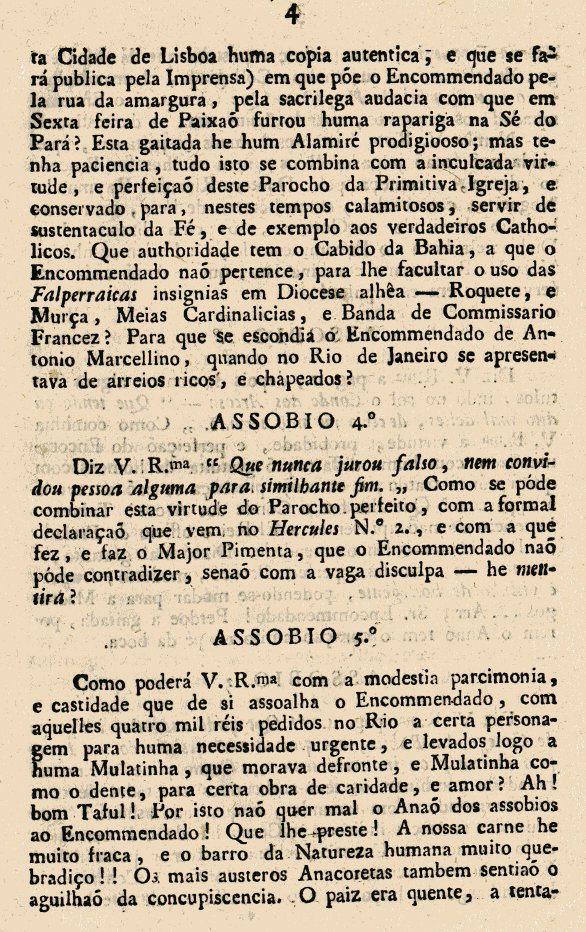
Ver a seguir:
Blogs de Outras Épocas (1822) 2
Blogs de Outras Épocas (1822) 3
Publicado por Joana às 07:20 PM | Comentários (3) | TrackBack
dezembro 19, 2004
Tosca e Marengo
Nem tudo é explicável. Ou talvez tudo seja explicável, mas por razões profundas e complexas. Há todavia um facto incontornável. Sinto um encanto muito especial pela Tosca de Puccini. Há três momentos que me tocam profundamente a forma espantosa como Scarpia enreda Tosca na sua teia de intriga, naquele final do primeiro acto, portentoso de força; o momento em que Scarpia é informado que afinal Melas havia sido derrotado em Marengo e Mario Cavaradossi entoa «Vittoria! Vittoria! ... Libertà sorge, crollan tirannidi!»; e o momento final do II acto, em que Tosca apunhala Scarpia «Questo è il bacio di Tosca!», e exclama numa voz de desprezo, profunda e ardente, debruçada sobre o corpo de Scarpia, deixando cair o braço inerte do chefe dos carrascos de Roma, de cuja mão retirara o salvo-conduto: «E avanti a lui tremava tutta Roma!».
A trama desta intriga desenrola-se em paralelo com as informações que, do campo de batalha de Marengo, chegavam a Roma, ao Estado Romanos, o "Patrimonium Petrii" de cujo soberano, o Papa, Stendhal afirmaria que fazia a felicidade dos seus súbditos no céu e a sua miséria na terra.
Dois anos antes os franceses comandados pelo general Championnet haviam ocupado Roma e nomeado Cesare Angelotti como Cônsul da República Romana. Seguidamente Championnet conquistaria Nápoles e criaria a República Partenopeia. Ferdinando IV, o rei das Duas Sicílias, teve que fugir com sua mulher Maria Carolina (irmã de Maria Antonieta) para a Sicília, onde organizaram a resistência e aproveitando as dificuldades das tropas francesas, pressionadas pela «2ª coligação», que incluía a Inglaterra, a Áustria e a Rússia, e com um governo (o Directório) desacreditado, desembarcaram na península, apoiados pela revolta popular contra um governo satélite de França, retomaram Nápoles e depois Roma, onde o barão Scarpia com sua polícia secreta, conseguiu restabelecer a monarquia papal e derrubar a República. Angelotti foi encarcerado.
Para consolidar o seu golpe de Estado do 18 de Brumário, que derrubara o Directório, Napoleão precisava de vencer a Áustria, a principal potência continental, subvencionada pela Inglaterra. Como na anterior campanha, enquanto Moreau mantinha a pressão sobre as forças austríacas, na Renânia, Napoleão, então apenas o general Bonaparte, 1º Cônsul da República, concentrou os seus esforços no norte da Itália, no intuito de destruir o imponente dispositivo militar que a Áustria havia estabelecido aí, com o apoio dos pequenos estados do norte da península.
Bonaparte não estudava, de antemão, os pormenores dos planos das campanhas; considerava os objectivos estratégicos essenciais e as vias possíveis de os conseguir. As preocupações propriamente militares só o absorviam quando o contacto com as forças inimigas estava próximo. Nessa situação mantinha um serviço de recolha de informações muito preciso sobre os movimentos do inimigo e mudava o seu dispositivo militar com muita frequência, consoante as informações de que dispunha. Essa rapidez com que alterava as suas posições e o imprevisto dessas mudanças foi um dos motores do seus êxitos.
Outro dos seus factores de sucesso, antes que os seus êxitos o fizessem acreditar que seria sempre invencível, foi nunca subestimar a capacidade de discernimento do inimigo e nunca supor que este agisse de uma forma menos inteligente que a sua.
O essencial do dispositivo militar de Melas, que no total compreendia 120.000 homens, estava no sul do Piemonte e empregava as suas forças principais com o objectivo de tomar Génova, ocupada por uma guarnição francesa. Era pela costa mediterrânica que Melas esperava Bonaparte e a tomada de Génova assegurar-lhe-ia uma forte posição que impediria o avanço das forças francesas.
Todavia Bonaparte atravessou o S. Bernardo, com 60.000 homens e todo o trem militar muares, canhões, etc. - e penetrou no Piemonte pelo nordeste, eixo que era considerado impraticável. Assim, enquanto Melas conseguia tomar Génova, as forças francesa invadiam à vontade as planícies piemontesas, eliminando pequenos destacamentos austríacos que encontraram, e Bonaparte marchou directamente para Milão, capital da Lombardia. As tropas francesas estavam na retaguarda de Melas. Conforme diria Napoleão, este operou contra Melas, como se Melas fosse Napoleão, enquanto que Melas conduziu-se perante Napoleão, como se este fosse Melas!
Melas viu-se numa situação complexa, com as suas forças dispersas pelo Piemonte, Ligúria e Lombardia e correndo o risco de Bonaparte poder bater, sucessiva e separadamente, os seus corpos de exército. Entre Alessandria e Tortona há a extensa planície de Marengo, onde Melas decidiu concentrar as suas forças. Foi para aqui que Napoleão se dirigiu depois de restabelecer o poder francês em Milão.
A batalha começou na manhã de 14 de Junho de 1800. As forças austríacas eram superiores em número e a rapidez de movimentos do exército francês não havia permitido a junção de todas as forças indispensáveis aos planos de Bonaparte. Durante toda a manhã e início da tarde, os franceses recuaram face a tenacidade e superioridade numérica dos austríacos. A batalha parecia perdida. A meio da tarde, Melas, cheio de júbilo, enviou correios com despachos para a Corte de Viena, e para as cortes dos estados italianos, entre eles Roma e Nápoles, comunicando a vitória completa dos austríacos, a derrota do ímpio Bonaparte, os troféus capturados, os prisioneiros e os canhões capturados.
Foram estes despachos que chegaram à corte papal, perto do fim do I Acto da Tosca. Angelotti, fugindo do Castelo de SantAngelo, refugiara-se na igreja de SantAndréa della Valle. Aí foi ajudado a esconder-se pelo pintor Mário Cavaradossi. A chegada de Floria Tosca, amante de Mário e ciumenta em extremo (È una donna... gelosa), precipita a acção e leva a que Tosca descubra o retrato da Marquesa Attavanti que Mário pintara sem que esta o soubesse (Chi è quella donna bionda lassù?). Mário inventa que seria Maria Madalena, mas Tosca reconheceu a marquesa, o que desencadeou uma cena de ciúmes que Mário conseguiu aplacar.
Foi na sequência desta cena que o Sacristão da Igreja de Sant'Andrea della Valle, entra radioso na igreja chamando os alunos do coro para cânticos festivos «Nol sapete? Bonaparte... scellerato... Bonaparte... Fu spennato, sfracellato, è piombato a Belzebù!». E as manifestações jubilosas só são interrompidas com a chegada do Barão Scarpia, acompanhado pelos seus esbirros e por aqueles acordes profundos e tensos que sublinharão sempre, durante o decorrer da ópera, as intervenções de Scarpia. Um tema, cheio de força, ressumando a terror e a ódio.
Mas Scarpia não é apenas o paradigma do polícia político torcionário e abjecto. É uma figura muito mais subtil que isso. Scarpia é o homem do poder que para saciar o seu desejo mistura a esfera política e a esfera privada. É o exemplo acabado da forma mais perversa do abuso do poder. Desde a sua entrada na Igreja «Un tal baccano in chiesa! Bel rispetto!», referindo-se às manifestações de alegria dentro do templo, até ao fim da ópera, mesmo depois de ser assassinado, ele é a figura central e todos os outros personagens não são mais que títeres manejados pelas suas mãos poderosas e peçonhentas.
E todo o fim desse I Acto será a urdidura da intriga de Scarpia, explorando os ciúmes de Tosca, que entretanto regressara para cancelar o encontro com Mário, por ter sido convidada pela Rainha Maria Carolina, então em Roma, para um sarau festivo em glória da vitória de Melas, mostrando-lhe o leque com o brasão dos Attavanti e fazendo insinuar um violento ciúme no seu seio «Va, Tosca! Nel tuo cuor s'annida Scarpia!... È Scarpia che scioglie a volo il falco della tua gelosia.»
Mas Scarpia, ao subverter a consciência de Tosca, sente despertar nele o desejo carnal pela diva do canto; a multidão entoa o Te Deum pela vitória sobre Bonaparte enquanto Scarpia exclama «Tosca, mi fai dimenticare Iddio!», antes de se penitenciar, associando-se, com empenhada religiosidade, ao imponente coro da Igreja de Sant'Andrea della Valle. É um final com uma força enorme, grandioso, de uma dimensão musical e cénica que perdura em quem quer que o tenha visto alguma vez.
Mas a partir do meio da tarde desse dia 14 de Junho, a situação mudou bruscamente no teatro das operações. A divisão do general Desaix, que foi morto logo no começo da operação, irrompeu no campo de batalha e arremeteu no momento decisivo sobre as tropas austríacas. Simultaneamente Bonaparte fez avançar as suas tropas que haviam recuado e tudo isto redundou numa completa derrota de Melas. Antes do fim do dia os austríacos tinham perdido metade da artilharia e deixado milhares de prisioneiros nas mãos de Bonaparte. A mortandade entre os austríacos havia igualmente sido enorme. Todo o dispositivo militar austríaco no norte da Itália havia sido aniquilado.
Meia dúzia de horas depois de terem partido os correios com as novas da vitória, partiram os mensageiros com a notícia do completo aniquilamento das forças de Melas. Foi esta notícia que Sciarrone, um dos esbirros de Scarpia traz, a meio do II Acto, ao Palácio Farnese, à câmara de Scarpia, onde estavam Cavaradossi, prostrado pela tortura, e Tosca regressada do sarau da Rainha de Nápoles. «Eccellenza! quali nuove!... Un messaggio di sconfitta... »
Scarpia - Che sconfitta? Come? Dove?
Sciarrone - A Marengo... Bonaparte è vincitor!
Scarpia - Melas...
Sciarrone - No! Melas è in fuga!...
E então Mário Cavaradossi, na agonia da tortura, encontra forças para entoar um belíssimo e comovente hino à liberdade:
Vittoria! Vittoria!
L'alba vindice appar
che fa gli empi tremar!
Libertà sorge, crollan tirannidi!
Del sofferto martîr
me vedrai qui gioir...
Il tuo cor trema, o Scarpia, carnefice!
Enquanto Tosca, sem pretensões políticas, apenas mulher, apenas amor, pressentindo as intenções de Scarpia, lhe pedia temerosa: «Mario, taci, pietà di me!».
Scarpia é o polícia sádico que procura o sofrimento e o ódio no objecto do seu desejo carnal. O seu fim último é a completa humilhação do objecto do seu desejo. O suplício de Cavaradossi é dirigido principalmente contra Tosca. Enquanto Mário é torturado, ouve-se o som do canto de Tosca no sarau da rainha. Mário é um mero, mas necessário, instrumento da dialéctica carrasco-vítima que une Scarpia e Tosca. Mesmo a notícia da derrota de Melas e do próximo fim do seu poder não perturba minimamente o seu percurso de carrasco sádico. E é morto por Tosca no momento em que ia gozar o prazer supremo de a possuir. Mas o seu poder e a sua arte da intriga perduraram para além da sua morte. O fuzilamento de Cavaradossi, que prometera a Tosca ser dissimulado, foi mesmo real. Tosca suicida-se lançando-se da plataforma do Castelo de Sant'Angelo, onde Mário acabara de tombar, fuzilado: «O Scarpia, avanti a Dio!». As suas derradeiras palavras seriam para Scarpia.
Já vi esta ópera ao vivo. Revi-a este fim de semana, em DVD, numa excepcional interpretação de Angela Gheorghiu, Roberto Alagna e Ruggero Raimondi (Scarpia). Não consigo ver a cena da ária «Vittoria! Vittoria!», de Cavaradossi, sem que uma lágrima furtiva (ou várias ... muitas) me embacie os olhos e me humedeça a face. É dos momentos mais belos e puros do espectáculo operático.
Publicado por Joana às 08:19 PM | Comentários (7) | TrackBack
novembro 28, 2004
Descodificando o Código da Vinci 2
Código da Vinci, a sucessão de Fibonacci e o número de ouro
No que se refere à sucessão de Fibonacci e ao número de ouro (Φ = 1,618033 ...) designado pela letra grega phi em honra de Fídias (Phideas), trata-se de uma matéria conhecida há séculos e que nada tem de sobrenatural. É uma proporção que ocorre com muita frequência na natureza e que é referida como a proporção esteticamente ideal. Mas a arquitectura da vida e da natureza tem igualmente uma origem comum, matrizes comuns e haver essas matrizes comuns os átomos, o código genético, etc., pode ser excitante do ponto de vista do aprofundamento do conhecimento científico da natureza, mas nada tem de sobrenatural.
Os artistas da Renascença designaram por número de ouro, um número que, desde a mais remota antiguidade, era visto como símbolo cosmológico e fórmula mágica. Pelas propriedades de que goza , o número de ouro é chave de diversas construções geométricas utilizadas, desde há muitos séculos, na Arquitectura; a proporção que ele traduz é considerada particularmente estética e numerosas obras primas da pintura e da escultura inspiraram-se nele. O número de ouro também chamado Divina Proporção desde que Fra Luca Paccioli, sob a influência de Piero de La Francesca, escreveu um livro sobre este número com desenhos de Leonardo da Vinci (o primeiro a utilizar a expressão sectia aurea), é talvez, de todos os números, o mais famoso e ubíquo. No século XX o arquitecto Le Corbusier (1948) fundamentou nas propriedades do número de ouro, o seu MODULOR, espécie de tabela, com medidas padrão, a ser utilizada nas obras arquitectónicas.
O MODULOR. módulo de ouro, é uma tabela para uso da Arquitectura, inspirada no número de ouro Φ. Le Corbusier construiu-a tomando como base três medidas aproximadas, 43cm, 70cm e 113cm, onde 113 = 70 + 43 e cuja razão é o número de ouro. Note-se que a secção áurea de 113 é 70; que a de 70 é 43 = 113 - 70; que a de 43 será 27 = 70 - 43, e assim sucessivamente. Assim, Le Corbusier parte de 113 e continua, nos dois sentidos, construindo uma cadeia de secções áureas a que chamou série vermelha:
4 - 6 - 10 - 16 - 27 - 43 - 70 - 113 - 183 - 296
A estatura humana correspondia à medida de referência 183cm. A altura ao solo do umbigo seria de 113 cm; o joelho situar-se-ia a 43cm, etc.. As medidas da série vermelha foram, por Le Corbusier, tomadas como base para o estudo das alturas das bermas, bancadas, cadeiras, mesas, balcões, janelas, muros, portas, tectos, etc..
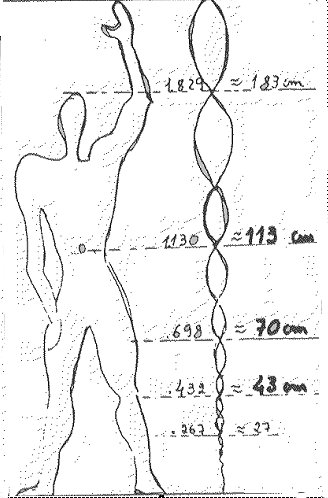
Matematicamente, número de ouro é a raiz positiva da equação: x2 x 1 = 0. É uma dízima infinita não periódica. Com dez casas decimais podemos escrever Φ = 1,6180339887.... Também pode ser obtido através da sucessão de Fibonacci, cuja principal propriedade é que cada termo é a soma dos dois termos que o antecedem.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 ...
A razão entre cada termo desta sucessão e o anterior converge rapidamente para o número Phi, que é o limite dessa sucessão. O seu inverso representa 0, 618033 também um papel importante na proporção áurea. O inverso do número de ouro é a raiz positiva da equação: x2 + x 1 = 0.
No caso de Le Corbusier, este aplicou aquela proporção partindo de um valor de referência (183 cm). Construiu portanto uma sucessão com valores diferentes da de Fibonacci, mas com a mesma razão entre os números consecutivos.
Geometricamente o número de ouro pode ainda ser calculado pela razão entre a diagonal e o lado de um pentágono regular. Ou seja, pela razão entre uma qualquer das linhas do pentagrama e a distância entre duas extremidades contíguas do mesmo. Sendo assim, o número de ouro pode ser obtido pela expressão 0,5*(1 + RQ(5)), onde RQ significa raiz quadrada. Obviamente estas coincidências excitam as imaginações e facilitam a elaboração de especulações esotéricas.
O número de ouro é muitas vezes relacionado com o chamado "rectângulo de ouro", que tem intrigado estudiosos desde há muitos anos atrás. Este rectângulo baseia-se no seguinte princípio formulado pelo alemão Zeizing, em 1855:
Para que um todo dividido em duas partes desiguais pareça belo do ponto de vista da forma, deve apresentar a parte menor e a maior a mesma relação que entre esta e o todo.
Ou seja, dado um segmento de recta AB, um ponto C divide este segmento de uma forma mais harmoniosa se existir a proporção de ouro AB/CB = CB/AC (sendo CB o segmento maior). O número de ouro é exactamente o valor da razão AB/CB, a chamada razão de ouro. O rectângulo de ouro goza da seguinte propriedade: suprimindo-lhe o quadrado de lado igual ao seu lado menor, sobra um rectângulo com as mesmas proporções que o primeiro, isto é, semelhante ao primeiro. Se a cada rectângulo áureo se retirar o quadrado de lado menor obtém-se outro rectângulo áureo, e assim sucessivamente
Portanto, se desenharmos um rectângulo cuja razão, entre os comprimentos dos lados maior e menor, é igual ao número de ouro, obtemos um rectângulo de ouro. O rectângulo de ouro é uma entidade matemática que marca forte presença no domínio das artes, nomeadamente na arquitectura, na pintura, e até na publicidade. Este facto não é uma simples coincidência já que muitos testes psicológicos demonstraram que o rectângulo de ouro é de todos os rectângulos o mais agradável à vista. Por exemplo, o Parténon, em Atenas, está calculado com base no número de ouro, visto que a Arquitectura grega considerava a proporção áurea como a proporção perfeita, o máximo da harmonia. Inclusive na Grande Pirâmide de Gizé, construída pelos egípcios, o quociente entre a altura de uma face pela metade do lado da base é quase 1,618, embora há 45 séculos ninguém tivesse alguma vez ouvido falar no número Phi.
A divisão de um segmento de recta feita segundo essa proporção, denomina-se divisão áurea, a que Euclides chamou divisão em média e extrema razão, também conhecida por secção divina ou secção áurea, segundo Leonardo da Vinci, como escrevi acima. No fundo a formulação é simples: Para seccionar um todo em partes desiguais, de modo a obter equilíbrio e beleza, é preciso que a razão entre o todo e a parte maior seja igual à razão entre esta e a parte menor. Portanto o número de ouro aplica-se ao rectângulo, mas igualmente à divisão em troços de um segmento de recta.
Até hoje não se conseguiu descobrir a razão de ser dessa beleza, mas a verdade é que existem inúmeros exemplos onde o rectângulo de ouro aparece. Até mesmo nas situações mais práticas do nosso quotidiano, encontramos aproximações do rectângulo de ouro, é por exemplo o caso dos cartões de crédito e outros documentos do género, assim como a forma rectangular de muitos dos nossos livros, embora ultimamente, por questões de normalização na dobragem do papel, a relação entre os lados das folhas de papel normalizado esteja na proporção da raiz quadrada: A0, A1, ...,A4, A5, etc...
Todavia não é verdade que as proporções dos seres humanos «se ajustem com flagrante exactidão a esse rácio», como escreve o autor do Código da Vinci. As pessoas não são todas iguais, nem têm todas as mesmas proporções. O que é todavia verdade é que essas proporções são vistas como um ideal de beleza. Isto é, segundo os nossos critérios de estética sobre as proporções das coisas e das pessoas, quando essas proporções estão de acordo com o número de ouro, consideramo-las mais belas.
Talvez por isso, os egípcios do tempo de Khéops tenham utilizado um valor aproximado àquela proporção na Grande Pirâmide, embora nada permita concluir tenham sido guiados pelo número Phi.
Nota: Ver O Número de Ouro in Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática nº 17 (Junho 1990), nº 19 (Fevereiro 1991) e nº 20 (Junho 1991)
Publicado por Joana às 07:53 PM | Comentários (20) | TrackBack
Descodificando o Código da Vinci
O papel da Igreja Oficial
Depois de ter resistido longos meses, acabei por capitular perante o entusiasmo popular ... não, não comecei a ver a Quinta das Celebridades, ...não estou assim tão desmuniciada e indefesa ... aproveitei este fim de semana e li o Código da Vinci!
Trata-se de um absorvente romance policial, jogando com a sede pelo esoterismo misterioso de uma sociedade que já não se reconhece nos seus valores tradicionais e que busca refastelar-se em mistérios baseados numa amálgama de religião, magia, mitologias, ocultismo e histórias fantásticas. Para mim o livro foi absorvente porque me perguntava como ia o autor sair da embrulhada que tinha criado e que ia empolando de capítulo para capítulo. Optou pela solução óbvia de regressar às origens ... isto é, o mistério continuar oculto dos olhos da humanidade ... excepto dos seus milhões de leitores.
Relativamente à herança cristã dos ritos orientais, eu já havia escrito neste blogue, no Natal do ano passado, Semiramis e o Natal, onde mostrei, embora em tom ligeiro, que muito da liturgia cristã é herdeira dos ritos e ícones de religiões anteriores, e resumi escrevendo que «A gestação do cristianismo durou vários séculos num meio político que o hostilizava. A religião cristã acabou por incorporar na sua liturgia imensos símbolos das religiões que a precederam a Virgem e o menino, o Natal, a Páscoa, o halo que se perfila por detrás da cabeça de Cristo (posteriormente alargado às representações dos santos), que representa uma reminiscência simbólica do sol invencível, etc.».
No que se refere ao pretenso "Priorado de Sião", julgo que se trata de um embuste inventado há duas ou três décadas. E a menos que me provem o contrário continuarei a dar ao "Priorado de Sião" o mesmo valor que a "Os Protocolos dos Sábios do Sião" que se descobriu ser uma fraude feita na Rússia pela Okhrana (policia secreta dos Czares), com o intuito de culpar os Judeus pelos males do país.
No que se refere à vida de Cristo, as fontes são os Evangelhos, sobre os quais existem dúvidas sobre a autoria, a época e sequência em que foram escritos. Pensa-se, por exemplo, que o Apocalipse seria o primeiro documento do Novo Testamento, escrito ainda no século I, pois a doutrina aparenta estar menos elaborada que nos restantes escritos. Basta ver a sua referência à Babilónia prostituída (Roma) que indiciava um ódio ao poder e às instituições romanas que depois se foi diluindo ... a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Portanto, contrariamente à ordem do Novo Testamento, o Evangelho segundo S. João seria o primeiro que foi escrito e não o último.
Assim, admitindo que este evangelho tivesse sido escrito entre 80 e 90 DC, então a versão oficial dos restantes teria sido escrita em meados do século II, portanto cerca de um século após os factos a que se refere. O tempo suficiente para muitas lendas se terem criado e acrescentado. Aliás há contradições entre esses evangelhos, como no caso de Jesus Cristo ter ou não irmãos.
Todavia, existe um outro testemunho da época. Flávio Josefo, judeu, escreveu sobre Jesus nas Antiguidades Judaicas 18,3,3 parágrafos 63 e 64, por volta do ano 95 dC. Existem, porém, duas versões sobre o mesmo trecho, uma mais antiga, em língua grega, que refere Jesus como o Messias, e uma tradução árabe que omite tal coisa. Aquela afirmação, no texto grego, poderá ser uma interpolação acrescentada posteriormente por piedosa mão cristã; mas também poderá ter sido omitida no texto árabe por motivos óbvios. Mesmo que o texto grego seja integralmente genuíno, poderá ser, todavia, uma opinião do Flávio Josefo, baseada no ouvir dizer.
Esta discrepância constata-se ao comparar Orígenes (185-254) na Polémica contra Celso (245-50 DC) e Eusébio de Cesareia (260-339) na História Eclesiástica (324 DC). Orígenes acusa Flávio Josefo de não reconhecer Cristo como o Messias, enquanto que o Bispo Eusébio o cita na sua versão actual. As versões que ambos citam não são idênticas. Quanto aos dois textos (grego e árabe) são os seguintes:
Texto Grego:
Naquela época vivia Jesus, homem sábio, se é que o podemos chamar de homem. Ele realizava obras extraordinárias, ensinava aqueles que recebiam a verdade com alegria e fez-se seguir por muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. E quando Pilatos o condenou à cruz, por denúncia dos maiorais da nossa nação, aqueles que o amaram antes continuaram a manter a afeição por ele. Assim, ao terceiro dia, ele apareceu novamente vivo para eles, conforme fora anunciado pelos divinos profetas e, a seu respeito, muitas coisas maravilhosas aconteceram. Até a presente data subsiste o grupo dos cristãos, assim denominado por causa dele.
Texto Árabe:
Naquela época vivia Jesus, homem sábio, de excelente conduta e virtude reconhecida. Muitos judeus e homens de outras nações converteram-se em seus discípulos. Pilatos ordenou que fosse crucificado e morto, mas aqueles que foram seus discípulos não voltaram atrás e afirmaram que ele lhes havia aparecido três dias após sua crucificação: estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre o qual os profetas anunciaram coisas maravilhosas.
A possibilidade de todo o trecho ser inserto posteriormente é inverosímil. Não me parece crível que, havendo várias versões daquele texto, todas inventassem aquele sub-capítulo. Repare-se que não é só a interpolação de um sub-capítulo seria toda a renumeração do capítulo 3 do Livro XVIII. Por outro lado essa inserção teria de ter sido feita numa época em que a Igreja ainda era perseguida e, de forma alguma, detinha as rédeas do poder, da cultura e do conhecimento, o que não é credível.
Tácito, historiador bastante consciencioso, nascido em 55 DC, relatou a perseguição desencadeada contra os cristãos pelo imperador Nero, logo após o incêndio de Roma ocorrido no ano 64 DC. (cf Anais, livro XV,44, escrito no início do séc. II (entre 115 e 120 dC)):
Nenhum meio humano, nem os gestos de generosidade do imperador [Nero], nem os ritos destinados a aplacar [a ira] dos deuses, faziam cessar o boato infame de que o incêndio havia sido planejado nas altas esferas. Assim, para tentar abafar esse boato, Nero acusou, culpou e entregou às torturas mais deprimentes um grupo de pessoas que eram detestadas por seu comportamento e que o povo chamava "cristãos".
Este nome lhes provém de Cristo, [um homem] que no tempo de Tibério havia sido entregue ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Reprimida no momento, essa execrável superstição surgiu novamente, não apenas na Judéia - seu lugar de origem - mas também em Roma, onde tudo aquilo que há de ruim e vergonhoso no mundo chega e se espalha.
É óbvio que estes textos poderão incorporar muito do ouvir dizer, embora sejam dois autores muito credíveis e nenhum deles cristão. Ainda no que respeita a fontes não cristãs temos Suetónio que, na sua obra "Vida dos Doze Césares" XXV,4 (por volta de 120 dC), alude à expulsão dos judeus de Roma ocorrida em 41 dC, sob o imperador Cláudio. O decreto de expulsão seria, segundo ele, resultado dos constantes distúrbios ocorridos nas comunidades judaicas em Roma em virtude de Cristo. Também é de referir as cartas entre Caio Plínio (Plínio o moço), governador da Bitínia entre 111 e 113, e Trajano, imperador de Roma entre 98 e 117 dC, onde Plínio solicita instruções de como proceder perante as denúncias contra os cristãos, o que indica que estes já seriam numerosos na Ásia Menor.
Obviamente que parte destes testemunhos foram por ouvir dizer. Todavia são textos de autores conscienciosos (Tácito, Suetónio, Plínio e Josefo), que não eram cristãos, que fazem fé e autoridade nas suas obras. Se aceitamos os seus testemunhos para fazermos a história daquela época, não podemos contestar liminarmente os testemunhos que, por qualquer motivo, não nos convêm. Aliás, nenhum dos textos acima prova a alegada natureza divina de Cristo.
Existem igualmente documentos cristãos do século I: Didaqué - um catecismo cristão escrito entre 60 e 90 d.C. As epístolas de Inácio de Antioquia (morto em102), o Cânon de Muratori, Clemente de Roma, tudo escritores e escritos do início do século II e Tertuliano (Apologeticus, De Spectaculis, etc.), nascido em 155.
A partir desta época a doutrina cristã já estava estabelecida, em linhas gerais, tal como a conhecemos hoje embora, por exemplo, tivesse sido apenas no século IV, que o 25 de Dezembro passou a ser a festa do "Dies Natalis Domini", por decreto papal. Antes aquele dia, embora já fosse o maior feriado em Roma, assinalava a festa mitraista do Natalis Solis Invicti. Os documentos coevos que não se inseriam na leitura oficial da Igreja sobre a vida de Cristo passaram, com seria óbvio, a documentos apócrifos do ponto de vista da ortodoxia eclesiástica, embora sejam conhecidos
Acusa-se frequentemente a Igreja de ter destruído os documentos que não lhe convinha. Na Europa Ocidental, a Igreja deteve o monopólio da cultura durante toda a Alta Idade Média. Mas, na destruição da maioria dos textos antigos, a Igreja apenas teve uma quota-parte e, provavelmente, a menor. Os textos antigos perderam-se:
1 por motivos naturais (eram materiais perecíveis e o uso vai-os degradando)
2 por catástrofes naturais (incêndios, terramotos, etc.)
3 por pilhagens, saques, etc. decorrentes das guerras;
4 para o seu suporte ser reutilizado. O pergaminho era caro e os monges, e não só, para escreverem coisas mais úteis devem ter raspado (feito palimpsesto) muitas preciosidades antigas por ignorância;
5 por maldade, ou antes, por uma visão perversa da fé.
Os últimos séculos do Império Romano foram, de todos os pontos de vista, uma época de terrível decadência as populações (na maioria escravos) vegetavam na mais degradante miséria e desnutrição, para sustentar uma camada social ociosa e numa grande decadência cultural, apoiada num exército que consumia todo o erário público. Muita da cultura antiga perdeu-se nesta época, e há muitos testemunhos que provam isso. Quando um sucessor de Constantino, o Imperador Juliano, apesar da sua capacidade, tentou restaurar a cultura antiga, não teve qualquer apoio. A cultura clássica estava morta. Do ponto de vista social, os novos regimes impostos pelos invasores germânicos, descontada a violência de actuação (mitigada todavia pela Igreja), traduziram-se numa melhoria significativa de vida. O mesmo aconteceu com os árabes que implantaram sociedades mais justas e humanas.
Por outro lado, havia muitas correntes e seitas dentro da Igreja que nem o Concílio de Niceia, nem o poder do Imperador Constantino conseguiram vergar. A Igreja Católica só teve poder absoluto sobre o conhecimento, na Europa Ocidental. No Oriente e Egipto o cristianismo estava organizado em facções e seitas rivais que se combatiam arduamente e utilizavam todos os textos disponíveis nessas disputas. 3 séculos após Niceia deu-se a conquista árabe do Egipto e da Síria, e parte importante do acervo cultural da antiguidade clássica acabou por nos chegar por via árabe. Portanto a importância da Igreja Católica na destruição do que não lhe convinha é bastante relativa. Em contrapartida os mosteiros permitiram manter viva, copiando e recopiando, muita da cultura antiga, cujos suportes materiais eram perecíveis e se teriam perdido sem esse esforço.
Isto é o que se tem conseguido apurar sobre a génese do cristianismo. Neste entendimento o alegado episódio da união de facto entre Jesus Cristo e Maria Madalena é de somenos. Se as provas da existência e vicissitudes da vida de Cristo são tão discutíveis do ponto de vista da exegese histórica, se houvesse uma fonte credível dessa união e dos seus frutos, ela seria a prova mais evidente da existência física de Cristo. Para quê eliminar essa fonte? A Igreja medieval fá-lo-ia, mas a Igreja actual acolhê-la-ia de braços abertos e encontraria seguramente uma leitura favorável à sua interpretação de Cristo.
Publicado por Joana às 07:26 PM | Comentários (5) | TrackBack
novembro 21, 2004
Voltaire e Micrómegas
Voltaire (François-Marie Arouet) nasceu em Paris, em 21 de novembro de 1694, há 310 anos precisamente. Estudou num colégio de jesuítas pretendendo seguir a magistratura. Entretanto publicou seus primeiros versos e escritos. Em 1717, acusado de ser o autor de um panfleto político, foi preso e encarcerado na Bastilha, de onde saiu seis meses depois. Foi por essa ocasião que ele resolveu adoptar o nome de Voltaire e se começou a tornar conhecido pela sua actividade literária.
Em 1726, em consequência de um incidente com o cavaleiro de Rohan, foi novamente preso na Bastilha, de onde só pôde sair sob a condição de deixar a França. Foi então para a Inglaterra e aí se dedicou ao estudo da língua e da literatura inglesas. Datam da mesma época as suas Lettres Philosophiques ou Lettres Anglaises, que provocaram grande escândalo e obrigaram a refugiar-se na Lorena, no castelo de Madame du Châtelet, em cuja companhia viveu até à morte desta, em 1749.
Em 1749, voltou a Paris, já então cheio de glória e conhecido em toda a Europa, indo para Berlim no ano seguinte. Frederico II conferiu-lhe honras excepcionais e deu-lhe uma pensão de 20.000 francos, acrescendo-lhe assim a fortuna já considerável. Essa amizade não durou muito: eram duas personalidades muito fortes e as intrigas e invejas mútuas obrigaram Voltaire a deixar Berlim em 1753.
A partir de 1758, adquiriu o domínio de Ferney e aí passou a residir em companhia da sobrinha. Em 1778, efectuou uma viagem a Paris, onde foi entusiasticamente recebido. Era Le Roi Voltaire. Morreu no dia 30 de março desse ano, aos 84 anos de idade.
A sua divisa Ridendo Castigat Mores «rindo (satirizando), corrige-se os costumes», é uma das minhas preferidas.
Micrómegas, que transcrevo a seguir, foi escrito por influência de As aventuras de Gulliver, de Swift, que Voltaire lera em Londres, da Pluralidade dos mundos, de Fontenelle e da mecânica de Newton. O resultado é uma obra com humor e ironia, mas que obriga à meditação sobre o homem, as suas crenças, costumes e instituições.
MICRÓMEGAS - HISTÓRIA FILOSÓFICA
por Voltaire
CAPÍTULO I
Viagem de um habitante da estrela Sírio ao planeta Saturno
Num dos planetas que giram em volta da estrela Sírio havia um rapaz de muito espírito que tive a honra de conhecer na última viagem que fez ao nosso minúsculo formigueiro.
Chamava-se Micrómegas, nome que se adapta muito bem a todos os grandes. Tinha oito léguas de altura; calculo estas oito léguas em vinte e quatro mil passos geométricos, de cinco pés cada um.
Alguns matemáticos, categoria de pessoas sempre úteis ao público, de caneta em punho, calcularão que, tendo o senhor Micrómegas, habitante da estrela Sírio, desde a cabeça aos pés vinte e quatro mil passos, o que corresponde a cento e vinte mil pés e que nós, cidadãos da Terra, não vamos além de cinco pés e que esta mesma tem apenas nove mil léguas de circunferência, calcularão, repito, que é absolutamente necessário que o mundo que o produziu tenha, precisamente, vinte e um milhões e seiscentas mil vezes a circunferência da nossa pequena Terra.
Nada é mais simples e mais banal na natureza. Os estados de alguns soberanos da Alemanha ou da Itália, que levam uma escassa meia hora a percorrer, comparados com o império da Turquia, da Moscóvia ou da China, são, apenas, uma pálida imagem das diferenças prodigiosas que a natureza estabeleceu para todos os seres.
Sendo a estatura de Sua Excelência da altura que mencionei, todos os nossos escultores e pintores concordarão, sem dificuldade, que a cintura pode ter cinquenta mil pés: isto dá-lhe uma bela proporção.
O seu espírito é um dos mais cultos que temos. Sabe muitas coisas e inventou outras: ainda não tinha duzentos e cinquenta anos e estudava, segundo o costume, no colégio dos jesuítas da sua estrela, quando resolveu, com o auxílio da sua inteligência, mais de cinquenta teoremas de Euclides.
Isto é, mais dezoito do que Blaise Pascal que, depois de ter resolvido trinta e dois, brincando, como diz sua irmã, se tornou um medíocre geómetra e um péssimo metafísico.
Ao sair da infância, cerca dos quatrocentos e cinquenta anos, dissecou insectos tão pequenos que não chegam a alcançar cem pés de diâmetro e que fogem ao campo visual dos microscópios vulgares. Compôs sobre o assunto um livro muito curioso mas que lhe trouxe algumas complicações.
O mufti do seu país, grande coca-bichinhos e bastante ignorante, encontrou no livro proposições suspeitas, malsoantes, temerárias, heréticas, tresandando a heresia e perseguiu-o activamente: procurava saber se a substância das pulgas era igual à dos caracóis.
Micrómegas defendeu-se com brilho; arrastou as mulheres para a sua causa. O processo durou duzentos e vinte anos. Por fim, o mufti conseguiu que o livro fosse condenado por juizes que nunca o leram e o autor foi proibido de frequentar a corte durante oitocentos anos.
Afligiu-se muito pouco por ter sido banido de uma corte cheia de intrigas e frivolidades. Compôs uma canção muito graciosa contra o mufti, com que este nada se incomodou; e pôs-se a viajar de planeta para planeta, para acabar de formar o espírito e o coração, como se costuma dizer.
Os que apenas viajam em diligência ou em berlinda ficarão admirados, sem dúvida, com as carruagens lá de cima, porque nós, neste pequeno grão de areia, nada admitimos fora dos nossos costumes.
O nosso viajante conhecia, maravilhosamente, as leis da gravidade e todas as forças atractivas e repulsivas. Servia-se delas tão a propósito que, umas vezes com a ajuda de um raio de sol, outras utilizando um cometa, saltava de globo em globo, ele e os seus, tal como um pássaro saltita de ramo em ramo.
Percorreu a Via Láctea em pouco tempo e sou obrigado a confessar que nunca viu, através das estrelas que a compõem, esse maravilhoso céu empíreo que o vigário Derham se gaba de ter observado com a sua luneta. Não é que eu queira afirmar que o senhor Derham tenha visto mal. Deus me livre! Mas Micrómegas passou por lá e é um bom observador... E eu não quero contradizer ninguém.
Micrómegas, depois de muitas voltas, chegou ao planeta Saturno. Por mais acostumado que estivesse a ver coisas novas não pôde, a princípio, evitar, em face da pequenez do globo e dos seus habitantes, aquele sorriso de superioridade que escapa, por vezes, aos mais comedidos. Porque, enfim, Saturno é apenas novecentas vezes maior do que a Terra e os seus habitantes anões de cerca de mil toesas de altura.
Divertiu-se um pouco, de princípio, com esta gente, tal como um músico italiano se riu da música de Lulli, quando veio a França. Mas porque era muito inteligente depressa compreendeu que um ser pensante pode não ser ridículo por possuir, apenas, seis mil pés de altura. Familiarizou-se com os saturnianos depois de os ter espantado. Ligou-o estreita amizade com o secretário da Academia de Saturno, homem talentoso, que, na verdade, nunca inventou nada mas compreendia as invenções dos outros, fazia versozinhos sofríveis e grandes cálculos.
Vou contar agora, para satisfação dos leitores, uma conversa curiosa que Micrómegas teve, um dia, com o senhor secretário.
CAPÍTULO II
Conversação entre o habitante de Sírio e o de Saturno
Depois que Sua Excelência se foi deitar e que o secretário se aproximou, Micrómegas disse: - É preciso confessar que a Natureza é muito variada.
- Sim, respondeu o saturniano, a Natureza é como um jardim cujas flores...
- Oh!, exclama o outro, deixe lá o jardim.
- Ela é, torna o secretário, semelhante a um conjunto de loiras e morenas, cujos adornos...
- Que me interessam as vossas morenas?
- Então é como uma galeria de pintura cujos traços...
- Oh! não, diz o viajante. A Natureza é como a Natureza. Para que buscar comparações?
- Para vos divertir, responde o secretário.
- Eu não quero que me divirtam, volve Micrómegas, quero que me instruam. Comece, pois, por me dizer quantos sentidos têm os homens do vosso globo.
- Temos setenta e dois, diz o académico, e lamentamo-nos sempre por termos tão poucos! A nossa imaginação supera as necessidades. Achamos que, com os setenta e dois sentidos, o anel e as cinco luas, somos muito limitados e, apesar de toda a nossa curiosidade e do número excessivamente grande de paixões que resultam desses setenta e dois sentidos, temos muito tempo para nos aborrecer.
Acredito, diz Micrómegas, porque, no nosso globo, temos perto de mil sentidos e ainda nos fica um vago desejo, uma inquietação que nos faz pressentir, continuamente, quão pequenos somos e que há seres muito mais perfeitos. Tenho viajado um pouco, tenho visto seres muito inferiores mas também muitos superiores, nunca encontrei, porém, nenhuns que não tenham mais desejos do que verdadeiras necessidades e mais necessidades do que satisfação. Talvez um dia atinja o país onde nada falte mas, até agora, ninguém me deu notícias positivas acerca dele.
O saturniano e o siriano cansaram-se de conjecturas; mas, após variados raciocínios muito engenhosos e incertos, foi preciso voltar aos factos.
- Qual a duração da vossa vida? perguntou o siriano.
- Muito pequena, replica o pequeno Saturniano.
- É como nós, volve o siriano; lamentamos sempre ser tão curta. É necessário que obedeça a uma lei universal da Natureza.
- Valha-me Deus! desabafa o saturniano; não vivemos mais do que quinhentas grandes revoluções do sol (isto equivale a cerca de quinze mil anos, contados à nossa maneira). Bem vê que é morrer quase a nascença; a nossa existência é um ponto; a nossa duração um instante, o nosso globo um átomo. Mal nos começamos a instruir um pouco chega a morte, antes que tenhamos experiência! Quanto a mim não ouso fazer projectos; sou como uma gota de água num oceano imenso. Sinto-me envergonhado, sobretudo perante vós, da figura ridícula que faço no mundo.
Micrómegas torna a dizer: - Se não fôsseis filósofo temeria afligir-vos, dizendo que a nossa vida é setecentas vezes mais longa do que a vossa. Mas sabeis muito bem que, quando é necessário entregar o corpo aos elementos e fazer viver a Natureza, sob uma outra forma, que se chama morrer, quando este momento de metamorfose chega, é precisamente a mesma coisa o ter vivido uma eternidade ou um dia. Visitei países onde se vive mil vezes mais tempo do que no meu e notei que também se protestava. Mas há por toda a parte pessoas de bom-senso que sabem conformar-se e louvar o autor da Natureza, que espalhou no Universo uma profusão de variedades, com uma espécie de uniformidade admirável.
Por exemplo, todos o seres pensantes são diferentes e todos se parecem, no fundo, pelo dom do pensamento e dos desejos. A matéria é, por toda a parte, extensa mas tem, em cada globo, propriedades diversas. Quantas destas propriedades diversas apresenta a vossa matéria?
- Se vos referis aquelas propriedades, diz o saturniano, sem as quais supomos que este globo não poderia subsistir tal como é, podem indicar-se trezentas, como extensão, impenetrabilidade, mobilidade, gravitação, divisibilidade e o resto.
- Aparentemente, replica o viajante, este pequeno número está de acordo com a visão que o Criador teve do vosso pequeno mundo. Admiro-o em toda a sua sabedoria; vejo diferenças por toda a parte mas, igualmente, a proporção.
O globo é pequeno e os habitantes são-no também. Tendes poucas sensações; a matéria tem poucas propriedades; tudo isto é obra da Providência. De que cor é o vosso Sol?
- De um branco muito amarelado, diz o saturniano e, quando examinamos, separadamente, um dos raios, achamos que tem sete cores.
- O nosso Sol tende para vermelho, acrescenta o siriano e temos trinta e nove cores primitivas. Não há um Sol, de entre todos os que tenho visto de perto, que se assemelhe, como entre vós não há uma cara que não seja diferente de todas as outras.
Depois de várias perguntas desta natureza informou-se sobre a quantidade de substâncias essencialmente diferentes que Saturno continha. Esclareceram-no de que existiam aproximadamente umas trinta, tais como Deus, espaço, matéria, seres extensos que sentem, seres extensos que sentem e pensam, seres pensantes que não têm extensão, os que se penetram, os que não se penetram e o resto.
O siriano, em cuja terra se contavam trezentos e que tinha descoberto outros três mil nas suas viagens, espantou prodigiosamente, o filósofo de Saturno.
Enfim, depois de terem comunicado um ao outro um pouco do que sabiam e muito do que não sabiam, depois de terem discorrido durante uma revolução do Sol, resolveram fazer os dois uma pequena viagem filosófica.
CAPÍTULO III
Viagem dos dois habitantes de Sírio e de Saturno
Estavam os nossos dois filósofos quase a embarcar na atmosfera de Saturno, com uma belíssima provisão de instrumentos matemáticos, quando a amada do saturniano, sabendo a novidade vem, desfeita em lágrimas, recriminá-lo. Era uma bonita moreninha que não tinha mais do que seiscentas e sessenta toesas mas que compensava a pequenez do tamanho com muitos adornos.
- Ah! cruel! gritava ela, depois de ter resistido durante mil e quinhentos anos, agora, que começava enfim a render-me, que passei apenas cem anos nos teus braços, deixas-me para ir viajar com um gigante de outro mundo. Vai, não és mais do que um curioso; nunca sentiste amor: se fosses um verdadeiro saturniano serias fiel! Onde vais? Que buscas? As nossas cinco luas são menos errantes do que tu, o nosso anel menos inconstante. Nunca mais amarei ninguém!
O filósofo abraçou-a e chorou com ela, como filósofo que era; e a senhora, depois de ter desmaiado, foi consolar-se com um peralvilho do país.
Entretanto os dois curiosos partiram; primeiro saltaram para o anel, que acharam muito espalmado, como muito acertadamente o supôs um ilustre habitante da nossa Terrinha; de lá foram, de lua em lua. Um cometa passou muito perto da última; lançaram-se sobre ele com os criados e os instrumentos. Quando tinham percorrido cerca de cento e cinquenta milhões de léguas encontraram os satélites de Júpiter.
Passaram pelo próprio Júpiter, onde ficaram um ano, durante o qual aprenderam belíssimos segredos, que estariam actualmente publicados se os senhores inquisidores não tivessem encontrado algumas proposições um pouco violentas. Mas eu li o manuscrito na biblioteca do ilustre arcebispo de... que me deixou ver os seus livros, com uma generosidade e bondade que não saberei, devidamente, louvar.
Mas voltemos aos nossos viajantes.
Tendo saído de Júpiter atravessaram um espaço de cerca de cem milhões de léguas e costearam o planeta Marte o qual como se sabe, é cinco vezes mais pequeno do que o nosso globo. Viram as duas luas que servem este planeta e que escaparam aos olhos dos nossos astrónomos.
Sei bem o que o padre Castel escreverá, muito ridiculamente, contra a existência destas duas luas mas dirijo-me aos que raciocinam por analogia.
Estes bons filósofos sabem como seria difícil para Marte, tão longe do Sol, viver com menos de duas luas.
De qualquer forma os nossos personagens acharam-no tão pequeno que recearam não encontrar lugar para dormir e seguiram o seu caminho, como dois viajantes que desdenharam uma péssima estalagem de aldeia e avançam até a cidade vizinha.
Mas o siriano e o seu companheiro cedo se arrependeram, pois andaram muito tempo e nada encontraram.
Avistaram, finalmente, um pequeno clarão: era a Terra.
Causou-lhes impressão. No entanto, com receio de se arrependerem segunda vez, resolveram desembarcar. Passaram para a cauda do cometa e, encontrando uma aurora boreal muito perto, instalaram-se nela e chegaram à Terra, na margem setentrional do Mar Báltico, a cinco de Julho de mil setecentos e trinta e sete, segundo o novo calendário.
CAPÍTULO IV
O que lhes aconteceu no globo terrestre
Depois de repousarem algum tempo, comeram ao almoço duas montanhas, muito bem preparadas pelos seus criados.
De seguida dispuseram-se a conhecer a região onde se encontravam. Foram, primeiro, de Norte a Sul.
Os passos normais do siriano e da sua gente, eram de cerca de trinta mil pés; o anão de Saturno seguia-o, de longe, ofegante; era-lhe necessário dar cerca de doze passos enquanto o outro dava uma passada: imaginai (se é permitido fazer tais comparações) um cãozinho de luxo, que seguisse um capitão da guarda do rei da Prússia.
Como iam muito depressa, deram a volta à Terra em trinta e seis horas; o Sol, na verdade, ou melhor, a Terra, faz a mesma viagem num dia. Mas é preciso notar que é mais fácil girar num eixo, do que caminhar a pé.
Ei-los, portanto, regressando ao ponto de partida depois de terem visto aquele mar chamado Mediterrâneo, quase imperceptível para eles, e aquele pequeno lago que, sob o nome de Grande Oceano, rodeia o montinho da Terra.
O anão molhou-se até metade da perna e o gigante apenas o calcanhar.
Fizeram o que lhes apeteceu, indo e vindo de baixo para cima, tentando descobrir se a Terra era ou não habitada.
Baixaram-se, deitaram-se, tactearam por toda a parte, mas, não tendo os olhos e as mãos proporcionados aos seres que rastejam por aqui, não receberam a menor sensação que pudesse fazer supor que nós e os nossos semelhantes, habitantes deste globo, temos a honra de existir.
O anão, por vezes precipitado nos juízos que formulava, decidiu, a princípio, que a Terra não era habitada, pelo facto de não ter visto ninguém.
Micrómegas, delicadamente, fez-lhe sentir que estava a raciocinar mal. Disse-lhe:
- Porque não vês, com os teus pequenos olhos, algumas estrelas de quinquagésima grandeza que eu distingo perfeitamente, concluis que não existem?
- Mas - respondeu o anão - apalpei bem.
- Porém - volveu o gigante - sentiste mal.
Insiste o anão. Esta terra é mal construída, irregular e de uma forma que se me afigura ridícula; parece que aqui reina o caos. Olha esses pequenos riachos; nenhum corre direito; e esses lagos que não são nem redondos, nem quadrados, nem ovais, nem de nenhuma forma regular; estes grãos pontiagudos de que toda a Terra está eriçada e que me dilaceram os pés (queria falar das montanhas).
Olha ainda a sua forma, como é achatada nos pólos, como gira desastradamente em volta do Sol, de maneira que o clima nos pólos é, necessariamente agreste.
Na verdade, o que me faz pensar que não existe vida, é a convicção de que ninguém de bom-senso aqui quereria viver.
- Pois bem, diz Micrómegas - não será, possivelmente, habitado por pessoas de bom-senso. No entanto, não parece que fosse criado sem qualquer fim. Tudo aqui se vos afigura irregular, porque em Saturno e Júpiter tudo é traçado à régua. É talvez também, por este motivo, que há um pouco de confusão. Não te contei já que nas minhas viagens sempre notei variedade?
O Saturniano retorquia a todas estas razões e a disputa eternizar-se-ia se, por felicidade, Micrómegas encolerizando-se, não tivesse partido o fio do colar de diamantes. Estes caíram. Eram lindos diamantezinhos, desiguais, pesando o maior quatrocentas libras e os mais pequenos cinquenta.
O anão apanhou alguns; apercebeu-se de que, da maneira como estavam talhados, constituíam excelentes microscópios.
Pegou então num de seiscentos e sessenta pés de diâmetro e aplicou-o à sua pupila; Micrómegas escolheu outro de dois mil e quinhentos pés. Eram óptimos, mas à primeira tentativa nada viram porque não estavam adaptados.
Por fim, o habitante de Saturno lobrigou qualquer coisa quase imperceptível que se movia no mar Báltico: era uma baleia.
Agilmente apanhou-a com o dedo mínimo e pondo-a sobre a unha do polegar mostrou-a ao Siriano que se pós a rir pela segunda vez, da pequenez excessiva dos habitantes do nosso planeta.
O Saturniano, convencido agora de que este mundo era habitado, concluiu imediatamente que o era, apenas, por baleias e, como era muito raciocinador, quis descobrir como se movimentava um átomo tão pequeno, se tinha ideias, vontade, liberdade.
Micrómegas ficou fortemente embaraçado; examinou pacientemente o animal e concluiu que era impossível que existisse nele alma.
Os dois viajantes inclinaram-se a pensar que não havia espíritos no nosso mundo, quando, com a ajuda do microscópio, perceberam qualquer coisa maior do que a baleia que flutuava no mesmo mar.
Sabe-se que, precisamente nessa data, um grupo de filósofos voltava do círculo polar, onde tinha feito observações, inteiramente desconhecidas até à data.
Os jornais disseram que o barco naufragou nas costas de Bótnia, e que eles, dificilmente, se conseguiram salvar, mas a verdade, neste mundo raramente se conhece bem.
Vou contar, com toda a simplicidade, como as coisas se passaram sem acrescentar nada por minha conta.
O que não representa pequeno esforço para um historiador.
CAPÍTULO V
Experiências e raciocínios dos dois viajantes
Micrómegas estendeu docemente a mão em direcção ao objecto e, avançando dois dedos retirou-os, com receio de se enganar, depois, abrindo-os e fechando-os, agarrou rapidamente o barco que trazia aqueles senhores, pô-lo na unha, sem o apertar, com receio de o esmagar.
- Eis um animal bem diferente do primeiro, diz o anão de Saturno. O siriano colocou o pretenso animal na cavidade da mão. Os passageiros e a tripulação que se julgaram arrebatados por um tufão e pensaram ter arribado a um rochedo, puseram-se todos em movimento. Os marinheiros arrastaram tonéis de vinho, lançaram-nos na mão de Micrómegas e precipitaram-se atrás deles. Os geómetras agarraram os quadrantes, os sectores e raparigas da Lapónia e desceram para os dedos do Siriano.
Tanto fizeram que este sentiu, por fim, algo que lhe fazia cócegas nos dedos: era um pau ferrado que lhe enterravam no índex e julgou, por causa desta picadela, que alguma coisa saíra do animalzinho que segurava; mas não se preocupou. O microscópio que apenas permitia distinguir uma baleia e um barco não tinha capacidade para tornar perceptíveis os homens.
Não pretendo chocar, aqui, a vaidade de ninguém, mas sou obrigado a pedir às pessoas importantes que façam comigo um pequeno reparo: atingindo a estatura dos homens cerca de cinco pés não fazemos, na Terra, muito melhor figura do que faria, sobre uma bola de dez pés de circunferência, um animal que medisse apenas, aproximadamente, uma seiscentésima milésima parte de uma polegada.
Imaginai um ser que pudesse segurar na mão a Terra e que tivesse os órgãos na proporção dos nossos; pode muito bem acontecer que haja grande número dessas substâncias; ora, concebei, peço-vos, o que pensariam elas desses combates que nos renderam duas aldeias que tivemos de entregar depois.
Não duvido de que, se esta obra um dia for lida por algum capitão de granadeiros, este ordene que os bonés dos seus soldados passem a ter, pelo menos, mais dois pés de altura. Mas advirto-o de que, faça o que fizer, tanto ele como os seus nunca passarão de infinitamente pequenos.
Que maravilhosa habilidade não foi necessária ao nosso filósofo de Sírio para distinguir os átomos de que acabo de falar!
Quando Leuwenhoek e Hartsoeker conseguiram ou julgaram ter conseguido ver as pequenas partículas de que somos formados, não fizeram, nem de longe, uma tão surpreendente descoberta. Que prazer sentiu Micrómegas, vendo mexer estas pequenas máquinas, observando as voltas que davam, seguindo-as em todas as evoluções. Como ele rejubilava! Com que alegria pôs um microscópio nas mãos do companheiro de viagem!
- Vejo-os, diziam ao mesmo tempo; não os vedes carregando fardos, baixando-se, levantando-se?
E falando deste modo, tremiam-lhes as mãos, pelo prazer de descobrir coisas ignoradas e com receio de as perder.
O saturniano, passando do excesso de desconfiança ao da credulidade julgou perceber que eles se entregavam a um trabalho de procriação.
- Ah!, disse, surpreendi a Natureza em flagrante; mas enganara-se com as aparências: o que acontece com frequência, quer nos sirvamos de microscópio ou não.
CAPÍTULO VI
O que lhes aconteceu com os Homens
Micrómegas, muito melhor observador do que o anão, viu claramente que os átomos falavam, e fê-lo notar ao seu companheiro que, envergonhado por se ter iludido na questão da procriação, não quis acreditar que semelhantes espécies pudessem trocar ideias.
Tinha o dom das línguas, assim como o siriano, não ouvia falar os átomos e supunha que o não fizessem. De resto, como poderiam estes seres imperceptíveis ter órgãos para a voz e o que teriam para dizer? Para falar é preciso pensar ou quase; mas se eles pensassem teriam que possuir o equivalente a uma alma. Ora, atribuir o equivalente a uma alma a esta espécie parecia-lhe absurdo.
- Mas, disse o siriano - há pouco julgaste que eles estavam a praticar o amor; podes crer que se possa praticar o amor sem pensar e sem proferir qualquer palavra, ou, pelo menos, sem se fazer compreender? Julgas que é mais difícil produzir um argumento do que um filho? Para mim um e outro me parecem grandes mistérios.
- Não ouso acreditar nem negar - replicou o anão - não tenho opinião. É preciso examinar estes insectos, depois raciocinaremos.
- Muito bem - concordou Micrómegas e imediatamente puxou de meia tesoura, com que cortava as unhas, e com uma apara da unha do polegar fez uma espécie de porta-voz, semelhante a enorme funil, cujo tubo meteu na orelha.
A circunferência do funil envolvia o barco e toda a tripulação.
A mais fraca voz entrava nas fibras circulares da unha; de maneira que, graças à sua habilidade, o filósofo, lá do alto, ouvia perfeitamente o zumbido dos insectos cá em baixo.
Dentro de poucas horas, começou a distinguir palavras, e, por fim, a compreender o francês. O anão fez a mesma coisa, ainda que com maior dificuldade.
O espanto dos viajantes redobrava de momento a momento. Ouviam os bichinhos falar com certo bom-senso; este jogo da natureza pareceu-lhes inexplicável.
Acreditai que ambos ardiam de impaciência para travar conversa com os átomos.
Temiam, porém, que as suas vozes de trovão, sobretudo a de Micrómegas, ensurdecesse os terrenos sem conseguirem fazer-se entender.
Era necessário diminuir-lhes a força e, para isso, colocaram na boca uma espécie de pequenos palitos cujas pontas, muito afiadas, chegavam junto do navio.
O Siriano tinha o anão nos joelhos e o barco com a tripulação numa unha, baixava a cabeça e falava mansamente.
Enfim, usando todas estas precauções e ainda muitas outras, começou assim o discurso:
- Insectos invisíveis, que a mão do Criador fez nascer do abismo do infinitamente pequeno, dou-Lhe graças por se dignar revelar-me segredos que pareciam impenetráveis. Talvez que, na minha corte nem sequer vos olhassem, mas eu não desprezo ninguém e ofereço-vos a minha protecção.
Não há notícia de espanto semelhante ao que sentiram os que ouviram tais palavras. Não podiam adivinhar donde elas vinham.
O capelão do barco recitou os exorcismos, os marinheiros praguejaram e os filósofos elaboraram um sistema; mas, nem com todos os sistemas, conseguiram adivinhar quem lhes falava. O anão de Saturno, cuja voz era mais doce do que a de Micrómegas, explicou-lhes então, em poucas palavras quem eram. Contou-lhes a viagem desde Saturno; pô-los ao facto de quem era o senhor Micrómegas e, depois de os lamentar pela sua pequenez, perguntou-lhes se tinham vivido sempre nesse estado miserável, tão próximo do nada; o que faziam num mundo que parecia pertencer às baleias; se eram felizes, se se multiplicavam, se tinham alma e muitas mais perguntas desta natureza.
Um pensador do grupo, mais ousado do que os restantes, indignado por duvidarem da existência da sua alma, assestou as pínulas do seu quadrante sobre o interlocutor, fez duas observações e, à terceira, falou assim:
- Lá porque tendes mil toesas de altura, julgais, senhor, que sois...
- Mil toesas! gritou o anão - Céus! como pôde ele saber a minha altura? Mil toesas! É geómetra, conhece o meu tamanho e eu, que o vejo com um microscópio, não consigo conhecer o dele!
- Sim, eu medi-vos - diz o físico - e medirei também o vosso grande companheiro.
A proposta foi aceite. Sua Excelência deitou-se ao comprido, porque, se continuasse de pé, a cabeça iria muito além das nuvens.
Os nossos filósofos espetaram-lhe uma grande árvore num lugar que o doutor Swift nomearia, mas que eu, de modo nenhum, chamarei pelo nome, por causa do grande respeito que tenho pelas senhoras.
Depois, por uma série de triangulações, concluíram estar perante um rapaz de cento e vinte mil pés.
Então Micrómegas pronunciou estas palavras:
- Vejo agora melhor do que nunca, que nada se deve julgar pela sua grandeza aparente.
Ó Deus, que haveis dado inteligência a substâncias que pareciam tão desprezíveis, o infinitamente pequeno custa-vos tão pouco como o infinitamente grande! se é possível existirem seres mais pequenos do que estes podem ter ainda um espírito superior ao daqueles soberbos animais que vi no céu e cujo pé bastaria para cobrir o planeta a que desci.
Um dos filósofos respondeu-lhe que podia ter a certeza absoluta da existência de seres inteligentes mais pequenos do que o homem. E contou-lhe, não tudo o que Virgílio escreveu de fabuloso sobre as abelhas, Swammerdam descobriu e o que Réaumur dissecou.
Informou-o ainda de que certos animais são para as abelhas o que estas são para o Homem, aquilo que o próprio Siriano era para aqueles grandes animais de que falava, e o que estes, por sua vez, são para outras substâncias, perante as quais parecem apenas átomos.
Pouco a pouco a conversação tornou-se interessante e Micrómegas falou assim.
CAPÍTULO VII
Conversa com os Homens
- Ó Átomos inteligentes, em quem o Ser eterno quis manifestar a sua habilidade e poder, deves gozar, sem dúvida, alegrias muito puras no vosso globo; porque sendo feitos de tão pouca matéria e de tanto espírito deveis passar a vida a amar e a pensar; é a verdadeira vida dos espíritos. Não vi em parte alguma, a verdadeira felicidade, mas aqui existe, com certeza.
Ouvindo estas palavras todos os filósofos abanaram a cabeça; e um deles, mais franco do que os outros, confessou, com simplicidade que, exceptuando um pequeno número de habitantes, pouco considerável, o resto é constituído por uma mistura de doidos, maus e desgraçados.
- Temos mais matéria do que a necessária para fazermos muito mal, se este vem da matéria, e demasiado espírito se ele vem do espírito.
Sabeis, por exemplo, que neste momento, cem mil doidos da minha espécie, que usam chapéu, matam cem mil outros animais que usam turbante ou são massacrados por eles. Por toda a Terra é assim que se procede desde tempos imemoriais.
O Siriano estremeceu e perguntou qual a causa destas querelas entre animais tão mesquinhos.
- Trata-se, informou o filósofo, de um pouco de lama do tamanho do vosso calcanhar. Não é que qualquer dos Homens que se deixam degolar pretenda alguma migalha dessa lama. Trata-se apenas de saber se ela é pertença de um certo homem chamado «Sultão» ou de outro a quem denominavam, não sei porquê, «César».
Nem um nem outro viram ou chegarão a ver o pequeno torrão em litígio; e quase nenhum destes animais, que mutuamente se degolam, viu o animal por quem se deixa matar.
- Ah! desgraçados, gritou, indignado o Siriano - não se pode conceber este excesso de furor raivoso! Dá-me vontade de dar três passos e esmagar a pontapé todo este formigueiro de assassinos ridículos.
- Não vale a pena, disseram-lhe, eles trabalham suficientemente para a sua ruína. Ficai certo de que, daqui a dez anos, não resta a centésima parte desses miseráveis. Mesmo sem combaterem, a fome, a fadiga e a intemperança destrui-los-ão quase todos. De resto, não são eles que devem ser punidos, mas sim aqueles bárbaros sedentários que, do seu gabinete de trabalho, ordenam, durante a digestão, o massacre de milhões de homens e que, depois, vão agradecer a Deus, solenemente.
O viajante sentiu-se cheio de piedade, pela pequena raça humana, na qual descobria tão impressionantes contrastes.
- Já que pertenceis ao pequeno mundo dos sábios, disse ele a esses senhores, e que, aparentemente, não matais ninguém por dinheiro, dizei-me, peço-vos, em que vos ocupais?
- Dissecamos moscas, responde o filósofo, medimos linhas, juntamos números, concordamos sobre dois ou três pontos que compreendemos e disputamos sobre dois ou três mil que não entendemos.
Lembrou então ao Siriano e ao Saturniano interrogar estes átomos pensantes sobre as coisas em que concordavam.
- Que distância vai da estrela da Canícula à Grande Estrela dos Gémeos?
- Trinta e dois graus e meio, responderam todos ao mesmo tempo.
- E quantos graus distam daqui à Lua?
- Sessenta semi diâmetros da Terra, em números redondos.
- Quanto pesa o vosso ar?
Pensava atrapalhá-los, mas todos lhe responderam que o ar pesa cerca de novecentas vezes menos que o mesmo volume de água mais leve e dezanove vezes menos que o ouro de um ducado.
O anãozinho de Saturno, espantado com estas respostas, quase tomava por feiticeiros estes mesmos seres a quem, um quarto de hora antes, negava a possibilidade de terem alma.
Por fim Micrómegas disse-lhes:
- Já que conheceis tão bem o que vos é exterior, deveis, sem dúvida, conhecer ainda melhor o que está dentro de vós.
Dizei-me o que é a vossa alma e como formais as ideias.
Os filósofos falaram todos ao mesmo tempo, como das outras vezes, mas as suas opiniões divergiram totalmente.
O mais velho citou Aristóteles, o outro pronunciou o nome de Descartes, este o de Malebranche, aquele o de Leibniz; aqueloutro o de Locke.
Um velho peripatético declarou, alto, com toda a confiança:
- A alma é uma enteléquia e uma razão, pela qual tem o poder de ser o que é. É o que declara expressamente Aristóteles, pág. 633 da edição do Louvre.
- Não compreendo muito bem o grego, observou o gigante.
- Eu também não, respondeu o bichinho filosófico.
- Então para que citais um certo Aristóteles, em grego? - volveu o Siriano.
- É porque, concluiu o sábio, é conveniente citar aquilo que se não compreende bem, na língua que menos se entende.
O cartesiano tomou a palavra, dizendo desta maneira:
- A alma é um espírito puro que recebeu no ventre materno todas as ideias metafísicas e que, saindo de lá, é obrigada a ir à escola aprender de novo o que já soube muito bem e que não saberá mais.
- Então não vale a pena, comenta o animal de oito léguas, que a vossa alma seja tão sábia no ventre da mãe, para ser tão ignorante na altura em que tendes barba no queixo.
- E o que entendeis por espírito?
- Que me pergunta? - interroga o pensador. Não faço ideia nenhuma do que seja. Têm-me dito que é aquilo que não é matéria.
- Mas ao menos sabeis o que é matéria?
- Muito bem, respondeu o homem. Por exemplo, esta pedra é cinzenta, tem determinada forma, tem três dimensões, é pesada e divisível.
- Está certo, retorquiu-lhe o Siriano - mas o que vem a ser essa coisa que vos parece divisível, pesada e cinzenta? Vedes alguns dos seus atributos, ou conheceis a coisa em si?
- Não.
- Então não sabeis o que é matéria.
Dirigiu-se, depois Micrómegas a outro sábio que tinha no polegar, perguntando-lhe o que era a alma e o que fazia.
- Nada, respondeu o filósofo malebranchista, Deus é que faz tudo; em Deus e por Deus faço e vejo tudo. Ele tudo obra, sem necessidade do meu auxílio.
- Valeria mais não existir, exclamou o sábio de Sírio.
- E tu, meu amigo, pergunta a um leibnitziano - O que me dizes acerca da tua alma?
- É o ponteiro que indica as horas que o corpo bate; ou melhor, se quiserdes, é ela quem bate as horas que o corpo indica; melhor ainda, a alma é o espelho do Universo e o corpo, a sua moldura. Isto é evidente.
Um minúsculo partidário de Locke estava muito perto e, quando lhe foi dirigida a palavra, respondeu:
- Não sei como penso, mas sei que penso sempre por meio dos meus sentidos. Acredito na existência de substâncias imateriais e inteligentes; do que duvido, porém, é que é impossível a Deus comunicar o pensamento à matéria. Venero o poder eterno e não me compete limitá-lo; nada afirmo. Contento-me em crer que há mais coisas possíveis, para além do meu pensamento.
O animal de Sírio sorriu; não achou que este fosse o menos sábio. O anão de Saturno teria abraçado o discípulo de Locke se não fosse a extrema desproporção dos seus tamanhos.
Por desgraça estava lá um animalzito, de boné quadrado, que cortou a palavra a todos os animaizinhos filósofos.
Declarou conhecer tudo, porque todo o segredo estava esclarecido na Summa de S. Tomás; mirou, de alto a baixo, os dois habitantes celestes e afiançou-lhes que eles, seus mundos, sóis e estrelas, foram criados com o fim único de servir o Homem.
Ouvindo este discurso os dois viajantes desataram a rir, ruidosamente, com aquele riso inextinguível que, segundo Homero, é apanágio dos deuses. Os ombros e as barrigas estremeciam-lhes e, nas suas convulsões, o barco, que o Siriano segurava sobre a unha, caiu numa algibeira das calças do Saturniano. Procuraram-no durante muito tempo, encontraram a tripulação, repondo tudo nos seus lugares.
O Siriano voltou a apanhar os bichinhos, falou-lhes com muita paciência, ainda que um pouco ferido, no fundo do coração, por verificar que entes tão infinitamente pequenos tinham um orgulho quase infinitamente grande.
Prometeu oferecer-lhes um bom livro de filosofia onde tudo fosse, minuciosamente, explicado, para nele aprenderem a verdadeira essência das coisas.
Efectivamente, deu-lho antes de partir. Apresentaram-no em Paris, na Academia das Ciências; mas, quando o Secretário o abriu, apenas viu um livro completamente em branco.
- Ah! exclamou, já esperava que isto acontecesse!
FIM
Publicado por Joana às 09:37 PM | Comentários (2) | TrackBack
agosto 06, 2004
A Vingança Serve-se Fria
E quando Feminina, Serve-se Gelada
Em Março deste ano desenrolou-se uma pitoresca controvérsia sobre a aquisição pela Câmara Municipal de Lisboa do Hotel Bragança na Rua do Alecrim para nele instalar uma Casa Eça de Queiroz. Maria Filomena Mónica publicou no PÚBLICO de 24/3/04, sob o título "Uma casa vazia para Eça de Queirós", um texto em que contestava a aquisição de um edifício que ela considerava historicamente erróneo, uma vez que se pode estabelecer a confusão com o Hotel Braganza, de outra localização, e já não existente, local de reunião dos "Vencidos da Vida". E aproveitou esse texto para sugerir que então se comprasse a casa onde viveu Cesário Verde.
No dia seguinte, Santana Lopes escreveu no DN, sob o título As Musas, um texto que combinava a civilidade formal, ao estilo dele, com insinuações sobre eventuais processos de intenção que estariam na base da controvérsia, escrevendo a certa altura que «tenho a impressão que o problema não está propriamente no prédio que a CML comprou mas no facto de ter convidado para dirigir a Casa de Eça de Queirós outra musa». E acrescentou, de forma sinuosa, que concordo que será bonito haver uma casa dedicada a Cesário Verde. Se está disposta a indicar-nos a localização do prédio digo, desde já, que estou disposto a comprar a casa, se estiver à venda a preço razoável, a dedicá-la a Cesário Verde e a convidar Maria Filomena Mónica para a dirigir.
Uma semana depois, a outra «Musa», Ana Nascimento Piedade, directora indigitada da Casa Eça de Queirós em disputa, dava a lume, no PÚBLICO, uma Breve Bengalada Numa Petulante Diatribe onde derramava toneladas de ácido gástrico sobre Filomena Mónica. Nada escapou à bengala da futura directora: Filomena Mónica não passava de uma versão menor do Conselheiro Acácio, obtida por contágio em leituras mal digeridas da obra do ilustre escritor, e que toda a análise queirosiana da «Musa» Filomena apenas continha «opções metodológicas equívocas e afirmações duvidosas», sem «fundamentação documental» Além do mais Filomena Mónica não passaria de uma «Musa» dogmática.
É evidente que Filomena Mónica ao ter escrito que «a CML gastou dinheiro com a aquisição de um prédio onde apenas poderá exibir a Dra. Ana Nascimento Piedade», alegando que não há espólio suficiente para pôr lá dentro, deu azo a esta excessiva secreção gástrica de Ana Piedade e às insinuações maliciosas de Santana Lopes. Mas há limites para tanta má língua, mesmo tratando-se de um imóvel que irá custar cerca de 1,5 milhões de euros.
Nuca tive os nossos agentes culturais em grande conta. Tenho ouvido contar tantas histórias sobre a forma como mendigam o vil metal pelas antecâmaras, fingindo desprezá-lo em público, sobre o seu inveterado hábito de caluniar, em privado, os restantes «agentes culturais», enquanto os elogiam em público, que lhes dou o prejuízo da dúvida. Isto é, a menos que provem o contrário para além de qualquer dúvida, acho que são uns hipócritas e falhos de ética.
De Maria Filomena Mónica só conheço a obra dela e os artigos que tem publicado esporadicamente nos jornais. Aprecio, quer a obra, quer os seus artigos de opinião. Sempre mostrou firmeza nas suas convicções, não pactuando com o laxismo social e no ensino. E eu sempre apreciei quem não pactua com o «politicamente correcto». Como não a conheço dos bastidores culturais não me alongarei sobre a sua personalidade. Prefiro ficar-me pela obra escrita dela.
Anteontem, Quarta-feira, 04-08-04, no Público, Filomena Mónica brindou-nos com um O Diário Secreto de Santana Lopes com a Idade de 48 Anos escrito no mais puro estilo brechtiano dos Negócios do Senhor Júlio César. Absolutamente impecável, de uma subtileza genial, Filomena Mónica exorciza e ajusta as contas em atraso com Santana Lopes e aproveita para, indirectamente, parodiar num estilo neutro, mas mordaz e tremendamente eficaz, um sem número de políticos e comentadores da nossa praça, que ela reduz a simples e pequenos títeres sem qualquer densidade política.
Santana Lopes aparece em travesti de quem ganhou o cargo de Primeiro Ministro num bingo de miúdos da escola básica. E através da infantilidade ingénua do «premiado» desfila o nosso provincianismo político-cultural: o velho queque do Porto (Miguel Veiga), a Mona Lisa de Lisboa (Teresa Gouveia), o sex symbol da Lapa (Miguel Sousa Tavares), o bom rapaz que precisa de orientação (Arnault), Sampaio, Sócrates, Sousa Santos, etc., etc..
A vingança serve-se fria ... gelada mesmo.
Publicado por Joana às 08:00 PM | Comentários (15) | TrackBack
julho 03, 2004
George Sand
Quando em 1832 vieram a lume 2 livros Indiana e Valentine, da autoria de um tal George Sand, todos supuseram tratar-se de um homem maduro e experiente, profundo conhecedor dos costumes e hábitos da sociedade francesa, estigmatizando com amargura e veemência o universo fechado da célula matrimonial, a tirania dos maridos sobre as esposas frágeis e temerosas. O nome de George Sand passou para o topo das letras francesas.
A ninguém passou pela cabeça, excepto ao editor das suas obras e a alguns amigos, que se tratava de uma rapariguinha de 27 anos. Uma rapariga que havia nascido em Julho de 1804, algures entre o dia 1 e o dia 5 (*), faz agora 200 anos.
Para se identificar mais completamente com o seu pseudónimo masculino e também para poder entrar em locais onde as mulheres não eram admitidas e observar cenas e emoções, para as utilizar nos seus livros, George Sand trajava indumentárias masculinas, fumava cachimbo, cavalgava à homem (naquela época, e dada a indumentária utilizada, as mulheres sentavam-se de través no dorso do cavalo), etc.
Aliás, o seu pseudónimo derivou de Jules Sandeau, com quem tinha então uma ligação e cujo nome servia de «testa de ferro» aos artigos que sozinha, ou em colaboração com Sandeau, escrevia. Um artigo num jornal da autoria de uma mulher? Nem pensar! Um escritor de então, hoje merecidamente desconhecido, disse-lhe mesmo: «Je serai franc, une femme ne doit pas écrire Croyez-moi, ne faites pas de livres, faites des enfants».
Assim, para se impor na literatura, com os temas ousados que abordava, Aurore Dupin Dudevant (Baronesa Dudevant pelo casamento, que mandou às urtigas antes de ir para Paris tentar a carreira literária) teve que se tornar George Sand, nome que definitivamente a consagrou, mesmo quando, poucos anos depois, se começou a divulgar que se tratava de uma mulher.
Uma mulher que constituía um escândalo público onde quer que fosse, mas que estava definitivamente consagrada como um dos primeiros prosadores franceses de então.
Uma mulher que viveu, do ponto de vista do relacionamento com o sexo oposto, com o comportamento de um homem, tendo diversas ligações ao longo da sua vida, algumas célebres como as que manteve com Alfred de Musset e com Frederic Chopin. Célebres não só pela reputação artística de ambos, como pelas peripécias, bastante picantes para a época, a que deram origem. Uma mulher que fascinava os homens pela sua reputação de mulher livre e ousada, mas que os intimidava por isso mesmo.
Uma mulher que constitui uma das minhas heroínas preferidas, da história e da literatura, apesar dos seus livros, muito datados, terem perdido muito da aceitação inicial. Os seus romances são hoje de leitura difícil. A extensão da sua obra é notável: produziu 63 romances, 18 peças de teatro, 10 ensaios literários e filosóficos, sem falar da sua actividade jornalística para a Revue des Deux Mondes (a mais importante revista francesa do século XIX e onde muitos dos seus escritos da última fase da sua vida apareceram sob a forma de folhetim), Le Figaro, La Revue de Paris, etc. A sua correspondência compreende 27 volumes! Escreveu Colette : "Comment diable s'arrangeait George Sand ? Cette robuste ouvrière des lettres trouvait moyen de finir un roman, d'en commencer un autre dans la même heure. Elle n'en perdait ni un amant, ni une bouffée de narghilé, sans préjudice d'une Histoire de ma vie en vingt volumes, et j'en tombe d'étonnement". Isto para não falar dos seus dois filhos que, após a separação conjugal, ficaram sob sua custódia.
A revolução de 1848 trouxe-a para a ribalta política. Ela alia-se a Ledru-Rollin, Louis Blanc, Arago e outros republicanos de esquerda. Victor Hugo escreveu então que a revolução tinha virado o mundo às avessas e arrastado para a arena política dois dos mais famosos escritores da época: uma mulher chamada Lamartine e um homem chamado George Sand. Era uma boutade contrapondo a forte personalidade de George Sand à personalidade errática de Lamartine.
O fracasso da ala esquerda dos republicanos e depois da própria república levou-a ao abandono da actividade política. Teve alguns encontros com Luís Napoleão (o futuro Napoleão III) para tentar salvar alguns dos seus amigos da prisão ou do desterro. O seu distanciamento dos corifeus da esquerda republicana e os seus contactos com Napoleão III, de quem aliás obteve alguns perdões, desacreditaram-na perante os republicanos que lhe moveram uma campanha de calúnias e maledicência. Mal vista pela direita, pela sua personalidade e pelas suas opiniões políticas, e pela esquerda, por se ter distanciado de posições que ela considerava sem consistência, George Sand foi penalizada pela sua independência e pelo seu hábito inveterado de pensar pela própria cabeça.
Em 1863 o Santo Ofício punha no Índex o conjunto da sua obra. Em face do seu conteúdo custa perceber porquê. Estou convencida que se tivesse sido escrita por um homem não teria sido objecto daquela censura. Mas a obra de George Sand foi posta no Índex justamente por ter sido escrita por uma mulher. Mais ousada que a obra foi ter sido uma mulher a escrevê-la.
Morre em 1876 em Nohant, onde passara a infância e onde passou a viver após o fracasso da república. Nohant, que fora sempre o seu local de refúgio e onde compôs a maior parte da sua obra. Não apenas ela, mas também Chopin, Delacroix, etc..

George Sand, por Delacroix
(*)Lucile-Amandine-Aurore Dupin nasceu, segundo ela, em 5 de Julho: « Le 5 juillet 1804, je vins au monde, mon père jouant du violon et ma mère ayant une jolie robe rose. Ce fut l'affaire d'un instant.». A investigação documental afirma que a data precisa foi 1 de Julho. Foi uma época de transição entre o calendário republicano e o nosso calendário tradicional que Napoleão acabara de restabelecer. A imprecisão da data é atribuída a essa transição. A homenagem nacional que lhe foi prestada em França realizou-se a 3 de Julho, a meio caminho entre aquelas duas datas ...
Publicado por Joana às 08:46 PM | Comentários (8) | TrackBack
maio 16, 2004
Barbara, a Guerra e Prèvert
Um poema apropriado a esta época. No fim um comentário.
Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-la
Et tu marchais souriante
Epanouie ravie ruisselante
Sous la pluie
Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest
Et je t'ai croisée rue de Siam
Tu souriais
Et moi je souriais de même
Rappelle-toi Barbara
Toi que je ne connaissais pas
Toi qui ne me connaissais pas
Rappelle-toi
Rappelle-toi quand même ce jour-la
N'oublie pas
Un homme sous un porche s'abritait
Et il a crié ton nom
Barbara
Et tu as couru vers lui sous la pluie
Ruisselante ravie épanouie
Et tu t'es jetée dans ses bras
Rappelle-toi cela Barbara
Et ne m'en veux pas si je te tutoie
Je dis tu a tous ceux que j'aime
Même si je ne les ai vus qu'une seule fois
Je dis tu a tous ceux qui s'aiment
Même si je ne les connais pas
Rappelle-toi Barbara
N'oublie pas
Cette pluie sage et heureuse
Sur ton visage heureux
Sur cette ville heureuse
Cette pluie sur la mer
Sur l'arsenal
Sur le bateau d'Ouessant
Oh Barbara
Quelle connerie la guerre
Qu'es-tu devenue maintenant
Sous cette pluie de fer
De feu d'acier de sang
Et celui qui te serrait dans ses bras
Amoureusement
Est-il mort disparu ou bien encore vivant
Oh Barbara
Il pleut sans cesse sur Brest
Comme il pleuvait avant
Mais ce n'est plus pareil et tout est abîme
C'est une pluie de deuil terrible et désolée
Ce n'est même plus l'orage
De fer d'acier de sang
Tout simplement des nuages
Qui crèvent comme des chiens
Des chiens qui disparaissent
Au fil de l'eau sur Brest
Et vont pourrir au loin
Au loin très loin de Brest
Dont il ne reste rien.
Em 1944 os aliados cercaram Brest durante 43 dias. Efectuaram 165 bombardeamentos e destruíram quase completamente a cidade. Houve mais de 25.000 mortos civis.
Prèvert, homem de esquerda e anti-nazi, está dividido entre a necessidade da derrota dos nazis e o desastre humanitário que essa derrota acarretou para Brest.
Por isso esta doçura de tonalidades trágicas, uma forma directa e comovente de denunciar o horror da guerra: sem amigos e nem inimigos, sem distinguir nós e os outros. Apenas vítimas.
Publicado por Joana às 08:03 PM | Comentários (16) | TrackBack
abril 06, 2004
Lucidez e Cegueira
O Ensaio sobre a Lucidez e a campanha que Saramago desencadeou por todo o país, desdobrando-se em entrevistas, palestras, colóquios, vernissages, etc., de apelo ao voto em branco, corresponde às suas convicções políticas e ideológicas mais viscerais e de longa data, e vem na linha do Ensaio sobre a Cegueira e da desilusão de Saramago por uma evolução política e social que ele é incapaz ou se recusa a compreender. Saramago e estes dois escritos são paradigma do desespero de uma esquerda caduca e sem norte, incapaz de se constituir como alternativa política, social e económica minimamente mobilizadora.
Saramago tem saudades do antigo regime onde tudo era simples. De um lado estavam os «bons», os que combatiam o regime; do outro lado estavam os «maus», os que apoiavam o regime ou, pelo menos, que conviviam com ele ou não o punham em causa. E essa classificação era independente de poder haver, entre os «bons», gente de ética duvidosa, e entre os «maus» gente com valor e préstimo.
E tem igualmente saudades do PREC, que se seguiu à queda do regime, onde essa dicotomia era a mesma, exceptuando o facto de que muitos dos combatentes do regime anterior, dos antigos «bons», terem entretanto enfileirado na hoste dos «maus». Os jornalistas que Saramago saneou politicamente enquanto Director do DN também pertenciam aos «maus», segundo a taxinomia da época.
A democracia representativa não é perfeita, mas se existe défice de democracia ele deve ser superado justamente através do combate à renúncia, à capitulação, ao deixar andar, à desistência, ao voto branco ou nulo e à abstenção. Consegue-se através da participação activa nas eleições e, igualmente, na vida pública e quotidiana. Não se combate apelando à desistência.
Mas a hipocrisia desta contestação da democracia representativa por Saramago está no próprio acto do lançamento do livro. Não foram literatos, críticos da literatura, ou vultos proeminentes da intelectualidade que foram os patrocinadores, mas sim figuras emblemáticas da democracia representativa Marcelo Rebelo de Sousa, Mário Soares juntamente com um intelectual comunista, professor e autor do «Joana Come a Papa», por acaso responsável por alguns dos mais atormentados momentos da minha infância.
Saramago contesta a democracia representativa, mas serve-se dos seus corifeus, da liberdade que ela representa e do funcionamento do mercado de bens culturais de que ela é o suporte, para publicitar a sua obra e angariar clientela.
Perante estes factos é importante que tenhamos na lembrança é que os regimes totalitários, de direita ou de esquerda, que a Europa produziu durante o século XX, foram sempre gerados pelo clima de suspeição ou pela menorização da democracia representativa. E o que é mais perverso é que essa contestação usou a liberdade e a possibilidade de crítica que é a própria essência do regime democrático e que mais que uma vez lhe foi fatal.
Saramago e outros atacam a democracia representativa, apesar da liberdade e da prosperidade que esta lhes proporciona, porque ela é um estorvo para que as suas convicções se tornem na ideologia preponderante no país, independentemente do que pensem os outros. A liberdade para eles é um meio para veicularem as suas concepções, mas é um estorvo, porque não obriga a que essas concepções se tornem a ideologia reinante.
Para Saramago e outros, absolutamente convencidos que o que pensam é o que está certo e que só a cegueira ou a falta de lucidez impede a restante população de partilhar dessas convicções, a democracia representativa é uma permanente fonte de decepções.
Quem acredita na democracia representativa luta pelas suas convicções na esperança de que estas tenham acolhimento ou, se constata que essas convicções não são compagináveis com a consciência possível da sociedade, luta por um projecto que contenha aquilo que, dessas convicções, é passível de ser aceite pela sociedade em que vive. Quem não acredita na democracia representativa não põe em questão a adequabilidade das suas convicções à sociedade em que vive; põe sim em questão o discernimento dos eleitores em não perceberam que são aquelas que estão certas e, como consequência, põe em questão a validade da democracia representativa em exprimir a vontade dos eleitores. A democracia está errada porque permite aos eleitores errarem sistematicamente, e o critério do erro é o dos iluminados descrentes do julgamento do voto popular.
Queria deduzir uma última observação sobre a dualidade de critérios: se as teses do Saramago fossem expostas por um intelectual de direita o que não seria! Certamente ao lançamento do seu livro não iriam Marcelo Rebelo de Sousa, Mário Soares e o autor do «Joana Come a Papa». Provavelmente nem o M Monteiro ousaria aparecer. Em vez de apreciações na sua maioria contrárias, mas benevolentes, seria o olvido ou, se este não fosse possível, o apelo à união contra o fascismo, que estava à espreita, já ali, ao virar da esquina.
O fascista Brasillach foi executado pelas suas convicções que o levaram a colaborar com Vichy. O facto de ser um escritor de mérito incontestado não lhe serviu de atenuante perante a justiça de uma França que queria ajustar contas com a sua derrocada. Muitos pedidos de clemência, nomeadamente o de Mauriac, que foi um dos que mais tinha sofrido com a pena acerada de Brasillach, foram em vão. Não me consta que intelectuais comunistas, que colaboraram com regimes totalitários, fossem executados por causa disso, excepto pelos próprios regimes, quando se afastavam alguns milímetros da ortodoxia.
Publicado por Joana às 09:16 PM | Comentários (48) | TrackBack
março 04, 2004
Antonio Vivaldi
Vivaldi é um veneziano nascido em 4 de Março de 1678. Filho de um violinista de nomeada, cedo se produziu em concertos. Em 1703 foi ordenado padre, mas nunca exerceu a sua função seriamente e mantendo uma vida amorosa às claras, o que lhe valeu as alcunhas de "padre mentiroso" e "il prete rosso" (Vivaldi era ruivo). As suas surpreendentes qualidades de professor e intérprete cedo lhe granjearam admiração em toda a Europa. Um dos seus mais entusiastas admiradores foi mesmo J Sebastian Bach.
A partir de 1718 inicia uma carreira cosmopolita, percorrendo toda a Itália e o resto da Europa. Foi aclamado e agraciado por muitos dos governantes e soberanos europeus.
A sua popularidade começou a declinar, não lhe perdoavam o ser padre e pouco casto e morreu em Viena em 1741, com 63 anos, na miséria. Curiosamente, a data da sua morte, 28 de julho, foi a mesma de Bach, nove anos depois, e de Mozart, 50 anos depois e na mesma cidade de Viena.
Antonio Vivaldi compôs mais de 500 concertos, destinados a todos os instrumentos: viola, violino, violoncelo, flauta transversa, oboé, fagote, cravo, clarinete, alaúde, órgão, etc., etc., empregues individualmente ou agrupados em concerti grossi ou em sinfonias (25).
Mas Vivaldi para além de um criador incansável de inesquecíveis melodias (Não podemos esquecer seu lado "impressionista", representado em obras como L'estro armonico, La stravaganza, La Cetra e Il cimento dell'armonia e dell'inventione (1720) que contém as Quatro Estações), deixou sua marca em toda a música instrumental que o sucedeu. É, com efeito, o primeiro compositor sinfónico. Com Vivaldi, os violinos adquirem grande força e densidade orquestral; é fixado o esquema tradicional de movimentos (rápido-lento-rápido); surge o concerto para solista; a instrumentação e a orquestração ganham importância nunca alcançada.
Compôs numerosos concertos, música vocal, meia centena de obras religiosas (missas, salmos, motetes, cantatas). A mais conhecida peça sacra de Vivaldi é o Gloria, uma obra de majestosidade e beleza impressionantes. Outras obras-primas: o Stabat Mater, intensamente dramático, o Magnificat e o Dixit Dominus.
Na oratória, a maior obra de Vivaldi é a Juditha Triumphans, de orquestração deslumbrante e de virtuosismo vocal quase operático. É, inclusive, muito mais convincente em termos dramáticos que suas próprias óperas.
Compôs 95 óperas, mas que só chegaram até nós, completas, 19. A produção operática de Vivaldi não está entre a melhor música que compôs. O pior defeito das óperas de Vivaldi está nos libretos, muito fracos e desinteressantes. E Vivaldi parece não se importar muito com isso, não resolvendo suas óperas no sentido dramático: as árias não se relacionam umas com as outras. Todavia, os seus recitativos são riquíssimos e expressivos, com grande modelação cénica. O compositor adapta seu estilo vibrante e sua instrumentação colorida ao que o público veneziano queria e estava acostumado a ver em cena: muito bel canto e virtuosismo vocal para a glória dos cantores.
A melhor incursão de Vivaldi no género é sem dúvida Orlando Furioso, ópera que foi reescrita três vezes - atitude invulgar que talvez explique a qualidade da obra. Outras óperas com interessse: Catone in Utica, Montezuma, Tito Manlio, etc.
A grande maioria das obras orquestrais ficaram em manuscritos, que depois foram vendidos ao desbarato alguns meses antes de sua morte.
A música de Vivaldi é extremamente eficaz e inventiva e teve uma importante influência nos seus contemporâneos e nos compositores posteriores.
É um dos expoentes máximos da maravilhosa música europeia, um dos mais preciosos legados que os nossos antepassados nos deixaram
Publicado por Joana às 11:43 PM | Comentários (10) | TrackBack
fevereiro 09, 2004
A pegada do dinossauro Silva Melo
O realizador, encenador e actor Jorge Silva Melo recusou um prémio de 25 mil euros, que lhe fora atribuído por um organismo do Ministério da Cultura.
Na altura declarou: «Não gosto de prémios do Estado, porque acredito que o artista é por natureza um traidor ao poder instituído». Ou seja, o artista, o verdadeiro artista, desenvolve a sua arte contra o Estado. Sendo assim, só pode ser apreciado e reconhecido por uma assembleia de traidores ao poder instituído do mesmo tipo de traição: a comunidade dos verdadeiros artistas.
Além do seu desejo de serem considerados traidores ao Estado, os verdadeiros artistas têm, na sua indiscutível opinião, o estatuto de monumentos nacionais. Também eles se libertaram da lei da morte e desdenham serem avaliados pelo seu desempenho. Estaremos em condições, nós, efémeros mortais, de dar um prémio ao Mosteiro dos Jerónimos pelo seu desempenho na forma excepcionalmente garbosa como tem albergado as cinzas de Vasco da Gama? Ou Camões? Ou, quiçá, Amália? E se esse gesto insensato se produzisse, como reagiria o Mosteiro, na sua frieza marmórea?
Mas cinco séculos são segundos face à idade provecta da pegada do dinossauro. Seria lícito avaliar o desempenho daquela pegada, distraidamente deixada por um dinossauro em busca sabe-se lá do quê ... provavelmente da imortalidade.
Não, definitivamente, não.
Os verdadeiros artistas, assim como os monumentos, desdenham prémios, desdenham êxitos comerciais, desdenham o público, estão acima das pequenas misérias deste mundo, mesmo do jurássico.
Todavia, os verdadeiros artistas, assim como os monumentos, sabem que a sociedade está em permanente dívida para com eles. A sociedade não está em condições de avaliar o seu desempenho, mas tem a obrigação moral e material de prover ao seu sustento e manutenção.
Assim, quando se sabe que Silva Melo e a sua companhia vivem do Estado, de que receberam, em 2003, 450 mil euros, só podemos louvar, quer o Estado pela sua dedicação posta na manutenção do nosso património, quer Silva Melo e a sua companhia, por se deixarem subsidiar sem pruridos de passarem por cúmplices de alguma traição. Foi sábia essa aceitação de Silva Melo. Imaginemos que o Mosteiro dos Jerónimos, sentindo-se desconsiderado pela presença hostil do CCB, oficiava o Estado recusando qualquer subsídio e enviava cartas de protesto para os jornais. Quem reabilitaria as suas fachadas e coberturas? Como poderia a Gulbenkian produzir sessões musicais no seu refeitório? Provavelmente, apenas sessões gastronómicas.
Não. Silva Melo conhece os deveres do Estado na manutenção do nosso património e os deveres do nosso património em se deixar manter pelo Estado. Subsidiar o nosso património não se discute. É o que têm em comum a Pátria e o património: não se discutem.
Silva Melo sabe igualmente que subsidiar a manutenção do nosso património deve obrigatoriamente ser independente do êxito deste junto do público. A comunidade dos verdadeiros artistas produz-se unicamente para ela própria, porque apenas os verdadeiros artistas têm estatura cultural para entenderem essa produção. Quanto menor for o êxito junto do público, quanto menos afluência a sua produção tiver, mais perto se encontra da arte absoluta e imortal.
Também os monumentos foram construídos com total desprezo pela opinião dos vindouros. Acaso Keops, quando mandou construir a pirâmide, estava preocupado com a futura opinião dos turistas japoneses e das suas máquinas Nikon? O público é despiciendo: um conjunto de ignaros cuja afluência apenas pode ser sinónimo de má qualidade artística e de descrédito intelectual do autor. Acaso interessa que as gravuras de Fozcoa tenham uma audiência ínfima? Audiência que custou muitas dezenas de milhões de contos ao país. Ao pé disto, o que são uns míseros 90 mil contos anuais atribuídos a Silva Melo?
Premiar Silva Melo, as gravuras de Fozcoa, a pegada do dinossauro e outros monumentos do nosso património rebaixava-os à classe das obras efémeras, transitórias. Não podemos pactuar com tamanho desvario: Exegi monumentum aere perennius.
No caso de Silva Melo, esse desvario assume contornos mais clamorosos, visto Silva Melo ser mais versado na comunicação que a pegada do dinossauro, embora provavelmente menos inteligível. Se o prémio tivesse sido atribuído à pegada do dinossauro, esta permaneceria atónita, mas muda. Silva Melo protesta no Público, assegurando que foi violado. E o ominoso violador seria o Instituto das Artes, impondo a sua lasciva vontade nas relações com os artistas.
Silva Melo confessa-se, pois, vítima de monumentofilia, perversão inconfessável, de contornos ainda pouco claros, provavelmente à espera de uma moldura penal definida, mas que poderá vir a tornar-se um futuro entretenimento das noites televisivas, quando o caso Casa Pia desaparecer das manchetes. O arguido seria agora o Instituto das Artes, colocado sob prisão preventiva, e as vítimas os artistas, mas com uma diferença: a atracção dos artistas pelo protagonismo mediático faria com que estes aparecessem, dando o rosto, sem máscaras, nem vozes entarameladas, contando com pormenores requintados as peripécias escabrosas das horríveis violações.
Publicado por Joana às 07:53 PM | Comentários (38) | TrackBack
fevereiro 06, 2004
Sermão aos Peixes
Isto suposto, quero hoje, à imitação de Santo António, voltar-me da terra ao mar, e já que os homens se não aproveitam, pregar aos peixes. O mar está tão perto que bem me ouvirão. Os demais podem deixar o sermão, pois não é para eles.
................................................................
Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório. Ao menos têm os peixes duas boas qualidades de ouvintes: ouvem e não falam. Uma só cousa pudera desconsolar ao pregador, que é serem gente os peixes que se não há-de converter. Mas esta dor é tão ordinária, que já pelo costume quase se não sente. Por esta causa mão falarei hoje em Céu nem Inferno; e assim será menos triste este sermão, do que os meus parecem aos homens, pelos encaminhar sempre à lembrança destes dois fins.
...........................................
Vos estis sal terrae. Haveis de saber, irmãos peixes, que o sal, filho do mar como vós, tem duas propriedades, as quais em vós mesmos se experimentam: conservar o são e preservá-lo para que se não corrompa. Estas mesmas propriedades tinham as pregações do vosso pregador Santo António, como também as devem ter as de todos os pregadores. Uma é louvar o bem, outra repreender o mal: louvar o bem para o conservar e repreender o mal para preservar dele. Nem cuideis que isto pertence só aos homens, porque também nos peixes tem seu lugar.
...................................................
Quando Cristo comparou a sua Igreja à rede de pescar, Sagenae missae in mare, diz que os pescadores «recolheram os peixes bons e lançaram fora os maus»: Elegerunt bonos in vasa, malos autem foras miserunt. E onde há bons e maus, há que louvar e que repreender. Suposto isto, para que procedamos com clareza, dividirei, peixes, o vosso sermão em dois pontos: no primeiro louvar-vos-ei as vossas virtudes, no segundo repreender-vos-ei os vossos vícios. E desta maneira satisfaremos às obrigações do sal, que melhor vos está ouvi-las vivos, que experimentá-las depois de mortos.
Começando pois, pelos vossos louvores, irmãos peixes, bem vos pudera eu dizer que entre todas as criaturas viventes e sensitivas, vós fostes as primeiras que Deus criou. A vós criou primeiro que as aves do ar, a vós primeiro que aos animais da terra e a vós primeiro que ao mesmo homem. Ao homem deu Deus a monarquia e o domínio de todos os animais dos três elementos, e nas provisões em que o honrou com estes poderes, os primeiros nomeados foram os peixes: Ut praesit piscibus maris et volatilibus caeli, et bestiis, universaeque terrae.
..............................................
Estes e outros louvores, estas e outras excelências de vossa geração e grandeza vos pudera dizer, ó peixes; mas isto é lá para os homens, que se deixam levar destas vaidades, e é também para os lugares em que tem lugar a adulação, e não para o púlpito.
..........................
Muito louvor mereceis, peixes, por este respeito e devoção que tivestes aos pregadores da palavra de Deus, e tanto mais quanto não foi só esta a vez em que assim o fizestes. Ia Jonas, pregador do mesmo Deus, embarcado em um navio, quando se levantou aquela grande tempestade; e como o trataram os homens, como o trataram os peixes? Os homens lançaram-no ao mar a ser comido dos peixes, e o peixe que o comeu, levou-o às praias de Nínive, para que lá pregasse e salvasse aqueles homens. É possível que os peixes ajudam à salvação dos homens, e os homens lançam ao mar os ministros da salvação?! Vede, peixes, e não vos venha vanglória, quanto melhores sois que os homens. Os homens tiveram entranhas para deitar Jonas ao mar, e o peixe recolheu nas entranhas a Jonas, para o levar vivo à terra.
..............................................
Mas porque nestas duas acções teve maior parte a omnipotência que a natureza (como também em todas as milagrosas que obram os homens) passo às virtudes naturais e próprias vossas. Falando dos peixes, Aristóteles diz que só eles, entre todos os animais, se não domam nem domesticam. Dos animais terrestres o cão é tão doméstico, o cavalo tão sujeito, o boi tão serviçal, o bugio tão amigo ou tão lisonjeiro, e até os leões e os tigres com arte e benefícios se amansam. Dos animais do ar, afora aquelas aves que se criam e vivem connosco, o papagaio nos fala, o rouxinol nos canta, o açor nos ajuda e nos recreia; e até as grandes aves de rapina, encolhendo as unhas, reconhecem a mão de quem recebem o sustento. Os peixes, pelo contrário, lá se vivem nos seus mares e rios, lá se mergulham nos seus pegos, lá se escondem nas suas grutas, e não há nenhum tão grande que se fie do homem, nem tão pequeno que não fuja dele. Os autores comummente condenam esta condição dos peixes, e a deitam à pouca docilidade ou demasiada bruteza; mas eu sou de mui diferente opinião. Não condeno, antes louvo muito aos peixes este seu retiro, e me parece que, se não fora natureza, era grande prudência. Peixes! Quanto mais longe dos homens, tanto melhor; trato e familiaridade com eles, Deus vos livre! Se os animais da terra e do ar querem ser seus familiares, façam-no muito embora, que com suas pensões o fazem. Cante-lhes aos homens o rouxinol, mas na sua gaiola; diga-lhes ditos o papagaio, mas na sua cadeia; vá com eles à caça o açor, mas nas suas piozes; faça-lhes bufonarias o bugio, mas no seu cepo; contente-se o cão de lhes roer um osso, mas levado onde não quer pela trela; preze-se o boi de lhe chamarem formoso ou fidalgo, mas com o jugo sobre a cerviz, puxando pelo arado e pelo carro; glorie-se o cavalo de mastigar freios dourados, mas debaixo da vara e da espora; e se os tigres e os leões lhe comem a ração da carne que não caçaram no bosque, sejam presos e encerrados com grades de ferro. E entretanto vós, peixes, longe dos homens e fora dessas cortesanias, vivereis só convosco, sim, mas como peixe na água. De casa e das portas a dentro tendes o exemplo de toda esta verdade, o qual vos quero lembrar, porque há filósofos que dizem que não tendes memória.
.............................
Vede, peixes, quão grande bem é estar longe dos homens. Perguntando um grande filósofo qual era a melhor terra do Mundo, respondeu que a mais deserta, porque tinha os homens mais longe.
.....................................
Antes, porém, que vos vades, assim como ouvistes os vossos louvores, ouvi também agora as vossas repreensões. Servir-vos-ão de confusão, já que não seja de emenda. A primeira cousa que me desedifica, peixes, de vós, é que vos comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastara um grande para muitos pequenos; mas como os grandes comem os pequenos, não bastam cem pequenos, nem mil, para um só grande. Olhai como estranha isto Santo Agostinho: Homines pravis, praeversisque cupiditatibus facti sunt, sicut pisces invicem se devorantes: «Os homens com suas más e perversas cobiças, vêm a ser como os peixes, que se comem uns aos outros.» Tão alheia cousa é, não só da razão, mas da mesma natureza, que sendo todos criados no mesmo elemento, todos cidadãos da mesma pátria e todos finalmente irmãos, vivais de vos comer! Santo Agostinho, que pregava aos homens, para encarecer a fealdade deste escândalo, mostrou-lho nos peixes; e eu, que prego aos peixes, para que vejais quão feio e abominável é, quero que o vejais nos homens.
Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não, não: não é isso o que vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o sertão? Para cá, para cá; para a cidade é que haveis de olhar. Cuidais que só os Tapuias se comem uns aos outros? Muito maior açougue é o de cá, muito mais se comem os Brancos. Vedes vós todo aquele bulir, vedes todo aquele andar, vedes aquele concorrer às praças e cruzar as ruas; vedes aquele subir e descer as calçadas, vedes aquele entrar e sair sem quietação nem sossego? Pois tudo aquilo é andarem buscando os homens como hão-de comer e como se hão-de comer. Morreu algum deles, vereis logo tantos sobre o miserável a despedaçá-lo e comê-lo. Comem-no os herdeiros, comem-no os testamenteiros, comem-no os legatários, comem-no os credores; comem-no os oficiais dos órfãos e os dos defuntos e ausentes; come-o o médico, que o curou ou ajudou a morrer; come-o o sangrador que lhe tirou o sangue; come-a a mesma mulher, que de má vontade lhe dá para a mortalha o lençol mais velho da casa; come-o o que lhe abre a cova, o que lhe tange os sinos, e os que, cantando, o levam a enterrar; enfim, ainda o pobre defunto o não comeu a terra, e já o tem comido toda a terra.
Já se os homens se comeram somente depois de mortos, parece que era menos horror e menos matéria de sentimento. Mas para que conheçais a que chega a vossa crueldade, considerai, peixes, que também os homens se comem vivos assim como vós. Vivo estava Job, quando dizia: Quare persequimini me, et carnibus meis saturamini? «Porque me perseguis tão desumanamente, vós, que me estais comendo vivo e fartando-vos da minha carne?» Quereis ver um Job destes?
Vede um homem desses que andam perseguidos de pleitos ou acusados de crimes, e olhai quantos o estão comendo. Come-o o meirinho, come-o o carcereiro, come-o o escrivão, come-o o solicitador, come-o o advogado, come-o o inquiridor, come-o a testemunha, come-o o julgador, e ainda não está sentenciado, já está comido. São piores os homens que os corvos. O triste que foi à forca, não o comem os corvos senão depois de executado e morto; e o que anda em juízo, ainda não está executado nem sentenciado, e já está comido.
......................
A maldade é comerem-se os homens uns aos outros, e os que a cometem são os maiores, que comem os pequenos: Qui devorant plebem meam, ut cibum panis.
Extractos do Sermão de Santo António pronunciado em São Luís do Maranhão a 13 de junho de 1654.
O Padre António Vieira nasceu a 6 de Fevereiro de 1608, faz hoje 394 anos, quase 4 séculos.
Publicado por Joana às 11:32 PM | Comentários (32) | TrackBack
janeiro 11, 2004
Mensagem
Amar os nossos inimigos - o pensamento dos nossos inimigos e a crítica dos nossos inimigos - é o verdadeiro sinal do espírito combativo. Que importa que eles me guardem ressentimento e rancor? Eu preciso deles como do ar que respiro; eu agradeço-lhes o contribuírem para a clarificação das minhas ideias e para a fortificação dos meus motivos de viver; eu afirmo-lhes, para além de todas as minhas disputas, a minha fraternidade e a minha lealdade de inimigo.
Este parágrafo, da autoria de Raul Proença, mas que eu partilho inteiramente, dedico-o àqueles que discordam frontalmente do que escrevo (os “inimigos”), quer o escrevam aqui, quer apenas o pensem. E aqueles que apenas o pensem, que não se acanhem. Escrevam-no aqui, neste blogue, porque o que é válido para mim, o será certamente para vocês.
Publicado por Joana às 07:41 PM | Comentários (12) | TrackBack
outubro 04, 2003
Leni Riefenstahl uma homenagem
Leni Riefenstahl foi uma figura ímpar na história do cinema. Idolatrada em surdina por muitos, execrada por outros, Leni Riefenstahl foi uma mulher talentosa e uma grande personalidade artística.
Depois de diversos filmes utilizando como décor a montanha e a sua figura atlética e desportiva, e em que colaborou, entre outros, com Pabst, realizou o galardoado Das Blaue Licht antes de ser a intérprete do mito Nazi da renascença nacional, o culto da virilidade, saúde e pureza, realizando o documentário sobre o Congresso de Nuremberga - Triumph des Willens (1935), o maior filme de propaganda jamais realizado e que ganhou a medalha de ouro do Festival de Veneza e a medalha de ouro da Exposição Mundial de Paris (1937), entre outros prémios. O efeito destas imagens, combinando as paradas, as bandeiras, os efeitos de luzes e o dramatismo da música de Wagner, os poderosos acordes da abertura de Rienzi e de trechos dos Nibelungen, submergindo completamente o individual na massa imensa e informe dos participantes era poderosíssimo e ficou como paradigma do filme de propaganda. Passou há poucos anos na nossa cinemateca.
O filme seguinte foi Olympia, sobre os Jogos Olímpicos de 1936, também largamente premiado internacionalmente, que se manteve, durante décadas como referência indispensável sobre o que é um documentário desportivo. Vi, há menos de um ano, um longo documentário sobre este filme e é espantoso como, há 67 anos, com os meios técnicos de então, foi possível fazer aquele filme.
Era uma mulher com personalidade. E pessoas com personalidade não tinham lugar durável no regime nazi. Goebbels, elogiando-a nos discursos públicos, odiava-a. Leni afastou-se, ou foi afastada.
A seguir à guerra, enquanto gente que se tinha mantido fiel até ao fim ao regime era recuperada, Leni manteve-se igual a si própria. Não entrou em desculpabilizações nem em actos de contrição. Quem quisesse aceitá-la como ela era, que o fizesse. Foi a primeira vítima da Berufsverbot e o seu nome tornou-se maldito. Os americanos deixaram-na em paz, mas os franceses prenderam-na. Não lhe perdoaram o terem-lhe outorgado a medalha de ouro da Exposição Mundial de Paris. Ao punirem-na, julgaram redimir-se pela sua atitude capitulacionista nas vésperas da guerra.
Já na década de 60 decidiu encetar uma carreira como fotógrafa e foi para o sul do Sudão. Os seus livros Die Nuba e Die Nuba von Kau mostram que continuava o seu interesse pela beleza e força física, pelo erotismo da forma. Continuou a sua actividade e ainda há 3 ou 4 anos, perto dos 100, fazia fotografia submarina.
Era demasiado grande para continuar apenas maldita. Se o seu nome continuava maldito, nomeadamente na Alemanha, para a consciência culposa de muitos, os prémios internacionais começaram a chover.
E ela manteve-se igual até à morte. Hoje.
9 de Setembro de 2003
Publicado por Joana às 12:19 AM | Comentários (5) | TrackBack