novembro 13, 2005
E as consequências?
Muito se tem escrito sobre os tumultos em França. As alegadas causas são esquadrinhadas ao milímetro. Os sociólogos da auto-culpabilização não têm dúvidas: a casa nova que afinal não era senão um penhor de culpa; o roubo do sonho de uma nova identidade social; um mal geral que se desencadeou em França porque na Europa, é o país mais politizado, mais participativo e mais mobilizado; uma lógica de automutilação devido à quebra da anterior "sociabilidade e a solidariedade do bairro de barracas", etc. Outros, mais modestos, referem a desigualdade económica, desemprego crónico, falhas de estratégia policial, fracasso nas políticas de integração, falta de perspectivas dos jovens revoltados. Ninguém arrisca falar nas consequências.
É a própria inventariação de causas que inviabiliza soluções. Refiro-me a soluções e não a paliativos que apenas adiem uma nova e porventura mais grave explosão.
Se uma casa nova não é senão um penhor de culpa, uma esmola que ao invés de colmatar a exclusão a confirma, então não servirá de nada fazer novas urbanizações mais humanizadas. As urbanizações não têm alma. Quem as humaniza ou desumaniza, é quem as habita.
A afirmação que estes tumultos se desencadearam em França porque na Europa, é o país mais politizado, mais participativo e mais mobilizado, é apenas uma utilização canhestra do mecanicismo histórico: os jovens desordeiros não são herdeiros da civilização francesa (aliás, recusam-na), a única participação cívica que se lhes conhece é a de receber subsídios estatais e não evidenciaram quaisquer pretensões políticas.
A razão mais sólida, mas pouco enunciada porque a França continua a ser um modelo de virtudes para a nossa intelectualidade da ética republicana, é a da discriminação. Colegas de um mesmo liceu vão a uma discoteca, mas um ou dois ficam à porta porque os seguranças aperceberam-se que são de ascendência árabe. Quando respondem a um anúncio de emprego, se enviam um CV onde, pelo nome, se detecta que são de ascendência árabe, o mais certo é nunca serem sequer entrevistados. A actual geração de franco-magrebinos tem muito mais dificuldade em encontrar empregos que os seus progenitores, porque a actual taxa de desemprego é muito elevada e a concorrência no mercado de emprego é muito forte. Se o empregador tem muito por onde escolher, descarta preferencialmente os árabes.
Ou seja, se parte dessa discriminação é intrínseca à sociedade francesa, a do mercado de trabalho resulta principalmente da falta de empregos. Afinal de contas a primeira geração encontrou emprego, apesar de ser magrebina. A actual geração não os encontra porque há poucos e os poucos que existem dirigem-se preferencialmente aos não-árabes.
Portanto estamos naquilo que me parece ser o cerne da questão, e que tem a ver com o desenvolvimento económico e o nível de emprego. A essência do Estado Providência europeu consiste na sua omnipresença social, regulando de forma rígida o mercado de trabalho, protagonizando uma função assistencialista generalizada e suportado por uma carga fiscal pesada. Todavia, quando há crescimento económico, a rigidez do mercado laboral desincentiva os empresários a admitirem os efectivos que admitiriam se não houvesse essa rigidez, por temerem ficar com pessoal excedentário, se o crescimento não for sustentável. Isto é, a rigidez do mercado laboral promove o malthusianismo económico.
Simultaneamente, a pesada carga fiscal é um entrave ao crescimento, porque aumenta os custos de produção e retira competitividade à economia, face a um mundo cada vez mais globalizado.
Finalmente, a função assistencialista generalizada tem um efeito nocivo em toda a sociedade. Cria nela a síndrome de dependência do Estado, a aversão ao risco, a ilusão de que as regalias que goza são direitos adquiridos ad aeternum, a mentalidade de que o Estado tem soluções para tudo e que cabe a ele resolver todos os problemas. E, pior que tudo, a permanente insatisfação pelos bens que o Estado proporciona: não era aquela a casa que desejavam, os subsídios que recebem não são os suficientes, etc. É a psicologia do mendigo que insulta quem dá uma esmola que ele considera insuficiente.
Talvez seja esta mentalidade perniciosa o efeito mais perverso do Estado Providência, com as suas características de omnipresença e omnipotência, tal como se verifica actualmente em França e em alguns outros países europeus. A capacidade de escolha, de decidir o rumo da sua vida, de assumir o risco de uma decisão, de ter audácia e espírito inovador são as características de uma sociedade de homens livres. Foi isso que fez a grandeza da Europa e do Novo Mundo. Tudo isso tem sido, pouco a pouco, castrado pelo Estado Providência. O Estado Providência está a transformar uma sociedade de homens livres num rebanho de subsídio-dependentes.
A anona e as distribuições gratuitas de alimentos e distracções a um número cada vez maior da cidadãos romanos, que passaram a viver na ociosidade, corromperam as virtudes cívicas e as qualidades que haviam feito a grandeza da República Romana e conduziram à sua decadência e queda. O Estado Providência europeu está, mutatis mutandis, a seguir um percurso semelhante no que respeita ao envilecimento dos valores e virtudes cívicas dos cidadãos europeus.
O que está de errado em tudo esta questão é a omnipresença e omnipotência do Estado Providência, a extensão desmesurada que a função assistencialista adquiriu e os efeitos perversos a que tudo isso conduziu: estagnação económica, aumento do desemprego, exclusão das camadas mais jovens do mercado de trabalho, a síndrome de dependência do Estado e o aviltamento dos valores.
É isso que tem que ser corrigido.
Publicado por Joana às 10:51 PM | Comentários (89) | TrackBack
novembro 08, 2005
Desemprego e Exclusão
Verifico que muita gente não se apercebe da importância do nível de emprego no bem-estar social de uma sociedade e na sua sustentabilidade. Argumentar que a percentagem dos que trabalham e estão abaixo do limiar de pobreza é superior nos EUA à da UE, não colhe. Por um lado, como se viu no post anterior, a relação entre a pobreza nos EUA e na UE muda radicalmente quando se passa da análise da pobreza relativa (em percentagem dos respectivos PIBs) para a pobreza absoluta. Por outro lado, uma taxa elevada de desemprego (haverá sempre um desemprego friccional) corrói toda a estrutura económica e social de um país
O subsídio de desemprego é uma forma economicamente nociva de substituir um emprego, mesmo que seja menos bem remunerado. Enquanto um trabalhador empregado produz riqueza, um desempregado subsidiado consome riqueza. Aumentar as transferências sociais para pagar o aumento dos subsídios só pode ser feita, quer diminuindo os restantes gastos do Estado, quer aumentando as receitas fiscais em qualquer dos casos, aumentando o ónus fiscal. O aumento das receitas fiscais faz diminuir a poupança privada e, portanto, o investimento produtivo. Ou seja, substituir um emprego menos bem remunerado pelo subsídio de desemprego reduz as possibilidades de criação de novos empregos, diminui a competitividade da economia e trava o crescimento.
A existência de um volume elevado de desemprego aumenta a concorrência entre os trabalhadores na busca de um emprego, nomeadamente nas profissões menos qualificadas. A probabilidade que um trabalhador venha a perder o emprego é mais elevada e a probabilidade de um desempregado encontrar um emprego é menor. Ou seja, a tendência é para um aumento cada vez maior da duração do desemprego. Quando a taxa de desemprego é baixa, um trabalhador tem capacidade de obter uma maior remuneração. Se a taxa é elevada, a sua capacidade negocial é nula. Uma elevada taxa de desemprego prejudica todos os trabalhadores, porque lhes diminui as perspectivas.
A UE criou um modelo social que incentiva os seus cidadãos a trabalharem menos, ao facilitar a redistribuição da riqueza através de subsídios, em vez de os incentivar a contribuírem com o seu trabalho para a criação de riqueza. A consequência desta política social é que é retirado tanto aos pobres como aos ricos o incentivo para trabalhar, ou para trabalhar mais. Os pobres porque preferem os subsídios e o lazer ao trabalho; os ricos porque deixam de ter incentivo a investirem e a produzir riqueza e mais empregos.
Todavia, este modelo social está condenado. Cedo ou tarde, as contribuições para a segurança social e os impostos deixarão de conseguir mantê-lo. O sistema de segurança social da UE tornar-se-á insustentável e arrastará toda a economia para a descida do Maelstrom, à medida que a subida dos encargos com quotizações e impostos for impelindo os agentes económicos para fora da base contributiva (para a economia paralela, para o desemprego ou para a emigração).
A diferenciação salarial é menor na Europa. Mas isso traduz-se no facto dos trabalhadores menos qualificados serem mais bem pagos do que seriam sem essa diferenciação salarial menor. Este caso é especialmente evidente no sector público português. O problema é que este nível aparentemente mais elevado de equidade social é conseguido à custa dos que ficam sem emprego e da perda do dinamismo económico.
Os factores acima enunciados são meramente económicos. Para além destes há os factores sociais. O desemprego de longa duração (preponderante na Europa) conduz ao aviltamento das capacidades de trabalho e à perda progressiva da qualificação, por muito exígua que seja. As relações sociais degradam-se. Sobrevém a marginalização e a exclusão social. Um trabalhador, por muito pouco qualificado que seja o seu emprego, pode sempre acalentar a esperança que o seu desempenho o faça progredir ou encontrar uma alternativa melhor. Um desempregado está excluído dessa possibilidade de ascensão social. Nomeadamente se nunca teve sequer acesso ao primeiro emprego e vive de subsídios para sobreviver. Pode subsistir, mas é uma subsistência sem esperança.
O darwinismo social americano tem-se revelado economicamente mais dinâmico e menos castrador das capacidades humanas que o Estado social europeu. A Europa construiu um modelo social que protegesse e desse segurança ao emprego promoveu o desemprego. A Europa construiu um modelo social para promover a equidade promoveu a exclusão social. Não são paradoxos é excesso de regulamentação. A economia é avessa ao excesso de regulamentações e retalia contra os que a espartilham. Sempre foi assim. Sempre será assim.
Publicado por Joana às 11:58 PM | Comentários (82) | TrackBack
novembro 07, 2005
Alguns Números (Act.)
Como a França mostrou mais à evidência, o Estado Social só funciona para os insiders. É tão iníquo como o mercado que premeia os mais aptos (não necessariamente os mais fortes ou mais inteligentes). Pior que iníquo - trava o crescimento. O défice de equidade de uma economia de mercado terá que ser colmatado com transferências sociais, mas cujo único objectivo apenas poderá ser esse evitar a exclusão social e nunca uma alternativa que o pretira ao emprego nem implique custos de tal forma avultados que retire competitividade à economia e faça aumentar o desemprego. O desemprego é a forma mais grave de exclusão social e o Estado social europeu está a promover essa exclusão.
Fala-se em que os salários dos mais desfavorecidos são mais baixos nos países onde a flexibilização laboral é maior. Talvez, embora nesses países também exista o salário mínimo. Todavia quando se compara a pobreza, comparam-se coisas diferentes. O limiar da pobreza é definido em percentagem do PIB. Se o PIB (em termos de paridade de poder de compra) dos EUA for superior em 50% ao dos principais países europeus, uma percentagem apreciável dos pobres americanos não seria considerada pobre, quando comparado o seu poder de compra com o dos seus congéneres europeus.
Por exemplo, 41% dos pobres americanos têm casa própria; 69,7% têm, pelo menos, um carro; 27,3% têm 2 ou mais carros; 99,3% têm frigorífico; 60,7% têm máquina de lavar; 66,3% têm ar condicionado em casa; 13,1% têm computador pessoal (embora 97,3% tenham uma ou mais TV a cores); etc., etc. Quando se fala em pobreza americana, tem que se saber sobre o que se fala.
Por isso, sempre que se fala em comparações internacionais, Estados sociais, bem estar, etc., são lançados os mais diversos palpites, de títulos ou leituras mal digeridas, e constroem-se teses magníficas sobre desejos e não sobre factos. Por isso deixo aqui 3 gráficos. Um sobre a evolução do PIB (em termos de paridade de poder de compra); outro sobre a evolução da taxa de desemprego e outro sobre a evolução do défice público.
Neles podem verificar-se algumas coisas. A França e a Alemanha têm perdido terreno em termos de rendimento nacional. A estimativa para o ano de 2005 foi antes da última revisão em baixa (os números são das bases de dados do FMI). Portanto a evolução entre 2004 e 2005 será mais modesta que a indicada no gráfico. Em 1980 o UK estava abaixo daqueles dois países e presentemente está acima. O défice americano é apenas um pouco maior que o da França e da Alemanha e reflecte os acontecimentos posteriores ao 11 de Setembro. O desemprego na França e na Alemanha tem-se vindo progressivamente a agravar e é claramente superior ao dos outros países da amostra.
Uma constatação interessante é que o desemprego nos EUA flutua mais e está claramente ligado às políticas macroeconómicas das sucessivas administrações. O efeito Reagan saldou-se num imediato aumento do desemprego (como é normal numa primeira fase de aplicação de medidas liberalizadoras) mas proporcionou uma melhoria progressiva, que só foi interrompida pela actuação da administração Bush pai. A época Clinton foi uma época de contínua expansão. Quando a administração Bush filho subiu ao poder já se notava a desaceleração do crescimento. Desaceleração que se acentuou com o 11 de Setembro e o aumento dos gastos militares. No último ano houve uma recuperação e as estimativas para 2005 foram agora revistas em alta.
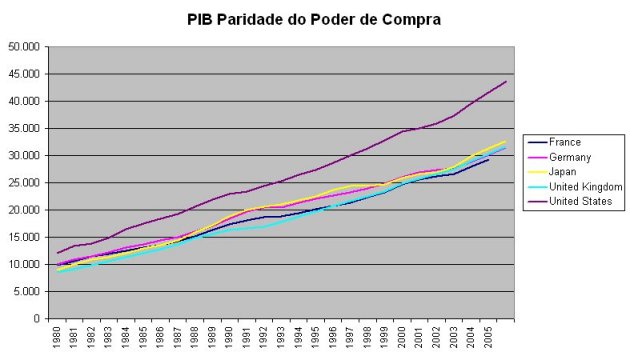
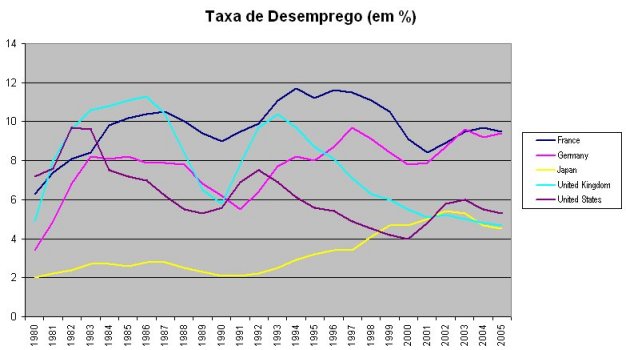
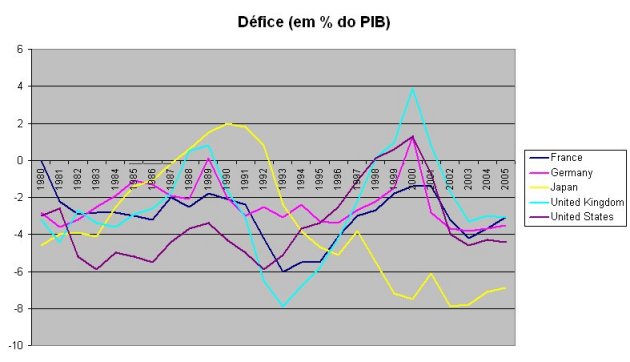
Nota: No gráfico está referido Défice, mas mais correcto seria Saldo. Neste entendimento os défices correspondem aos valores negativos e os superavits aos valores positivos.
Adenda: Em face de algumas questões levantadas, junto um quadro com indicadores sobre a pobreza americana e respectivas fontes. De notar que as estatísticas referentes a alguns equipamentos são muito antigas, estando por isso desactualizadas (como os computadores pessoais.
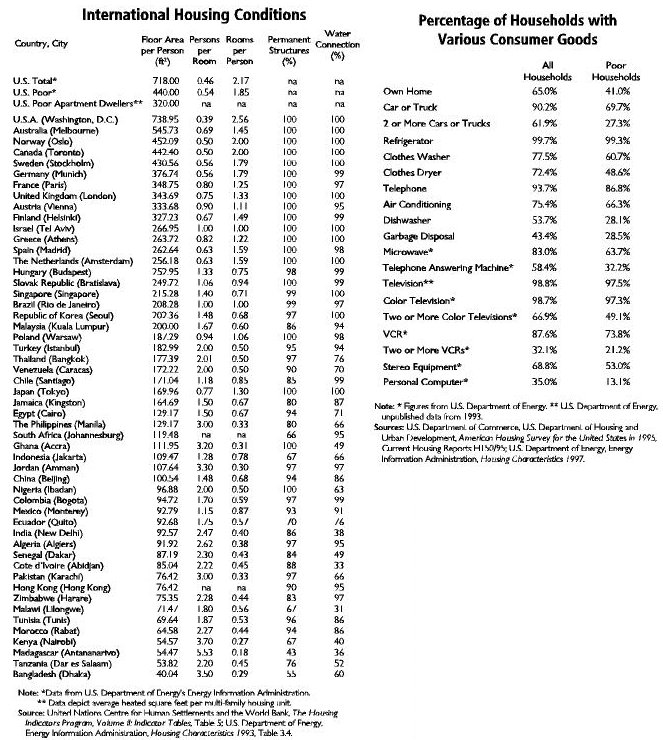
Publicado por Joana às 11:50 PM | Comentários (131) | TrackBack
novembro 06, 2005
A Hipocrisia do Modelo Social
O modelo social francês (e de outros países do continente europeu) tem sido apresentado como um sistema necessário que assegura a equidade, a justiça e o consenso social. Era apresentado como contraponto aos modelos anglo-saxónicos, nomeadamente o americano, mais liberais, menos capazes de gerar coesão social e mais propícios a tumultos anti-sistema. Esta ideia era de uma total ingenuidade ou de uma ignorância perversa ou ambas as coisas.
Um modelo social que assenta na rigidez laboral e nos direitos adquiridos dos insiders exclui necessariamente os que ainda não tiveram acesso à vida activa. Exclui porque é um entrave ao desenvolvimento económico e, portanto, à criação de mais empregos, ou mesmo à manutenção dos existentes, e exclui porque dificulta o acesso, aos empregos existentes, dos jovens do país ou da 2ª geração de imigrantes. O modelo social, tal como existe na Europa continental, é um modelo de exclusão social. E de exclusão a longo prazo, porque o desemprego na Europa continental é, principalmente, de longa duração. Protege obsessivamente os insiders e exclui os restantes.
O que se verifica em França, como em Portugal e noutros países europeus, é que o desemprego afecta sobretudo os jovens (embora também comece a afectar os trabalhadores pouco qualificados que vão caindo no desemprego por fecho ou deslocalização de empresas). Os jovens são excluídos deste modelo social que é o orgulho desta Europa artrítica. Os jovens e sobretudo os jovens filhos de imigrantes. Em França, com uma taxa de desemprego de mais de 10%, o desemprego entre os jovens é cerca de 20% e entre os jovens filhos de imigrantes chega a atingir os 40%.
Aqueles que defendem os modelos sociais existentes esquecem-se dos seus efeitos colaterais que neste espaço já foram por diversas vezes inventariados. E o efeito colateral mais grave é o do desemprego. Todavia, como os insiders estão protegidos por lei, esse desemprego incide, com uma percentagem muito elevada, nos jovens que tentam entrar na vida activa. São estes as principais vítimas do modelo social que tanto prezamos.
Nós não construímos um modelo social. Construímos uma fortaleza para defender aqueles que têm empregos com contratos efectivos, deixando de fora uma parcela substancial das gerações que nos seguem. E entoamos loas a um modelo social que é um entrave ao nosso desenvolvimento económico, que fomenta o desemprego, principalmente entre os jovens, mas que nos dá, aos insiders, uma protecção ilusória.
E ilusória porque, ao contrário do que muitos julgam, os direitos adquiridos não são eternos. Muitos operários dos têxteis e do calçado já sentem na pele a precaridade dos inalienáveis direitos adquiridos. Muitos jovens já perceberam que nunca terão direitos adquiridos. Muitos terão mesmo dificuldade em perceber se conseguirão alguma vez encontrar um emprego.
Tudo o que é sólido se dissolve no ar. Nenhuma fortaleza, por mais altaneira e soberba que se erguesse, evitou ser derruída
Publicado por Joana às 11:11 PM | Comentários (152) | TrackBack
outubro 31, 2005
Estado (A)Social e Iliberal
O Governo pretende negar o subsídio de desemprego aos trabalhadores que rescindam o seu vínculo laboral por mútuo acordo com a as respectivas empresas. Com a actual legislação laboral, a única possibilidade de uma empresa redimensionar os seus efectivos era através da rescisão amigável. Penalizando os trabalhadores, o governo pôs mais um prego no caixão da nossa competitividade. Não há almoços grátis ... alguém terá que pagar a diferença. Em futuros acordos os trabalhadores a quem for proposta a rescisão amigável farão os seus cálculos tendo em atenção as novas disposições. Uma das partes (provavelmente a empresa) ou ambas terão que pagar o excesso.
Em teoria é justificável a medida de acabar com subsídios de desemprego quando houver uma rescisão amigável. Todavia, face ao nosso Código Laboral, uma rescisão amigável é, na quase totalidade dos casos, a forma que a empresa tem de reduzir os seus efectivos ou livrar-se de monos. Na verdade não é propriamente uma rescisão amigável é o despedimento possível. O Governo, segundo parece, vai estabelecer limites de rescisões anuais, abaixo das quais continuam a aplicar-se os preceitos actuais. Todavia esses limites podem revelar-se muito baixos nas grandes empresas (o limite máximo será, segundo parece, 10 efectivos por ano). E será dramático em empresas (pequenas ou grandes) que tenham que fazer reestruturações profundas.
A perversão do Estado português é pôr os cidadãos, nomeadamente os do sector privado, a sustentarem os seus vícios. São os privados que têm que fazer a filantropia social que o nosso Estado Social não é capaz. Os senhorios fazem filantropia social a contra gosto, continuando a receber rendas ridiculamente baixas; os empresários têm que manter nos seus quadros efectivos que deixaram de lhes interessar porque cristalizaram ou foram avessos à requalificação; todos temos que pagar o gigantesco asilo público em que o sector público se transformou. O Governo não o reforma e somos nós que continuamos a pagar essa ciclópica obra de filantropia social.
Portugal não tem um Estado Social. Apenas tem um Estado Iliberal e predador. São os contribuintes, os senhorios, os empresários, etc., que fazem a filantropia social no nosso país. Em alguns casos o Estado faz o papel de mediador. Infelizmente é um mediador que desbarata a maior parte do dinheiro que lhe entregam.
Publicado por Joana às 06:55 PM | Comentários (98) | TrackBack
outubro 25, 2005
A Tranquilidade de Não ter Blog
Medina Carreira é um homem tranquilo. Tem aquilo que me escasseia (talento) e não tem aquilo que o exporia (um blog). O que ele escreveu hoje no Público já o tenho escrito aqui por diversas vezes, em diversos tons, e tem gerado clamores de indignação. Nem são coisas hermeticamente técnicas. São factos e conceitos de senso comum. Não é preciso ser-se economista para os entender; basta ter senso e ter a mente liberta de preconceitos e de chavões; basta não ter o intelecto obliterado por opções partidárias; basta pensar pela própria cabeça. Nada mais.
O que Medina Carreira escreve, a certa altura, no Público de hoje, resume a nossa situação actual: «A crise económica e crise financeira do Estado, em especial, determinam a pouco referida crise da social-democracia/socialismo democrático. De facto, sem perspectivas favoráveis, no curto e no médio prazo, a economia portuguesa já não suporta, e não suportará, uma política redistributiva do rendimento e da riqueza; nem aproximará a taxa de ocupação da mão-de-obra do pleno emprego; nem assegurará, responsavelmente, o futuro de um Estado Social que pretenda garantir tudo a todos; nem um sindicalismo actuante porque, "contra" os privados, teme as falências e as "deslocalizações", e "contra" o Estado ataca verdadeiramente os contribuintes, que são as únicas vítimas do "Partido do Estado". Além da medíocre economia que temos, o Estado português, na zona euro, não pode ser intervencionista: sem moeda, já não tem política monetária, nem cambial próprias; não tem fronteiras nem alfândegas; não tem autonomia orçamental; e não pode controlar a circulação dos capitais. Neste contexto, as políticas e os objectivos da social-democracia/socialismo democrático, que a grande maioria dos portugueses prefere, caminham para o esgotamento».
Tudo isto tem sido aqui escrito, de uma ou outra maneira, mas muitos continuam a não querer (ou a fingir que não querem) acreditar.
O quadro que transcrevo no fim, igualmente retirado do mesmo artigo do Público, é elucidativo. Portugal tem o sistema fiscal mais iníquo da UE e aquele cujas receitas mais têm aumentado. O nosso aumento da Despesa Pública entre 1986 e 2001, não tem paralelo com os outros países da UE. Estamos à frente em tudo o que é nocivo e em penúltimo (agora em último, porque os números do PIB referem-se 2001) no que seria importante.
Com esta política de crescimento do sector público e da fiscalidade, degradámos a competitividade do sector privado, aumentámos o nosso défice com o exterior e chegámos ao novo milénio com a economia em declínio e, o que é mais grave, de uma forma sustentada. Se não invertermos drasticamente o caminho que as contas do Estado têm tomado, continuaremos neste projecto de empobrecimento colectivo sustentado por ilusões baseadas na ignorância, em não querer ver a realidade e em mitos ultrapassados.
Relativamente ao quadro em anexo fiz uma análise de regressão entre o PIB 2001 (Y) e o aumento da carga fiscal 1986-2001 (X). O resultado foi o seguinte:
(1) Y = 20,25 - 0,784 X
Sendo o coeficiente de correlação de -0,74.
Ou seja, o PIB 2001 é uma função decrescente da carga fiscal, com um coeficiente de correlação de 74%.
Com os números que possuía sobre a evolução do PIB ppc e que já foram transcritos mais que uma vez neste blog, fiz uma análise de regressão entre a variação do PIB (de 1986 a 2005) (Y) e o aumento da carga fiscal 1986-2001 (X). O resultado foi o seguinte:
(2) Y = 2,64 - 0,059 X
Sendo o coeficiente de correlação de -0,42.
Em ambos os casos o aumento da carga fiscal age negativamente, quer sobre o PIB, quer sobre o seu crescimento.
Finalmente pus a hipótese do valor do PIB influenciar a própria variação do PIB (os países mais pobres terem tendência a crescer mais, por efeito de convergência) e o resultado que obtive da regressão múltipla foi:
(3) VarPIB = 4,04 - 0,099 VarFiscal -0,051 PIB2001
Sendo o coeficiente de regressão múltipla de 0,49.
A variação do PIB é fortemente influenciada pela variação da carga fiscal. Ao introduzir a nova variável PIB 2001, o peso negativo do aumento fiscal na variação do PIB acentuou-se. Ou seja, na equação (2), parte do peso da variação das receitas fiscais continha o efeito do montante do PIB.
Não me parece que os valores dos coeficientes tenham uma importância relevante. O que tem significado é o facto do aumento da carga fiscal ter uma influência negativa no crescimento económico e os países mais ricos crescerem tendencialmente (e ceteris paribus) menos que os mais pobres. Isso aconteceu em todas as comparações.
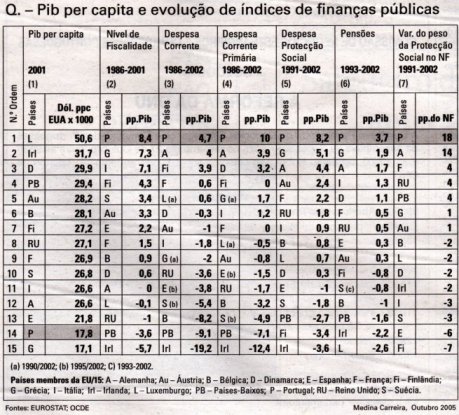
Ou seja, Portugal tem que atacar o défice pelo lado da Despesa mas não apenas para reduzir o défice, porque é vital que se vá mais longe de forma a fazer diminuir o ónus fiscal. Portugal não tem apenas que reduzir a Despesa Pública, tem igualmente que reduzir as Receitas do Estado.
Mas o problema fiscal não se reduz às taxas. É mais lato. O nosso sistema fiscal é iníquo e arbitrário. Ele terá que ser muito simplificado e melhorado, do ponto de vista da sua eficiência na actividade económica.
Sem isso, nada feito. Por isso, o OE 2006 poderá ser o orçamento possível neste ano, mas também poderá ser apenas uma tentativa de iludir o caminho inexorável para o abismo. Dentro de alguns meses se saberá.
Publicado por Joana às 07:59 PM | Comentários (213) | TrackBack
outubro 16, 2005
Pobreza e Desigualdade
Ciclicamente organizações alegadamente preocupadas com o bem estar das classes mais desfavorecidas difundem estatísticas onde Portugal aparece como o país da União Europeia onde há mais desigualdade entre ricos e pobres. Incidentalmente também é o país mais pobre. O que o pensamento unidimensional daquelas organizações não descortina é que há uma correlação forte entre pobreza e desigualdade, e que a desigualdade deriva da pobreza da sociedade e não o contrário. Por isso quando clamam pelo combate à desigualdade para diminuir a pobreza, estão apenas a propor aumentar a pobreza geral da sociedade.
Quando comparamos 2 países com graus de riqueza diferentes, verificamos que quanto mais qualificadas são as pessoas, menor é a diferença remuneratória, entre esses países, para os mesmos níveis de qualificação. Percebe-se facilmente. As pessoas mais qualificadas (quer academicamente, quer profissionalmente, quer pela sua capacidade empresarial) estão num mercado mais aberto, mais global e mais transparente. Se não se sentem bem remuneradas no seu país, facilmente arranjam emprego noutro. E quanto mais facilidade tiverem em o fazer, mais próximo estará a sua remuneração, no país de origem, da remuneração no país mais rico, para uma qualificação equivalente.
Não é possível contrariar esta tendência. Num país pobre, tentar aproximar os rendimentos mais elevados da média nacional, baixando-os, é incentivar a fuga dos cérebros, desqualificar o país e concorrer para que ele empobreça mais. A menos que aquela medida seja tomada em conjugação com o fecho das fronteiras, transformando o país num campo de concentração. Mas as experiências que houve neste sentido só conduziram a péssimos resultados.
Portanto a desigualdade combate-se pelo enriquecimento geral do país. Quanto mais rico for o país, menor será a amplitude dos rendimentos, porquanto terá menor amplitude o fenómeno do alinhamento das remunerações dos quadros superiores, pelas remunerações dos países ricos e a tentação da fuga dos cérebros.
Um outro caso é o das desigualdades internas nos países mais ricos, que têm aumentado bastante nas últimas décadas. Esse facto tem a ver, principalmente, com o extraordinário desenvolvimento tecnológico nos últimos tempos, principalmente com a revolução informática, electrónica e nas comunicações. As novas tecnologias exigem muita competência, mas também uma mentalidade mais aberta, não aversão ao risco, requalificação contínua e aposta na mobilidade de trabalho como factor de melhoria da qualificação. Houve uma revolução no mercado de trabalho, principalmente nos países mais ricos. Hoje em dia, as empresas têm dificuldade em verem-se livres dos trabalhadores pouco qualificados e avessos ao risco e, em contrapartida, têm uma enorme dificuldade em conservarem, entre os seus efectivos, os quadros mais qualificados e activos, frequentemente assediados pelas empresas concorrentes.
Portanto, na nossa economia globalizada, mesmo entre os países mais ricos, os mais competentes e habilitados vêem os seus rendimentos alinharem-se pelos níveis idênticos de competência dos outros países ricos, enquanto as baixas qualificações se tendem a alinhar pelos níveis idênticos dos países que concorrem nessas gamas de produtos. Por conseguinte a tendência é o aumento da desigualdade. Essa tendência só poderá ser combatida pelo aumento geral da qualificação e pelo abandono dos sectores em que a concorrência se faz pela degradação dos preços.
Ou seja, em qualquer dos casos, apenas o aumento da qualificação da população activa e o aumento da riqueza do país permitem fazer diminuir as desigualdades de rendimentos. Diminuir as desigualdades pela redistribuição acarreta sempre uma perda de eficiência da economia (cf A. Okun, Equality and Efficiency: The Big Tradeoff), perda que aumenta, mais que proporcionalmente, com os montantes da redistribuição.
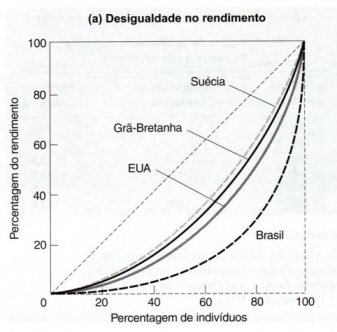
Adenda: Ao lado encontra-se a curva de Lorenz relativa à distribuição de rendimento nos fins da década de 90 (retirada do Samuelson). A bissectriz é o lugar geométrico da absoluta igualdade de todos os rendimentos.
De notar que a Suécia, cuja curva mais se aproxima da perfeita igualdade, era o país mais rico da Europa em 1970 e em 2004 era o 12º (atrás vinham a França -14º - a Espanha - 15º e Portugal 19º)
Sobre os efeitos perversos do excesso de impostos (para alimentar o peso do Estado) e das transferências sociais excessivas para combaterem, ilusoriamente, a desigualdade, ler neste blog:
Impostos e nível de Emprego
A Dimensão do Estado
Sísifo e o Estado 1
Sísifo e o Estado 2
Sísifo e o Estado 3
Estado e Desenvolvimento 1
Estado e Desenvolvimento 2
Publicado por Joana às 10:12 PM | Comentários (212) | TrackBack
julho 19, 2005
Primeiro Triunfo de Sócrates
Uma das primeiras prioridades de Sócrates, «os 3 Es Espanha, España, Hespanha» está a tornar-se uma realidade. Sócrates deve estar a rejubilar, extasiado. O presidente da Associação Nacional de Pequenas e Médias Empresas (ANPME) refere que, desde que foi anunciado o aumento do IVA, 84 seus associados mudaram a sua sede para Espanha. E sublinha que este movimento está a alastrar.
Estas empresas suportam o IVA sobre os produtos adquiridos em Portugal e vendem esses mesmos produtos para outros países comunitários sem IVA. O valor do imposto é posteriormente devolvido pelo Estado às empresas, mas essa devolução, que em teoria deveria ser feita em dois meses, chega a demorar entre seis meses a um ano. Neste período de tempo a empresa financia o Estado português.
Se a empresa for espanhola, adquire os produtos no mercado nacional sem IVA, já que se trata de uma transacção intracomunitária. Esta empresa por sua vez pode vender as mesmas mercadorias a outros países comunitários (sem ser em Espanha) sem IVA, ou em Espanha com o IVA à taxa local. Portanto se uma empresa portuguesa passar a sua sede para Espanha e passar a funcionar a partir daí, deixa de suportar o IVA (desde que seja uma empresa exportadora).
Adicionalmente, o IRC resultante da sua laboração é pago em Espanha (o que também é mais favorável à empresa) e constitui uma perda para o Estado português. Este tipo de deslocalização está ganhar expressão em empresas de pequena dimensão que se dedicam à exportação. Mas poderá alastrar progressivamente a empresas de maior dimensão.
Este é apenas um dos primeiros e ainda reduzidos efeitos da política governamental de combater o défice pelo aumento das taxas de impostos e não pela redução da despesa pública.
É apenas uma consequência prática das teorias que desenvolvi em:
A Dimensão do Estado
Sísifo e o Estado 1
Sísifo e o Estado 2
Sísifo e o Estado 3
Estado e Desenvolvimento 1
Estado e Desenvolvimento 2
Publicado por Joana às 07:24 PM | Comentários (96) | TrackBack
O Estado Motor
Permitem-me que discorde desta posta do João Miranda. Na minha humilde opinião, o Estado português tem um papel fundamental e insubstituível como motor da nossa economia. Só que deve ser um motor com uma velocidade apenas: a Marcha Atrás.
O Governo e o Estado devem empenhar-se, resolutamente, em desfazerem toda a porcaria que andaram a acumular nas últimas décadas: burocracia estúpida e paralisante; ineficiência e obesidade asfixiantes do Estado; sistema fiscal excessivo, injusto e desmotivador da actividade económica.
Esse Estado motor é insubstituível. Só ele pode limpar os Estábulos de Áugias. que as cavalgaduras que nos têm governado andam, há décadas, a encher de ... porcaria.
Já que vivemos numa época em que os Hércules desapareceram, terá que ser o próprio Áugias a limpar os estábulos.
Publicado por Joana às 01:07 PM | Comentários (60) | TrackBack
julho 11, 2005
A Dimensão do Estado
Quando se fala do peso excessivo do Estado, imediatamente quem def(p)ende (d)a sua existência clama que se responda, sem ambiguidades, qual deve ser a dimensão do Estado. Vou hoje fazer algumas reflexões sobre essa matéria, sublinhando todavia que não é um problema de solução única. A solução depende da eficiência do próprio Estado, da «qualidade» do sistema fiscal e do projecto que se tem para o país: Qual o doseamento entre desenvolvimento e igualitarismo.
Como eu escrevi há dias «Sem a existência de um governo suportado num aparelho estatal está instalada a anarquia e não é possível uma actividade económica sustentável, nem há condições para o progresso económico e civilizacional.». Ou seja, se a despesa pública fosse 0% (ou não houvesse impostos), a receita fiscal seria 0 e o PIB seria nulo. Haveria produção, para subsistência, mas esta não teria expressão monetária, visto que «a ameaça de expropriação é real e permanente. A actividade económica reduz-se à subsistência». Esse seria o limite inferior.
À medida que as taxas de imposto vão aumentando, os bens e serviços públicos essenciais ao funcionamento normal do mercado vão sendo disponibilizados justiça, defesa, infra-estruturas básicas, educação básica. Nesta zona os efeitos destes aumentos em eficiência produtiva vão contrabalançando os efeitos desincentivadores das taxas de imposto para a actividade económica.
Se se continuarem a aumentar as taxas de imposto, a partir de certo montante, as ineficiências e os desincentivos começam a fazer-se sentir de forma cada vez mais acentuada. Vai ocorrer o declínio dos rendimentos do trabalho, da poupança, do investimento e do próprio rendimento colectável. Os agentes económicos vêm-se forçados a abandonar as suas actividades «monetarizadas» para se dedicarem a outras actividades como o lazer, a evasão e a fraude fiscais, a trabalhos de rendimento não tributável, à improdutividade e ao absentismo. E isto porque as alterações nos preços relativos induzidas nas taxas dos impostos afectam as escolhas entre trabalho e lazer, entre consumo presente/futuro e poupança/investimento e entre economia legal e economia paralela.
Em teoria, se as taxas forem 100% não haverá interesse em desenvolver qualquer actividade tributável o dinheiro que se recebe é totalmente entregue ao Estado. Nessa situação as receitas fiscais reduzem-se a zero e o PIB igualmente. Será o limite máximo. É óbvio que continuará a haver alguma produção, mas apenas para subsistência, sem expressão monetária, visto que «a ameaça de expropriação [pelo Estado] é certa. A actividade económica reduz-se à subsistência». Diversos autores sugerem que a partir dos 85% a 90% haveria uma oferta nula do sector tributável.
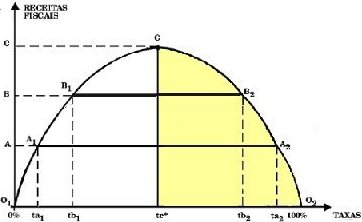
Ou seja, a receita fiscal seria nula quando T = 0, aumentaria e depois diminuiria, porque se anularia quando T = 1 (100%). Grosso modo um seria uma curva do tipo R = A×(T T²), quando T = 0 então R = 0 e quando T = 1 (100%) então R = 0. O máximo desta curva seria quando a primeira derivada se anulasse (2T = 1 ou seja, T = 50%). O máximo da receita fiscal seria 0,25×A (A é um factor de escala).
Ao lado está a curva respectiva. O mesmo nível de receitas fiscais é atingido por duas taxas dispostas simetricamente relativamente ao ponto T = 50%. Portanto, a partir de T = 50%, já não vale a pena aumentar o nível de impostos.
Esta é uma formulação muito grosseira. Haverá outros factores que condicionarão a forma da curva, o valor de T que maximiza R, e o valor máximo de T que anula R.
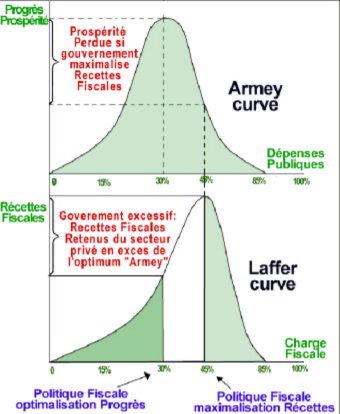
Esta curva é conhecida em Economia com a designação de Curva de Laffer, pois foi Laffer que a desenhou pela primeira vez, num guardanapo de papel, num restaurante em Washington há 30 anos. Paralelamente com esta curva existe a Curva de Armey, que relaciona o PIB com a Despesa Pública. Tem um andamento semelhante. Quando G = 0, PIB = 0 (já vimos que o PIB seria nulo em termos contabilísticos, mas teria um valor estimado, não monetário, mas traduzível em termos monetários, pois haveria uma economia de subsistência). Do mesmo modo que na Curva de Laffer, à medida que G se aproximasse dos 100% do PIB, a actividade económica tributável tenderia para zero. O PIB real não seria nulo, mas não haveria actividade económica tributável. As pessoas trocariam serviços mas não usariam meios monetários que pudessem conduzir à taxação.
Ao lado encontram-se as duas curvas tal como foram desenhadas pelo estudo do WorkForAll citado anteriormente. Na opinião destes autores flamengos (daí alguns erros de francês!) o máximo do PIB aconteceria com G = 30% e o máximo das receitas seria obtido com uma taxa fiscal de 45%. A partir de 85% as receitas e o PIB seriam nulos. Milton Friedman, num estudo onde comparou os USA e Hong Kong, concluiu que, embora o governo tivesse um papel essencial numa sociedade livre e aberta, a partir de um certo valor da Despesa Pública, a contribuição marginal para o PIB anular-se-ia e passaria a ser negativa. Situou esse valor algures entre 15% e 50%.
Mas estes limiares dependem de vários factores, à cabeça dos quais vem a «qualidade» do sistema fiscal. Dois sistemas fiscais que arrecadem ambos 40% da riqueza nacional podem ter efeitos muito diversos. Um deles ter efeitos negativos mitigados e o outro ser completamente castrador da actividade produtiva, tendo efeitos devastadores sobre essa actividade. Nesse ponto de vista, o nosso sistema fiscal é duplamente mau por ter taxas elevadas e por ser um agente anquilosante da actividade produtiva, pela sua má qualidade.
Há um estudo de 1998, Government Size and Economic Growth, de Richard Vedder e Lowell Gallaway, que calculou a Curva de Armey, para os EUA. Testou várias variáveis independentes. A seguir apresento aquela que me pareceu mais interessante, que relacionava o PIB com a Despesa Pública (G), o desemprego (U) e o Tempo (T). A variável Tempo (o período em estudo compreendia os anos entre 1947 e 1997) foi utilizada para capturar os efeitos não explicáveis pelas outras varáveis produtividade, tecnologia, intensidade do Capital, etc.:
PIB = A + bG cG² + dT - eU
Os resultados foram os seguintes:
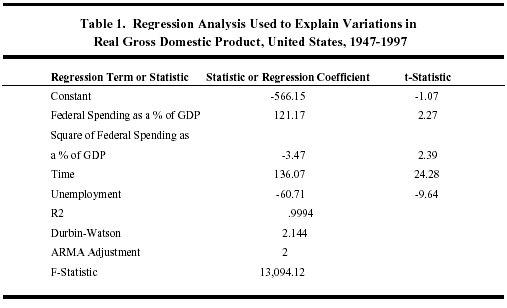
Estes resultados, apesar de terem um R2 muito elevado, carecem de algum poder explicativo, embora os sinais dos coeficientes estejam de acordo com as hipóteses de base. Todavia os autores cometeram um erro que se deve, sempre que possível, evitar: introduzir o Tempo como variável independente numa regressão múltipla baseada em séries temporais. Invariavelmente o Tempo torna-se a variável com maior poder explicativo, pois captura todos os factores que evoluem com o tempo. Basta ver que é a variável que tem um coeficiente com a Estatística t mais elevada, de longe. Parte do poder explicativo das restantes variáveis foi capturado por T.
Outras análises econométricas, adicionando outras variáveis, conduziram a resultados semelhantes, embora com R2 menor, mas com menor preponderância explicativa de T. Por exemplo:
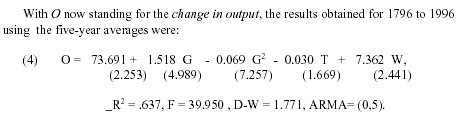
Resumindo, as curvas apresentadas acima estão, grosso modo, certas. Saber se a Despesa Pública óptima é 30% (como afirma WfA) ou 35%, como sugere o exemplo irlandês, e se o máximo de receitas fiscais se atinge com uma taxa geral de 45% ou 50% é discutível. Igualmente é discutível se o máximo, a partir do qual a actividade económica «monetarizada» se anula, acontece com 85% ou 90%. Seguramente será antes dos 100%. Aquilo que é evidente é que o andamento das curvas de Laffer e Armey está correcto, dentro de uma faixa de imprecisão relativamente pequena.
Ler ainda:
Sísifo e o Estado 1
Sísifo e o Estado 2
Sísifo e o Estado 3
Estado e Desenvolvimento 1
Estado e Desenvolvimento 2
Publicado por Joana às 11:30 PM | Comentários (121) | TrackBack
julho 04, 2005
Encruzilhadas
O problema da modernização do nosso Estado e da postura adequada perante o que está actualmente em jogo é complexo. É certo que a esquerda continua presa na teia ideológica de mitos que criou há muitas décadas. Mas seria simplista dirimir a questão entre esquerda e direita. A questão é mais funda e prende-se com o processo histórico e social de formação da classe política portuguesa. O nosso pessoal político não só da esquerda, mas também do centro e da direita, tem sido recrutado no sector público, o que não facilita a compreensão do funcionamento do sector produtivo e não permite que se aperceba da urgência e do sentido das reformas.
Basta ver o conteúdo de muitos comentários sobre os meus posts relativos ao Tigre Celta (como é conhecida a Irlanda depois dos resultados da última década), para se constatar a dificuldade que as nossas mentalidades têm em lidar com fenómenos que escapam à síndrome da pasmaceira da protecção estatal. Se a esquerda pode ser acusada de permanecer há décadas presa de ícones ideológicos, em vez de se esforçar em favorecer um diálogo social e uma mentalidade moderna e aberta à inovação e à mobilidade, a direita não lhe ficou muito atrás no conservadorismo político e económico, deixando-se colonizar por aqueles ícones ideológicos, julgando assim conseguir suporte eleitoral. Ora o poder político não é um fim em si próprio, mas um meio para gerir os negócios do Estado com o objectivo de promover a prosperidade e o bem estar social.
Tanto a questão não pode ser vista como algo que divide esquerda e direita, que coube a Tony Blair, um socialista, o ter a coragem de, perante um Parlamento Europeu maioritariamente hostil, fazer um diagnóstico lúcido e corajoso da situação com que a Europa se confronta e dizer claramente quais são as prioridades: concentrar-se na investigação, educação, inovação, infra-estruturas tecnológicas, ou seja, onde se joga o futuro da Europa. Obviamente que essas afirmações colidiram com os hábitos instalados e com os governos que estão reféns de interesses corporativos, entre os quais o nosso.
A PAC tem quase 50 anos e já não pode ser uma prioridade para a construção europeia. O pensamento dos empresários não é o dos burocratas, dos políticos e dos diplomatas. Se queremos empresas com capacidade de gerarem emprego é preciso que elas consigam explorar as vantagens comparativas próprias do tecido social em que se inserem. Sobre esta questão, temos, de um lado o UK, a Irlanda, a Espanha, os países do Norte da Europa e os novos aderentes. Do outro lado temos o núcleo inicial da UE.
Portugal está, pela ideologia governativa, do lado do núcleo inicial da UE, mas pelas necessidades de sanear as contas públicas, do lado oposto. Na realidade, nada disto sucede. Portugal está apenas à porta, com a mão estendida, à espera que o vencedor desta pugna esportule o óbolo habitual. E esta postura nem sequer é uma questão partidária. Se fosse o governo de PSL provavelmente faria o mesmo. É uma postura atávica.
No caso português há ainda o entrave sindical. Os sindicatos têm uma estrutura arcaica e são dominados pelo sector público, praticamente a sua única base de apoio na actualidade. A modernização e a competitividade passa-lhes completamente ao lado. Nem sequer as compreendem, mesmo quando falam delas. O modelo sindical português aposta no imobilismo e compraz-se nele. O reverso é que o mundo e a economia são feitos de mudança. E essa mudança é cada vez mais simples e rápida: se as empresas não estão bem, mudam-se.
A presidência de Blair pode provocar na Europa uma viragem no sentido da modernização e do desenvolvimento económico e da sustentabilidade de um modelo social que sobreviva pela eficiência económica, pelo crescimento, pela competitividade e pela sua própria flexibilidade. Só com prosperidade se combate a exclusão social. Distribuir o que não há apenas conduz ao agravamento da crise geral. Erigir uma muralha da China para proteger sectores de menor valor acrescentado tem efeitos opostos, pois torna-se uma prisão para os sectores de elevada tecnologia, onde a Europa joga a sua prosperidade.
A influência de uma presidência europeia que enfrente a globalização e os problemas que se colocam hoje à Europa com uma estratégia ofensiva e não com a estratégia defensiva e proteccionista do eixo franco-alemão pode ser uma alavanca importante para construir uma nova via para a Europa e criar um ambiente favorável ao fortalecimento do tecido empresarial europeu. E, porque não, conseguir que Portugal ultrapasse os seus atavismos e o imobilismo das suas instituições. Os portugueses fora do rectângulo têm mostrado capacidade de inovação e de assumirem riscos. Há que liquidar os entraves que, dentro do rectângulo, imobilizam essa nossa capacidade.
Publicado por Joana às 10:56 PM | Comentários (57) | TrackBack
julho 03, 2005
Novamente a Irlanda
Ou o regresso de Sísifo
A fé no Estado e nas suas virtudes tem a mesma génese conceptual que a fé teológica. Se a razão se opõe, é a razão que está errada; se os factos a contrariam, é porque estão a ser mal interpretados ... pior ... tenta-se-lhes dar uma volta para os afeitar a uma interpretação que não comprometa as bases teologais. São os nossos genes, moldados pela omnipresença do Estado, pelo poder absoluto da Inquisição e por uma revolução dita liberal, mas que se limitou a transpor um Estado absoluto para um Estado de matriz jacobina em 2ª mão. Foi o que aconteceu com os meus textos sobre a diferença de políticas entre a Irlanda e a Bélgica e os resultados a que isso conduziu. Que aliás reeditavam conclusões idênticas de estudos apresentados aqui anteriormente.
A revolução económica irlandesa é muito interessante para nós, porque a sua génese foi uma situação com muitas semelhanças com a que nós vivemos há alguns anos. Como nós, a Irlanda era um país pobre, fundamentalmente agrícola e, pior que nós, com uma pesada herança colonial britânica. A partir da adesão à UE (1973) até meados da década de 80 a economia irlandesa caracterizou-se por um contínuo aumento da despesa pública, aplicando as chamadas receitas keynesianas para estimular a economia. O emprego no sector público cresceu bastante, os salários subiram significativamente, e apostou-se nas infra-estruturas públicas. Todavia, até 1986, a economia cresceu muito pouco. Entre 1980 e 86, o PIB cresceu 1,68% ao ano. A dívida externa atingiu 125% do PIB. Por sua vez, o desemprego, apesar das receitas keynesianas continuou a crescer, atingindo 17,3% em 1985 (ver quadro abaixo).
Para sustentar esta enorme despesa pública, os impostos foram aumentando progressivamente. Os últimos escalões dos impostos sobre o rendimento das pessoas singulares atingiram os 80% e a taxa de IRC situou-se nos 50%. Todo este descalabro era mascarado internamente pela desvalorização da libra irlandesa. A partir da 2ª metade da década de 80, com a vitória do Fianna Fail, houve medidas drásticas: eliminação de 10 mil postos de trabalho no sector público, cortes maciços na despesa pública (6% na saúde, 7% na educação, 18% na agricultura, 11% nas obras públicas e 7% na defesa). A despesa pública passou de 55% do PIB para 41% do PIB entre 1985 e 1990.
Em simultâneo foram incentivadas parcerias sociais entre empregadores e trabalhadores, por períodos de 3 anos, onde em contrapartida da moderação salarial, o governo oferecia uma baixa drástica de IRS e melhorias das prestações sociais. Todos os impostos (pessoas singulares, pessoas colectivas, capitais, etc.) tiveram cortes drásticos. O PIB começou a crescer a um ritmo superior (entre 1987 e 1993 cresceu a uma média de 3,7% ao ano) e o desemprego diminuiu ligeiramente, apesar da diminuição do emprego público (em 1993 a taxa de desemprego era de 15,7%). A conjugação das parcerias, diminuição de impostos e melhoria de algumas prestações sociais fez com que, apesar das medidas drásticas relativas à despesa e emprego público, a situação laboral irlandesa melhorasse, diminuindo as horas perdidas por paralisações laborais.
Estas medidas, conjugadas com a adesão ao euro e a estabilidade dos principais parâmetros macroeconómicos induzidos por essa adesão, tornaram a Irlanda um país extraordinariamente atractivo para os investidores internacionais, nomeadamente os americanos. Entre 1994 e 2000 a economia irlandesa cresceu a um ritmo de 8,2% ao ano e a taxa de desemprego caiu para 4,3% (ver quadro abaixo). A partir de 1989, o ritmo de criação de emprego situou-se em cerca de 25 mil por ano (para uma população equivalente a 40% da população portuguesa). Como as taxas que oneravam o factor trabalho desceram significativamente, os custos laborais irlandeses mantiveram-se baixos e atractivos, apesar do aumento da riqueza pública. Mesmo em 2003, um ano mau para a UE, a taxa de crescimento do PIB irlandês foi de 3,7%, subindo em 2004 para 5,1%, enquanto Portugal estagnava dramaticamente.
O rápido crescimento da economia irlandesa e o facto de se ter tornado o 2º país mais rico da UE (depois do Luxemburgo), possibilitou uma melhoria das condições sociais. A taxa de natalidade irlandesa é das mais elevadas da Europa (1,45%, contra 1,08% em Portugal) o que conjugada com uma baixa taxa de mortalidade (0,79%, contra 1,04% em Portugal) e uma elevada taxa de imigração líquida (0,49%, contra 0,35% em Portugal), possibilita à Irlanda um alto crescimento demográfico (1,16%, contra 0,39% em Portugal). Em Portugal é a imigração que sustenta o crescimento demográfico, enquanto na Irlanda ele é sustentado essencialmente pelo crescimento próprio.
O papel do Estado Irlandês neste milagre económico foi decidir emagrecer e assumir um papel essencialmente regulador quando, até 1985, havia sido um Estado investidor e com pretensões a criador de riqueza. Falhou totalmente nessas intenções. O Estado não tem vocação para se substituir aos empresários. A vocação do Estado é criar um clima favorável à actuação desses mesmos empresários. Não houve remédios mágicos: apenas uma economia de mercado concorrencial e sem barreira à entrada artificiais; um sistema fiscal economicamente eficiente; estabilidade política, social e fiscal; aposta na procura de investimento estrangeiro em indústrias de maior valor acrescentado; redução dos ónus fiscais que pesavam sobre o factor trabalho e aposta na melhoria da sua qualificação, produtividade e estabilidade das relações sociais.
Foi assim que a Irlanda passou de uma situação de bancarrota para a prosperidade que ostenta hoje.
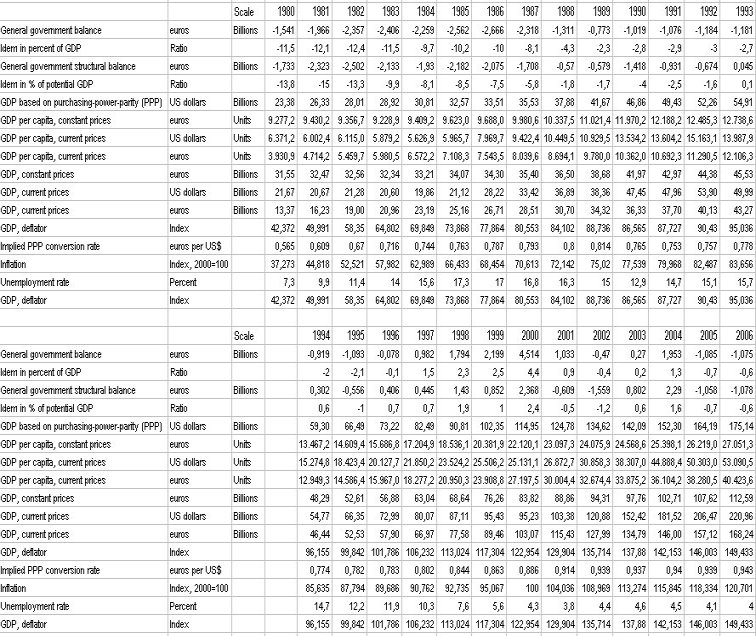
O quadro que se segue é um gráfico representando a evolução do PIB e da Despesa Pública (DP) na Irlanda entre 1985 e 2002. Os valores estão a preços constantes. O DPb tem como fonte a OCDE e o DPa foi fornecido por um comentarista deste blogue.
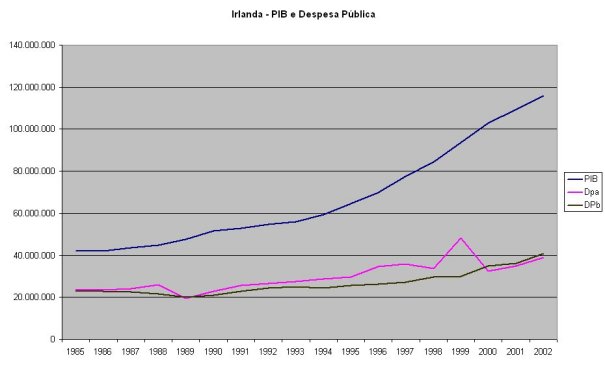
Publicado por Joana às 06:55 PM | Comentários (57) | TrackBack
junho 28, 2005
Sísifo e o Estado 3
Apresento seguidamente alguns valores relativos à UE 15, USA, Suiça e Noruega, retirados da base de dados do FMI e que abrangem o período 1980-2006. Um quadro em Excel com a evolução do PIB em termos de paridade de poder de compra (ppp), em US$, o gráfico correspondente, um quadro em Excel com a taxa média de crescimento do PIB (1980-2006) e um gráfico respectivo com as taxas de variações anuais do PIB a preços constantes.
No que respeita à evolução do PIB, há a destacar as elevadas taxas de crescimento da Irlanda e do Luxemburgo (que foi retirado do gráfico para diminuir a confusão).

Se exceptuarmos a Noruega, por causa do enorme peso do petróleo, e da Finlândia, que teve uma recuperação notável após a queda entre 1990 e 1993 (ver linha azul clara, no gráfico, onde se constata que em 1991 teve um crescimento negativo de 6,4%), os restantes países escandinavos tiveram um crescimento modesto. O gráfico é um pouco confuso, por isso acrescentei um quadro Excel com as taxas médias.
Modestos foram também os crescimentos da França e da Alemanha. A Alemanha, a partir de 1991, teve sempre taxas de crescimento muito baixas. Isso teve a ver com a reunificação, mas também com o modelo adoptado.
Entre os grandes países, o UK era o que tinha o PIB mais baixo em 1980, mas ultrapassou-os a todos entretanto. A taxa de crescimento dos USA é claramente superior à média europeia. A Europa continua assim a divergir dos USA. O Japão tem uma prestação média ligeiramente superior à UE.
De realçar que os pequenos países (da UE) têm tido melhores resultados que os grandes.
O taxa de crescimento do PIB português não está mal situada, mas não reflecte a degradação do seu valor 3,6% na década de 80, 3,3% na década de 90 e 1,3% na década de 2000 (até 2006) e isto porque o FMI estima uma taxa de 1,8% para 2005 (o que me parece difícil) e de 2,3% para 2006, o que me parece muito optimista.
Julgo que os quadros e gráficos são suficientemente elucidativos, dispensando mais comentários.
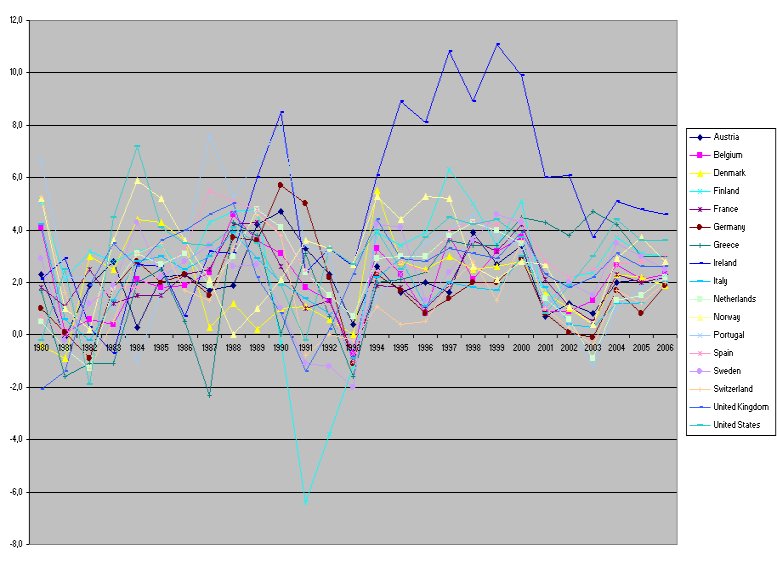
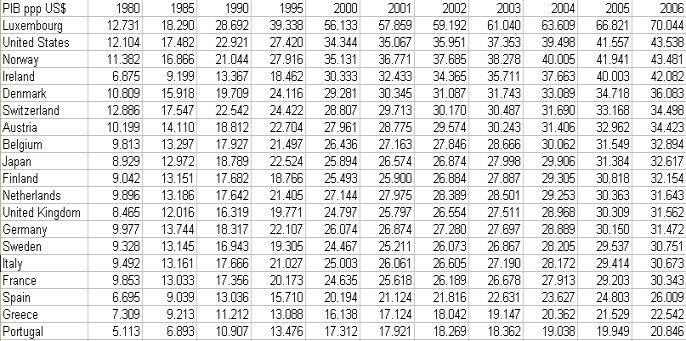
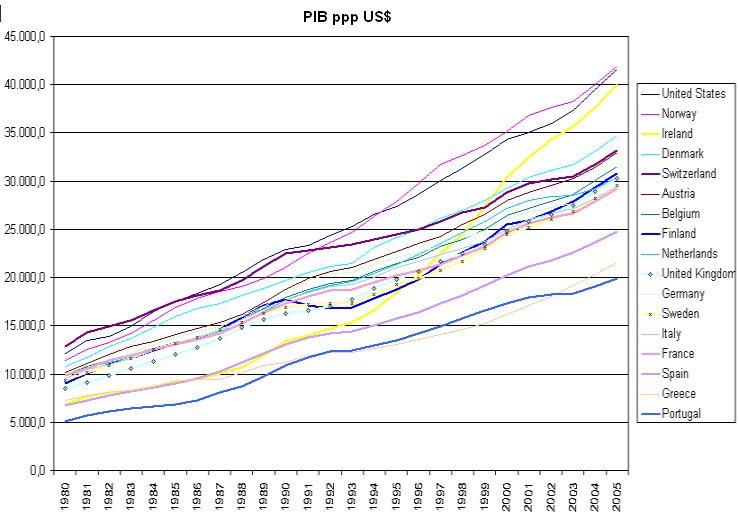
Publicado por Joana às 11:24 PM | Comentários (59) | TrackBack
Sísifo e o Estado 2
Os Dois Paradigmas ou o pedregulho diário encosta acima
Os dois paradigmas em presença na UE são: 1) a manutenção do peso do Estado na economia ou 2) a sua redução progressiva até que o seu papel seja, fundamentalmente, o de regulador. O paradigma 1), baseado no keynesianismo, foi dominante durante as 3 gloriosas décadas e mantém-se pela inércia de hábitos e mentalidades. O paradigma 2) baseia-se nas raízes da economia clássica (Adam Smith) e foi revitalizado pela Escola Austríaca de Hayek e Mises, os neoclássicos de Chicago e pelo liberalismo mitigado de Rawls.
O paradigma 1) baseia-se numa visão distorcida do keynesianismo. Ou melhor, está a aplicar a mesma receita para uma doença que é totalmente oposta. Na grande depressão houve uma crise do lado da procura e uma deflação. Estimular a procura pelo aumento do rendimento disponível nas famílias, através de obras públicas, como estradas, caminhos de ferro, ou mesmo pirâmides, aumentava o consumo e criava escoamento para a oferta excedentária das fábricas, o que provocaria uma dinamização do sector produtivo e a retoma do emprego privado. A guerra de 1939-45 não permitiu chegar a perceber se as prescrições de Keynes teriam ou não resultados sustentáveis. Economistas neoliberais garantem que não. Alguns afirmam mesmo que a retoma americana do tempo da New Deal não foi causada por aquela receita. Na sequência da guerra, as 3 gloriosas décadas impediram igualmente que se percebesse a validade ou não do modelo keynesiano. Ele manteve-se como uma verdade indiscutível, ensinada em todas as universidades. Keynes havia morrido em 1946 e nunca se saberá se ele manteria as suas teses numa conjuntura económica completamente diferente.
É preciso fazer justiça a Keynes. Ele foi um economista extraordinariamente lúcido. Em 1919 publicou um estudo sobre as consequências económicas da guerra (e dos tratados de paz) que se revelaram proféticas. As receitas que preconizou na década de 30 surtiram efeito na época. Ninguém sabe o que ele preconizaria na década de 80. Sabemos apenas que as receitas dos seus epígonos, que cristalizaram o seu pensamento, foram um desastre. Contestar o keynesianismo não é o mesmo que contestar Keynes.
O estudo a que fiz referência no texto anterior comparou a evolução da Bélgica (país dos autores do estudo) e da Irlanda. São dois países relativamente próximos em dimensão, ética laboral e níveis de qualificação e desenvolvimento. Mas são países que, a partir de certa altura, divergiram completamente nas suas políticas económicas e financeiras. A Irlanda tornou-se um dos exemplos do paradigma 2), enquanto a Bélgica se manteve como um dos muitos exemplos do paradigma 1).
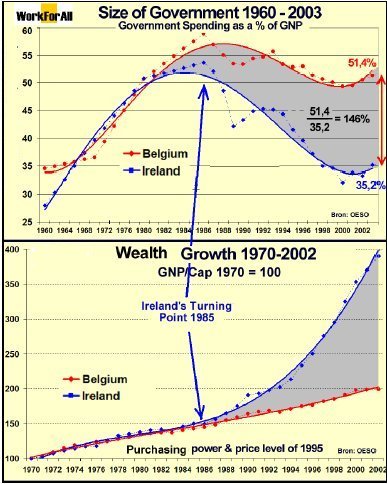
Até 1985 os dois países tinham trilhado caminhos idênticos em matéria de política económica e financeira e obtido um fraco crescimento económico, embora a Irlanda, que havia partido de uma situação mais desfavorável, tivesse um PIB cerca de 65% do PIB Belga e uma taxa de desemprego de 17% (10% na Bélgica). A partir de 1985 a Irlanda mudou completamente a política financeira. Em 3 anos a despesa pública foi diminuída de 20% e a carga fiscal aliviada radicalmente. A partir daí o crescimento irlandês situou-se, em média, nos 5,6% ao ano (entre 1985 e 2002), enquanto o crescimento belga se manteve nos 1,9% ao ano. Em 2003 a despesa pública constituía 51,4 do PIB Belga, enquanto na Irlanda tinha recuado para 35,2%.
A Bélgica tentou estimular a economia sem alterar o peso do Estado, com o método dos pequenos passos, agora reeditados por Sócrates e aclamados pela nossa comunicação social como medida de elevada clarividência. O resultado viu-se um crescimento muito fraco e uma economia sem perspectivas.
O gráfico que se apresenta comparando a variação do peso do Estado e o crescimento entre os dois países ao longo do período 1980-2002 é muito sugestivo, pela diferença de ritmo de crescimento, a partir do ano em que houve inflexão da política irlandesa. A partir de 1985 o ritmo de crescimento da economia irlandesa foi impressionante, quando comparado com o crescimento belga (ou da UE em geral). Em 1985 a Irlanda era o 3º país mais pobre da UE15 e tornou-se o 2º mais rico (depois do Luxemburgo!).
Os gráficos em questão partem da base 100 em 1970. Nessa época a Bélgica era muito mais rica que a Irlanda. Nos dois gráficos seguintes apresento a evolução do PIB a preços correntes e do PIB a paridade do poder de compra (ppp) entre 1980 e 2004 para os dois países. De notar que o crescimento muito rápido do PIB a preços correntes, entre 2002 e 2004, deveu-se à desvalorização do dólar face ao euro. Foi um incremento nominal e não real. Os valores que apresento foram retirados das bases de dados do FMI.
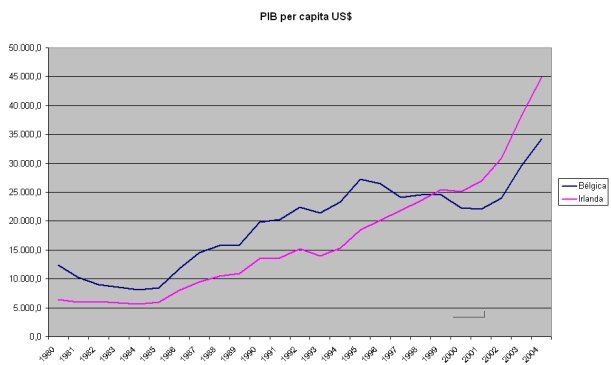
E no gráfico seguinte o PIB, em US$, em termos de paridade de poder de compra (ppp):
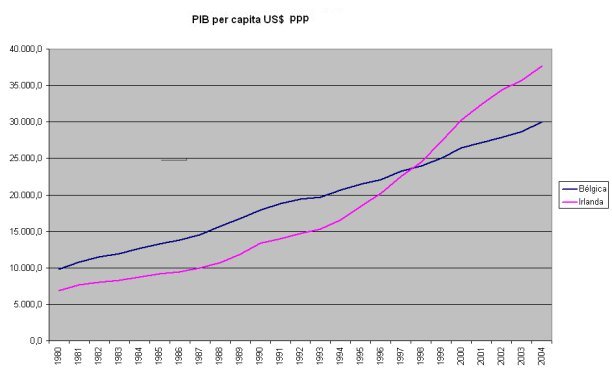
Alguns dirão que houve influência dos investidores americanos, nomeadamente da comunidade irlandesa. Certamente que houve alguma influência. Mas o capitalismo não tem pátria. Se o proletariado se proclama internacionalista, só por hipocrisia se exigiria o inverso aos capitalistas. Muitos empresários portugueses têm transferido as sedes sociais de algumas das suas empresas para países com um sistema fiscal menos penalizador. E tudo indica, se a política actual prosseguir, que esse processo irá continuar. Portanto, a maioria dos investimentos americanos na Irlanda foi fruto da atractividade que esta oferecia e não aconteceu por motivos sentimentais ou patrióticos.
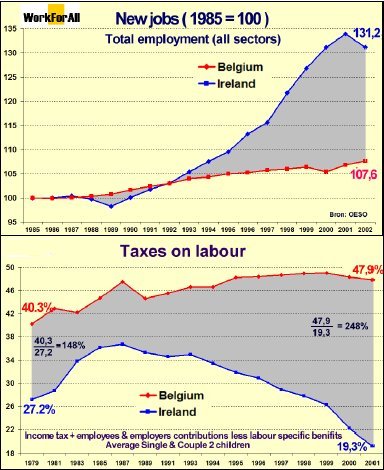
Ainda mais esclarecedora é a diferença de performance das duas economias em matéria de criação de emprego, comparando essa criação com os encargos fiscais sobre o factor trabalho. Entre 1985 e 2001 a Irlanda diminuiu esses encargos fiscais sobre os salários de 37% para 19,3%, enquanto a Bélgica manteve aqueles encargos praticamente constantes (passou de 46% em 1985 para 47,9% em 2001). Os encargos fiscais sobre o factor trabalho desmotivam todos os agentes económicos envolvidos. Desmotivam os empresários que se retraem na oferta de emprego e desmotivam os trabalhadores a fazerem qualquer trabalho suplementar.
A disparidade foi abissal. A partir de 1985 a Irlanda criou 31,2% de novos empregos, enquanto que a política de pequenos passos belga e de subsídios à criação de empregos, apenas produziu mais 7,6% de empregos, muitos dos quais no sector público! Seria um excelente aviso para Sócrates e Campos e Cunha se estes estivessem capazes de raciocinar, atarefados como estão, a contar pelos dedos os números do OR, que nunca mais batem certo.
Em 1985 a taxa de desemprego na Irlanda era de 17% (10% na Bélgica); em 2003 era de 4,6% (8% na Bélgica). Uma taxa de 4% representa o chamado desemprego friccional, o desemprego associado à rotação do factor trabalho. Ou seja, a Irlanda atingiu o pleno emprego.
O mais paradoxal em todo este percurso, é que, actualmente, o Estado irlandês dispõe de mais recursos que o Estado belga e consegue distribuir, em valor absoluto, mais recursos pela sua população, visto que a Irlanda é 31% mais rica que a Bélgica!
Ou seja, ao reduzir o peso do Estado na economia, a Irlanda encetou um percurso que, em 20 anos, a levou a ser o 2º país mais rico da UE (ou 1º, se não entrarmos em conta com o Luxemburgo, que é demasiado pequeno para constituir termo significativo de comparação), com pleno emprego, e com uma capitação da despesa pública semelhante à belga, conseguida pelo aumento da sua riqueza e não pelo aumento do peso do Estado, que se mantém nos 35%.
Publicado por Joana às 07:31 PM | Comentários (50) | TrackBack
Sísifo e o Estado
Ou o Peso Insustentável do Estado
A questão do peso do Estado na economia tornou-se o tipo de querela circular, em que regressam sempre ao local de partida, o que faz de mim uma émula de Sísifo. Sísifo era um herói grego que empurrava sem descanso um rochedo até ao cume de uma montanha. Enquanto repousava, a pedra rolava de novo pela encosta abaixo, até ao sopé da montanha. Não há castigo mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança.
Porque, ao que parece, tratou-se de um castigo de Zeus. Mas não, eu não acredito que, Zeus, lá dos Campos Elísios de onde pontifica, teria razão alguma para me punir assim (e daí ). Foi no Hades que essa punição ocorreu. Mas se no Hades era a gravidade que fazia rolar o pedregulho, neste blogue são alguns comentaristas cuja iliteracia não lhes permite captar os conceitos ou, pior, que sofismam as questões para responderem ad latere. No dia seguinte, quando abro o Semiramis, encontro o pedregulho no sopé do blogue
No início de Maio, apresentei, em «Estado e Desenvolvimento 1 e 2», um estudo que mostrava que o peso do Estado num dado momento, medido em percentagem do PIB, influencia negativamente o crescimento subsequente e que quanto maior é o ritmo do crescimento do peso do Estado, maior é a desaceleração do crescimento económico. Ou seja, o crescimento económico é entravado pelo peso do Estado e pela rapidez com que esse peso aumenta. E estes resultados eram confirmados por um outro resultado que mostrava que o investimento reage negativamente ao peso do Estado.
Aliás, todos os estudos que têm sido realizados mostram uma forte correlação negativa entre o crescimento e a carga fiscal. Esses estudos foram ganhando maior precisão a partir do início da década de 90, quando se começaram a dispor de séries temporais mais longas e foram possíveis estabelecer comparações entre um maior número de países, expurgadas de efeitos marginais. Hoje vou apresentar alguns resultados de um estudo apresentado pela WorkForAll, em Março de 2005.

Esses resultados indicam que os dois factores principais que causam uma baixa taxa de crescimento são o excesso de despesa pública e uma estrutura fiscal excessiva sobre o trabalho impostos e encargos sociais líquidos. Em 25 causas possíveis que o estudo referido examinou, aqueles dois factores foram os que tinham maior impacte. Muito mais importante que o nível de educação e que a estrutura etária da população. Outra das constatações foi que um aumento do défice público ou uma baixa das taxas de juro não tinham qualquer efeito sobre o crescimento. Este resultado é importante numa altura em que alguns políticos, embora cada vez menos, insistem nas virtudes do défice como motor do crescimento da economia.
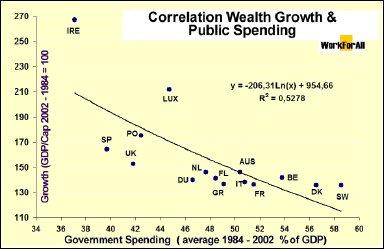
Estes dois gráficos que relacionam o crescimento com a despesa pública e o ónus fiscal sobre o trabalho são extraordinariamente elucidativos. A despesa pública explica, ceteris paribus, 53% do crescimento económico e o ónus fiscal sobre o trabalho explica, ceteris paribus, 72% do crescimento económico. Ambos pela negativa. Estes resultados são significativos e são similares a um estudo que o FMI havia realizado para a Áustria, em Julho de 2004, embora os sacerdotes do Moloch, que normalmente vivem à custa das vítimas deste, prefiram refugiar-se na sua fé, que lhes serve de álibi, os transporta ao Nirvana divino e os tranquiliza sobre as suas responsabilidades para com a comunidade e para com as vítimas espoliadas.
Amanhã, enquanto espero que o Campos e Cunha acerte as contas do OR monstruoso, que nos vai afundar mais na recessão económica, analisarei mais alguns aspectos que considero relevantes sobre esta questão.
Por falar em Campos e Cunha, se este orçamento tivesse sido apresentado pelo governo de Santana Lopes, quantas dezenas de economistas (com a Teodora à cabeça) e fazedores de opinião já teriam sido chamados a Belém? Quantas horas de emissão, de jornalistas estarrecidos com tanta trapalhada, teriam decorrido? Quantas centenas de milhares de caracteres insultuosos e trocistas se teriam derramado pelas páginas dos jornais?
Ler ainda:
Sísifo e o Estado 2
Sísifo e o Estado 3
Estado e Desenvolvimento 1
Estado e Desenvolvimento 2
Publicado por Joana às 12:08 AM | Comentários (55) | TrackBack
junho 26, 2005
Portugal, a UE e Blair
Portugal tem com a UE uma relação perversa. Para a maioria, a UE é uma espécie de Pai Natal que põe prendas no "sapatinho": Auto-estradas, abastecimento de águas, redes de saneamento, cursos de formação que são uma forma sub-reptícia de mascarar o desemprego real, etc.. Para outros, poucos, é, principalmente, um Pai Real, de todos os dias, que impõe regras de despesa e que impede que o miúdo compre tudo o que vê nas montras, sem cuidar do dia seguinte. Uns esperam dela o ouro do Brasil, outros esperam que ela sirva de tutor a um povo indisciplinado e que vive de ilusões e de freio a políticos sem competência e sem rigor.
Foi o gongue do FMI que nos salvou do descalabro desencadeado pelo PREC e sustentado depois por políticos populistas e incapazes. A tutela externa fez com que fossem possíveis algumas medidas correctoras delineadas por Ernâni Lopes e assinadas por Mário Soares, na Portela, entre uma chegada e uma partida de avião. Foi o gongue da infracção das regras do PEC que nos salvou do KO guterrista e que, se não foi suficiente para se reformar o Estado português, pelo menos permitiu garrotar alguns custos e travar o delírio despesista.
Agora, mais uma vez fomos salvos pelo gongue do PEC, quando nos aprestávamos a viver no mundo de ilusões criado pela campanha eleitoral de Sócrates. Com o actual orçamento rectificativo, Sócrates não cumpriu duas promessas eleitorais: uma, a de não aumentar os impostos; outra, a de não falar do passado, porquanto perante um OR onde a despesa pública é superior a metade do PIB (50,2%), o seu argumento foi que o OE 2005 era um embuste.
Ora este OR é igualmente um embuste. A eficiência fiscal é uma operação de marketing de Paulo de Macedo. Muitas das liquidações adicionais que as Direcções de Finanças andam a enviar, atrabiliariamente, aos contribuintes, resultam de erros das bases de dados e dos sistemas informáticos dos serviços, ou apenas de incúria dos serviços. Daqui a 2 ou 3 anos ainda estarão a discutir a veracidade de muitas das notas de liquidação.
O repatriamento de capitais é uma ilusão. Portugal não é atractivo aos capitais por várias razões, sendo a principal o facto de o Estado não ser uma pessoa de bem. O Estado português habituou-nos a mudar constantemente as regras do jogo. Muda-as a meio do campeonato. Quem se arrisca a repatriar capitais, quando não sabe se daqui a algum tempo o governo não aparece com uma lei que os vai penalizar? Ninguém confia num batoteiro.
Privatizações e venda de imóveis estão fora de causa. Há espaço para mobilização de poupanças de pequenos accionistas, mas os investidores graúdos, na actual situação económica, só estarão interessados se os preços das acções forem muito convidativos, o que significa vender abaixo do valor real. Quanto ao imobiliário, as aparições desastradas de Eduardo Cabrita foram o golpe de misericórdia. Se estava estagnado, agora vai a pique.
No que respeita às receitas dos novos impostos, a quebra de consumo, a evasão (haverá, por exemplo, cada vez menos particulares a pedirem facturas por obras ou serviços) e o contrabando vão fazer com que os valores sejam mais baixos do que os expectáveis. A estagnação económica e o aumento lento, mas sustentado, do desemprego vão reflectir-se negativamente nas arrecadações fiscais e no aumento de transferências sociais.
O problema central em Portugal continua a ser o da dimensão do Estado, quer em efectivos quer, principalmente, no descontrolo dos custos. Ora, se exceptuarmos medidas de impacte mediático e de importância moralizadora, mas de reduzida influência na despesa pública, nada mais foi anunciado. Bruxelas igualmente considerou que não havendo medidas importantes no lado da despesa, as medidas do presente OR não conduzirão a um resultado sustentável. Todavia os nossos líderes políticos, e os fazedores de opinião que os apoiam, consideram que isso são manias de burocratas desligados das massas, incapazes de compreenderem os anseios populares.
Têm razão. Mas a sua razão é o seu desatino. Porque a existência desses eurocratas permitiu-lhes tomar medidas que nunca tomariam se não fossem as exigências desses eurocratas desligados das massas. Servem-lhes de desculpa. Todavia, a situação do país é de tal forma calamitosa e as medidas a tomar tão gravosas para muita gente, que o governo teme ir mais longe porque receia as consequências, mesmo desculpando-se com as exigências de Bruxelas e o embuste do OE2005.
E não é apenas uma questão de temer. É igualmente uma questão de competência. A reforma da administração pública não se faz com despedimentos cegos. Faz-se reestruturando os serviços e os procedimentos, avaliando, em função dessa reestruturação, quantos e quais os efectivos que necessita, quais os que pode ou deve transferir para outros serviços e quais os que estão realmente a mais. Se esta é uma tarefa complexa numa empresa com centenas ou poucos milhares de efectivos, o que será num sector com 750 mil efectivos.
É nesta conjuntura que muda a presidência da UE. No próximo semestre essa presidência cabe à Grã-Bretanha e a Tony Blair. Tony Blair saiu-se bem na questão do cheque britânico. Não disse que não, mas pediu como moeda de troca o fim progressivo da PAC. Se inicialmente estava isolado, Blair rapidamente congregou alguns apoios. E se os novos países do Leste não o apoiaram foi apenas porque o falhanço da cimeira protelou a resolução da questão da obtenção dos fundos estruturais de que eles necessitam urgentemente. Mas certamente que o apoiarão, visto a PAC ser obsoleta e servir fundamentalmente os interesses dos agricultores franceses, espojados nas delícias de Cápua dos subsídios.
O discurso de Blair foi claro e abriu uma porta numa Europa em crise de identidade. Salientou que é preciso investir mais na educação, na ciência, na investigação, no desenvolvimento e nas tecnologias, gerando novos empregos, e não numa agricultura que consome 40% dos recursos da UE. A alternativa, se tal não for feito, é a UE ser ultrapassada pela China e pela Índia dentro de 20 ou 30 anos. A UE deve modernizar o seu modelo, combinando uma elevada competitividade com a protecção social.
Tony Blair não tem a seu favor apenas as palavras que proferiu. Tem atrás de si o exemplo da economia britânica a crescer e o desemprego a diminuir, numa altura em que na maior parte dos Estados europeus as economias estagnam e o desemprego cresce sem cessar. Quando lhe falam encomiasticamente do Modelo Social Europeu, pergunta que modelo é esse que se traduziu entretanto em 20 milhões de desempregados?
O programa de Blair, admitindo que as palavras dele correspondam a uma intenção firme, vai em sentido contrário aos conceitos que nos moldaram, nos modelos estatizantes em que temos vivido. A Europa continental, principalmente a do sul, conceptualmente mais distante daquilo que Weber definiu como a ética protestante, não se sente confortável quando confrontada com um programa económico mais liberal. Prefere acomodar-se a um estatismo mais tranquilo. Todavia esta preferência deixou de ser uma alternativa viável com a economia global a Europa, ou arrisca na inovação tecnológica e nas áreas em que a sua qualificação lhe confere vantagens comparativas, ou envereda por um projecto de empobrecimento contínuo e deixa-se ultrapassar por outros.
A presidência britânica pode ter efeitos positivos em Portugal. Blair e Sócrates pertencem à mesma família política. Sócrates pode ser seduzido pelo exemplo britânico e decidir arriscar mais. Certamente que se arriscar mais, o PS será pesadamente derrotado nas autárquicas e Cavaco terá o caminho livre nas presidenciais. Mas Cavaco, se Sócrates executar uma política de rigor na despesa pública, não lhe tirará o tapete debaixo dos pés, não reeditando o exemplo de Sampaio. Portanto, Sócrates terá toda a legislatura para reformar o país e recolher os primeiros dividendos dessa reforma.
Se não o fizer, é provável que as autárquicas corram melhor ao PS, mas a derrapagem económica é inevitável com esta política. Daqui a 4 anos estaremos pior do que agora, com mais desemprego, mais impostos, mais défice e mais longe da solução. Sócrates terá que escolher: ou uma pesada derrota autárquica, ou uma pesada derrota legislativa dentro de 4 anos ... ou antes, se a situação económica e política se degradar em demasia e o novo presidente julgar preferível eleições antecipadas.
Publicado por Joana às 10:08 PM | Comentários (121) | TrackBack
junho 22, 2005
A Descida do Maelstrom
Portugal está numa situação gravíssima, e não seriam necessárias as notícias de Bruxelas para o sabermos, se não fosse a nossa pecha para vivermos de ilusões. Ela é muito grave, pelo estado em que se encontram a nossa economia e as nossas finanças, mas é sobremaneira grave pela nossa postura face a essa situação. Estamos a descer ao abismo, mas debatemo-nos de forma tão canhestra, que nos afundamos sempre mais, agarrados uns aos outros, puxando uns pelos outros. Faz falta uma equipa de nadadores salvadores adestrada, que comece por distribuir tabefes por todos os náufragos, para estes caírem em si e agirem no sentido da sobrevivência e não do aniquilamento mútuo. Um dos náufragos, o PR, deu ontem um exemplo típico do caos mental que reina entre nós, da forma como nos debatemos arrastando os outros para o fundo e da nossa total incompetência institucional.
As declarações e pareceres de Bruxelas sobre o PEC apresentado pelo governo português vão no mesmo sentido do que aqui foi escrito por diversas vezes e das opiniões emitidas por diversos economistas independentes.
Em primeiro lugar as medidas são muito insuficientes. Como escrevi aqui diversas vezes, são emblemáticas no sentido de uma maior equidade social de direitos e deveres, mas não vão ao âmago da questão.
Em segundo lugar o aumento dos impostos é uma medida perversa: Diminui a competitividade da economia e o aumento da massa colectável é sempre inferior às expectativas, quer por travagem da actividade económica, quer pelo Efeito Say Um imposto exagerado faz decrescer a base sobre que incide. Demasiado imposto mata o imposto. E foi Bruxelas quem chamou a atenção para esse facto. Quando eu aqui referi esse fenómeno houve comentaristas que consideraram que eu estava a pactuar com os infractores ...
Quanto aos resultados da intensificação à evasão fiscal, Bruxelas riu-se disso. Em primeiro lugar porque tal deve ser uma política normal de qualquer Estado civilizado e de Direito; em segundo lugar porque os efeitos desse combate são sempre muito inferiores às expectativas. Há estimativas sobre o valor da evasão fiscal entre nós e não se afastam da média da Europa do Sul. A evasão fiscal é uma arma que tem sido brandida pelos sindicatos para tentarem criar na opinião pública uma imagem que a sua eliminação é a panaceia para sustentar a hipertrofia estatal. Bruxelas tem a experiência das políticas dos Estados-membros e não vai em conversa fiada.
Finalmente Bruxelas insiste na tecla da diminuição da despesa pública e dá exemplos do excesso da despesa na Educação e na Saúde. Enquanto Portugal não apresentar um programa de diminuição sustentada da despesa pública, os PECs que o nosso governo apresentar em Bruxelas carecem de credibilidade. Esse é o âmago da questão e o terror do governo. Se com estas medidas tíbias, concita tanto protesto, o que será se enveredar por medidas mais consistentes? Mas tem que reconhecer que tem sorte se fosse um governo de centro-direita a anunciar estas medidas seria uma tempestade muito maior, agravada pelo facto dos actuais proponentes das medidas estarem agora a protestar furiosamente contra elas.
Bruxelas passa ao largo dos disparates que os nossos políticos dizem em colóquios, conferências, comunicações televisivas, conversas de café e suspiros íntimos; não ouve as elucubrações de analistas no desemprego político e de políticos no desemprego analítico. Desconhece o caos mental de Metelo, o simplismo de Delgado e a untuosidade balofa de AJ Teixeira.
Felizmente que somos um país periférico, pois se Bruxelas andasse a par das tontices que são ditas por políticos que deviam agir com responsabilidade, e por analistas, que deviam comentar com discernimento, concluiria que éramos um caso perdido.
Sobre estas questões ler, p.ex., neste blog:
Entregues ao Altíssimo
Poeira ou Descontrolo?
O Manto diáfano da inacção
Publicado por Joana às 07:03 PM | Comentários (148) | TrackBack
junho 17, 2005
A Espanha tão perto e tão longe
A Espanha tem cerca de 2.350 mil funcionários públicos, o que representa 5,7% da população do país. Essa percentagem, em Portugal, é de 7,5%, mais 31% que em Espanha. O governo socialista espanhol está a estudar um plano para reformas antecipadas do funcionalismo público visando uma diminuição dos seus efectivos e o seu rejuvenescimento. Enquanto isso, um Comité de expertos para la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público está a ultimar um anteprojecto para desenvolver um sistema retributivo vinculado ao rendimento do trabalho.
O texto deste anteprojecto do Estatuto del Empleo Público diz que "Es esencial que se consiga superar definitivamente la vieja idea de que la Administración paga lo mismo a sus funcionarios con independencia de cómo realicen su trabajo. Las retribuciones en las Administraciones públicas no pueden desligarse de la evaluación del desempeño o rendimiento de los empleados públicos" O estudo recomenda uma avaliação periódica da produtividade do funcionalismo, seguida, sempre e quando esta seja negativa, de mudanças de posto de trabalho, despromoções e perda do complemento de produtividade.
Estes dois parágrafos mostram a distância que separa os dois países e que, tudo o indica, continuará a aprofundar-se. O Estado espanhol é mais eficiente que o nosso, pelo menos faz melhor (na educação e na justiça, pois no resto não sei), com menos gente. Mas não está satisfeito com isso. Em Portugal, onde a situação é muito pior, tímidas reformas são diabolizadas pelos sindicatos. É certo que o anteprojecto espanhol não está a ser visto com bons olhos pelos sindicatos e o ministro já fez algumas declarações contraditórias, mas o grau de contestação não se compara com o português, embora me pareça que os sindicatos portugueses irão ter muito menos apoio do que julgam.
No que respeita às reformas há algo que gostaria de acrescentar. Em primeiro lugar o regime do sector público tem que ser igual ao do sector privado. São uma injustiça as actuais diferenças. Em segundo lugar sou contra o aumento da idade da reforma para além dos 65 anos. Acho que quem quiser continuar a trabalhar deverá poder fazê-lo (se a entidade empregadora estiver pelos ajustes) e ter incentivos financeiros para tal. Todavia, o que se verifica no sector privado entre as empresas mais competitivas, é que há uma permanente necessidade de refrescamento dos quadros intermédios e de topo.
Dependendo dos casos, os técnicos a partir dos 55 a 60 anos já não estão, normalmente, adequados ao esforço anímico que a competição requer. A política que se utiliza é a de os colocar em cargos onde o seu know-how e a sua experiência são muito úteis, sem perda de regalias ou de vencimentos, mas distantes da selva agreste das corridas contra o tempo que se exige às chefias intermédias ou de topo. Isso acontece em todos os grupos economicamente agressivos e competitivos e que tenham suficiente dimensão para fazerem essa política. E é muito frequente, há décadas, nos países mais desenvolvidos.
Esta política permite igualmente abrir espaço para a progressão dos quadros mais jovens e dar esperança, a essa camada, de ter uma carreira à frente que só depende do seu dinamismo e criatividade e que não está tapada por chefias cristalizadas e inamovíveis.
É assim que uma empresa que pensa no seu futuro gere os seus recursos humanos e não manter os funcionários, de uma forma cega, agarrada aos seus postos de trabalho.
Publicado por Joana às 02:50 PM | Comentários (121) | TrackBack
junho 05, 2005
Entregues ao Altíssimo
Campos e Cunha confirmou na AR um quadro recessivo para os próximos tempos. E disse à AR, e a todos nós, que a saída das dificuldades presentes só é possível com o crescimento da economia. E afirmou ainda que os tais 150 mil postos de trabalho perdidos nos últimos três anos, e cuja recuperação era uma das promessas eleitorais do PS, não vão poder ser recuperados no espaço desta legislatura. Todavia as medidas que propôs muito insuficientes do lado da despesa e danosas para a economia do lado da receita significam que o ministro não apresentou um programa político. O ministro entregou-se, e entregou-nos, à misericórdia divina.
A única forma sustentável de combater o défice é fazer diminuir a despesa pública. Combatê-lo pela via do aumento de impostos tem efeito matematicamente positivo no curto prazo, mas a médio prazo é contraproducente. Diminui a competitividade da economia, aumenta o desemprego, faz diminuir a base de incidência fiscal e acaba anulando os efeitos inicialmente positivos, deixando as finanças e a economia do país numa situação pior que a anterior. Foi o que aconteceu nos 3 últimos anos: aumento do IVA, congelamentos salariais na função pública, afirmações ad terrorem da ministra das Finanças, etc., não surtiram efeito. Apenas desaceleraram o aumento do défice.
O congelamento dos vencimentos da FP também não é suficiente, e provavelmente é contraproducente, pois não permite distinguir o mérito do demérito e incentivar a dedicação e o desembaraço. A maioria dos gastos deve-se à desorganização e burocracia dos serviços. Além disso há um excesso de efectivos. É um escândalo o ministério da Agricultura ter 1 funcionário por cada 4 agricultores. A Educação terá 30% a 40% de funcionários a mais, entre professores e pessoal auxiliar. As estatísticas dizem que temos, em termos relativos, mais juízes, magistrados e funcionários judiciais que qualquer outro país europeu. Os gastos excessivos da saúde comparados com os serviços que presta indiciam uma enorme desorganização dos serviços e a incapacidade de manter na ordem alguns lobbies internos deste sector.
Esta situação é insustentável, pois se baseia no aumento progressivo das taxas de impostos que leva, com a degradação da economia, a uma progressiva diminuição das receitas fiscais. Campos e Cunha não pode comparecer no hemiciclo, fazendo apelos ao crescimento da economia, propondo todavia medidas que constituem, parcialmente, um obstáculo a esse crescimento. O apelo de Campos e Cunha é matéria de fé, não é matéria da razão.
Há um cenário eventualmente possível a médio prazo. A manutenção do sector estatal, com a sua actual dimensão, com os seus custos de funcionamento e com o péssimo serviço que presta é, como se viu, um empecilho ao desenvolvimento. Já que tanto mentiu em campanha e como não se tem saído mal com isso, Sócrates terá condições para se apresentar, daqui a alguns meses, com todo o descaro, para afirmar perante todos nós que a defesa do Estado Social de Bem-Estar, que jurou nunca mexer, passa por alguns emagrecimentos, aqui e ali. É claro que o emagrecimento do Estado só será possível com uma reorganização simultânea dos serviços e dos procedimentos. Apenas despedir, só conduziria ao caos. E a diminuição dos efectivos deve ser feita de modo a que saiam os que devem sair, e não aqueles que quereriam aproveitar essa possibilidade para saírem, normalmente os mais aptos e diligentes.
Há uma forma de fazer esta operação que talvez tivesse o aval da UE. Um empréstimo público a longo prazo que pudesse custear a rescisão dos contratos poderia ser negociado com a EU como uma despesa estruturante, que não entrasse na contabilização do défice e que pudesse ser, eventualmente, comparticipada. Todavia há um óbice esta medida exige uma elevada competência, não apenas dos membros do governo e dos seus gabinetes, como dos diversos níveis hierárquicos das chefias, a começar pelo topo. Esta elevada competência não é compaginável com a enxurrada de boys, à média de 10 por dia, que este governo tem promovido. Não é compaginável com as nomeações que este governo tem feito para os CA das empresas que tutela. Não é compaginável com nódoas políticas, com porta-vozes desqualificados, com aparitchicks mafiosos, com coelhones, etc..
E a ironia maior é que a individualidade mais competente do governo está sob fogo da populaça por questões éticas. E essa ironia é mais curiosa porque a devassa a que está a ser sujeito era um dos pilares que ele estava a erigir para combater a evasão fiscal através da delação pública, do voyeurismo invejoso dos rendimentos de outrem. Campos e Cunha, economista competente, deve ter agora aprendido que a cidadania e o sentimento do social não se exercitam com apelos à delação, mas pela pedagogia, principalmente pela pedagogia política de um Estado que se deve comportar para com os seus cidadãos como pessoa de bem. Demora décadas, mas é assim que se faz. E como demora décadas, deve-se começar já.
Um Estado péssimo pagador, que dá pouco em troca de muito, é um mau pedagogo político. E se convidar à delação é um pedagogo ainda menos convincente.
Ler também:
OE2006 e OE2007
A Cigarra e o Coelhone
Waterloo a Prazo
Orçamento Auto-regenerável
Publicado por Joana às 09:30 PM | Comentários (31) | TrackBack
junho 02, 2005
As Fauces do Moloch - Notas
Os posts sobre as Fauces do Moloch (aqui e aqui) destinavam-se a mostrar a punção fiscal que pesa sobre a população portuguesa, nomeadamente sobre a classe média que é o suporte da democracia e do equilíbrio social. Mostrei que a punção fiscal sobre essa classe é enorme, mas que só uma parte é sentida directamente. A outra, não menos despicienda, é feita de uma forma que não tem visibilidade para o cidadão comum. A soma das duas é enorme e isso aterrorizou o cidadão vulgar e indignou aqueles que são os devotos incondicionais do Estado.
A indignação dos devotos incondicionais do Estado não resultou do imposto excessivo, explícito ou implícito, que pagamos. Resultou que isso viesse a público. Ninguém contestou os números, exceptuando o Discovery do executivo rico, ou o custo da habitação, sugerindo que aqueles quadros técnicos fossem viver para bairros problemáticos. Mas é interessante verificar que um técnico ganhando mais de 800 contos mensais, não chega ao Discovery.
Outros sugeriram que, se a carga fiscal é muito menor nos EUA, os serviços públicos são aí deficientes, ou omissos, e que a classe média americana gasta o remanescente recorrendo aos privados. Infelizmente em Portugal sucede o mesmo, apesar de uma punção fiscal incomparavelmente maior. Embora muitas vezes, na Saúde, os privados não tenham os mesmos equipamentos, prestam imediatamente cuidados ao doente e não o sujeitam a listas de espera de um ou mais anos. Portanto em Portugal a carga fiscal é muito mais elevada e as contrapartidas insuficientes e de pior qualidade.
Os valores que eu apresentei são consistentes com o tipo de consumo normal em quadros técnicos com aquele estatuto. Mas o essencial reside no facto de, logo à partida, antes de levarem o dinheiro para casa, entre 43% e 50% do valor do seu trabalho ser objecto de punção fiscal. Essa é a parte mais substantiva. A partir daí depende do cabaz de consumo. Se será 60%, no mínimo dos mínimos, ou 72%, a diferença tem algum valor, mas o significado é claro pagamos impostos excessivos.
Queria acrescentar uma nota. Não podemos deduzir destes exemplos que a sociedade, no seu todo, pague percentagens tão elevadas. Por exemplo, quando aqueles quadros técnicos compram bens sobre os quais incide o IVA de 21%, este imposto está, na realidade, implícito naqueles bens. Todavia, eles só são directamente responsáveis pelo pagamento de 21% sobre o valor acrescentado pelo vendedor. E este por 21% do valor acrescentado pelo grossista, e assim sucessivamente. Se somarmos 21% sobre cada uma das transacções intermédias, duplicamos o valor do IVA para o conjunto destes agentes económicos. É óbvio que o consumidor final vai arcar com todo o imposto, mas na contabilidade nacional não podemos somar todos os IVAs sucessivos, sob pena de duplicar o valor.
O mesmo sucede com a carga fiscal na aquisição da habitação. Aquele valor incorpora 45% de impostos. Mas estes impostos já foram pagos pelos diversos intervenientes da cadeia de produção. É um facto incontornável que essa carga fiscal onera, com aquela percentagem, o custo da habitação para um cidadão. Todavia não podemos somar, para o conjunto da actividade económica, aqueles impostos, porque os estamos a duplicar.
Uma outra nota foi sobre uma observação de um comentarista acerca do facto de parte do custo da mensalidade do empréstimo conter os juros bancários. O resultado não é afectado, ao contrário do que o comentarista supõe. É como se o quadro técnico do exemplo contraísse dois empréstimos: um para pagar o custo da habitação sem impostos, e outro para pagar os impostos incorporados no custo da habitação. Pensem nestes juros, como juros de mora pelo pagamento de um imposto a 30 anos. Apenas as comissões bancárias (deduzidas da respectiva carga fiscal) deveriam ser excluídas.
E há mais vida, para além daqueles quadros técnicos ... seria melhor para todos se o Estado fosse menos dispendioso, menos burocratizado, mais ágil nos procedimentos administrativos e na aplicação da justiça, porque assim melhoraria em muito o ambiente económico em que laboram as empresas: menos impostos, menos atrasos dispendiosos causados pela burocracia paralisante, cobrança atempada de dívidas devida a uma justiça mais rápida, etc.. É esse ambiente que gera emprego e desenvolvimento.
Finalmente, não foi minha intenção preconizar o desmantelamento do Estado, como alguns sugeriram. Foi apenas mostrar que temos uma carga fiscal excessiva, que o que recebemos em troca é pouco e de má qualidade e que não é possível que o país continue assim. Todos nós, como escrevi, viveríamos melhor se o Estado fosse mais eficiente, prestasse melhor serviço, e emagrecesse. Todos os rácios internacionais indicam que, face à UE, temos um Estado com efectivos a mais e que, apesar disso, presta serviços piores.
Quando se argumenta esta verdade reconhecida internacionalmente, gritam que queremos desmantelar o Estado. Não é um argumento, é apenas uma tentativa canhestra, mas demagógica, de intimidar o interlocutor e arregimentar para as suas hostes todos os potenciais membros do Partido do Estado, como lhe chamou Medina Carreira.
Todavia o que está em jogo não são esses gritos estultos. O que está em jogo é saber se o Estado começa a ser emagrecido agora, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, etc.. Quanto mais tarde, maior será o sofrimento. Mas é inevitável, por muito que gritem.
Publicado por Joana às 09:10 AM | Comentários (42) | TrackBack
junho 01, 2005
Os Familiares do Santo Fisco
Sócrates anunciou na AR, no passado dia 25 de Maio, a intenção do Governo de legislar no sentido de tornar públicas as declarações de rendimentos dos contribuintes. Em recente entrevista, o ministro Campos e Cunha reiterou essa intenção, mas tentou suavizá-la no que toca à quantidade de informação a disponibilizar para o público. A ideia é possibilitar que cada português se possa tornar um informador fiscal. A ideia é regressar à época (1540-1761) que criou os portugueses que hoje temos: invejosos, mesquinhos e maldizentes. A ideia é promover os invejosos a Familiares do Santo OfícioFisco.
A Inquisição não fez muitas vítimas em Portugal. Os que foram relaxados em autos-da-fé entre 1540 e 1761 seriam menos de 1.200 (Inquisições de Lisboa, Coimbra, Évora e Goa). Muito menos que as vítimas das revoluções inglesas do século XVII que liquidaram o absolutismo e o equivalente a um mês do Terror Robespierrano, quando os jacobinos tentavam impor a Liberdade, Igualdade e Fraternidade a golpes indiscriminados de cutelo da guilhotina. Cerca de 30 mil pessoas passaram pelos cárceres do Santo Ofício e, penitenciados, viram os seus bens confiscados, sendo muitos condenados à prisão perpétua ou ao degredo. Mas mesmo este número é uma ridicularia, quando comparado com as carnificinas ocorridas durante o Terror, ou durante a época de Cromwell.
O efeito mais grave da actuação do Santo Ofício foi tornar Portugal um país de delatores e invejosos. E foi esse efeito a causa da nossa decadência que ainda não conseguimos erradicar. A Inquisição não abrangia apenas o judaísmo. Tinha igualmente como objecto o protestantismo, outras doutrinas heréticas (como o materialismo averroísta), feitiçaria, astrologia, leitura de livros proibidos, bigamia, sodomia, etc.. Este âmbito possibilitava um campo de delação inesgotável.
As vítimas não eram a arraia-miúda. Eram a burguesia comercial e artesanal Mercadores, sapateiros, alfaiates, ferreiros, curtidores, ourives, armeiros, encadernadores, douradores, etc.. Eram os que tinham êxito nos negócios, eram os que despertavam inveja. Os delatores recrutavam-se entre a arraia-miúda e informavam a rede de familiares existente em todo o Reino. Muitas das denúncias ficavam apenas em arquivo e não tinham andamento, mas outras colhiam, nomeadamente quando já havia denúncias anteriores, ou a vítima era apetecível pelos valores confiscáveis.
O que a Inquisição conseguiu foi a destruição do nosso tecido empresarial, a emigração da gente mais empreendedora para fora do país e promover a inveja e a mesquinhez, a virtudes nacionais. Os portugueses de então, ao tentarem satisfazer a sua inveja e mesquinhez promoveram de uma maneira mais eficaz a pauperização da sociedade, do que se realmente o pretendessem fazer. É a Mão Invisível de Adam Smith substituindo a satisfação do seu próprio interesse pela satisfação da sua inveja e mesquinhez. É substituir os neo-liberais por neo-absolutistas. Provavelmente não estaria nas suas intenções, mesmo nas dos mais invejosos obter a estagnação social e económica e o progressivo nivelamento pela miséria geral, mas conseguiram-no. É nisso que poderemos a transformar a sociedade portuguesa. Aliás, ela própria tem caminhado nessa direcção, mesmo sem esta prestimosa ajuda governativa.
A missão da Inquisição portuguesa não era destruir os heréticos, mas fabricá-los. Um simples decreto pombalino eliminou toda a estrutura repressiva do Santo Ofício e a convicção, então generalizada, de que Portugal estava minado de heréticos, cristãos-novos e judeus. Tudo se esfumou no ar, como por encanto.
Os adoradores do Moloch têm posto a correr que o país é um paraíso para a evasão fiscal. Estimativas internacionais indicam que, estando embora acima da média europeia, não estamos todavia piores que alguns países da UE em matéria de evasão fiscal e de economia paralela. O que é um resultado excelente, atendendo à completa ineficiência da máquina do Estado. Se a educação, a justiça e a Saúde funcionam pessimamente e são as piores da UE, só por manifesta falta de equidade para com o cidadão a máquina fiscal funcionaria melhor.
Mas os adoradores do Moloch precisam dessas justificações. A alternativa era pôr em dúvida a dimensão descomunal do Monstro e exigir o seu emagrecimento. E eles vivem dessa gordura excessiva que todos nós alimentamos.
Portanto corremos o risco de se repetir, noutro cenário, aquele espectáculo repugnante que durou 220 anos. E a nova missão do Santo OfícioFisco não será destruir os relapsos fiscais, mas fabricá-los. Como outrora.
Publicado por Joana às 10:20 PM | Comentários (78) | TrackBack
maio 11, 2005
Moloch e a Mão Invisível 2
Ou a Razão do Poder contra o Poder da Razão: 2) Mercado do Arrendamento
Há decisões que o Moloch toma, sempre com as melhores das intenções de justiça social e de protecção aos mais desfavorecidos, conforme os seus sacerdotes nos garantem, que só décadas depois revelam os seus efeitos absolutamente perversos. São mercados onde a Mão Invisível dá inicialmente a ilusão de não os influenciar e, quando nos damos conta, verificamos que esteve a tecer na sombra uma teia tão densa que levou aquele sector de transacções (já nem lhe chamo mercado) a uma situação de total aniquilamento e os bonzos do Moloch à mais absoluta incapacidade decisória.
Numa economia de mercado, os valores dos arrendamentos urbanos deveriam ser estabelecidos pelo equilíbrio da oferta e da procura no mercado imobiliário. Pelo encontro entre o valor que o proprietário acha justo pelo espaço que disponibiliza e o valor que a entidade arrendatária ou o mercado em geral estão dispostos a pagar pela sua utilização. Isto é válido para um arrendamento habitacional ou comercial.
Durante o Estado Novo regulamentou-se o congelamento de rendas em Lisboa e Porto com o intuito de obviar uma eventual especulação imobiliária perante uma oferta então reduzida. No curto prazo, e para mais sendo aquela uma época em que a inflação era quase nula, tanto a oferta como a procura de arrendamento são muito inelásticas, quer pelo lado da oferta, porquanto entre a decisão de construir para alugar e o fim da construção pode decorrer 1 a 2 anos, o que limita a oferta, quer pelo lado da procura, porque a decisão dos potenciais inquilinos depende de diversos factores, incluindo hábitos de vida, que se alteram lentamente.
Ou seja, a fixação do preço abaixo do seu nível de equilíbrio não provocou, no curto prazo, uma disparidade muito pronunciada entre procura e oferta. Contudo, com o aumento da inflação, iniciado no período marcelista e tornado galopante após o 25 de Abril, e com a extensão desse congelamento de rendas ao resto do país, as rendas tornaram-se irrisórias, mesmo depois de ser permitida uma tímida actualização anual, a partir de meados da década de 80.
Portanto assistiu-se a uma queda pronunciada do valor real das rendas ao longo de décadas. Os valores nominais mantinham-se congelados, enquanto os valores reais caíam abruptamente, com inflações que atingiram taxas anuais superiores a 30%. As rendas dos contratos iniciais caíram para valores 50 a 100 vezes inferiores ao seu valor real. Imóveis construídos durante a vigência do congelamento eram arrendados por valores superiores ao custo marginal, porque os senhorios incorporavam um prémio do risco de inflação. Todavia esse prémio era corroído ao fim de três ou quatro anos e a inflação galopante na década a seguir a 1975 tornou inclusivamente essas rendas irrisórias e liquidou o mercado de arrendamento. Deixou de se construir para arrendar.
Mas a acção lenta e inexorável da Mão Invisível não se ficou apenas pelo fim da construção para arrendamento. Com as rendas que recebiam, os senhorios não tinham qualquer interesse em fazer obras de conservação e manutenção. Só a colocação de andaimes custava mais que o montante total das rendas de vários anos. Mesmo quando vagava algum andar, deixavam o encargo da sua reabilitação ao inquilino. A oferta era tão reduzida e a procura tão forte que o inquilino aceitava pagar este prémio ao senhorio.
E o mais perverso é que não foram apenas as rendas habitacionais que foram subtraídas às regras do mercado. As rendas comerciais foram tratadas da mesma forma. Se no caso da habitação se poderia falar de uma necessidade básica, de uma acção de filantropia social que, não tendo o Estado meios para a fazer, encarregava os senhorios, contra vontade destes, de a fazerem, no caso das rendas comerciais, estas são um factor de produção. Não há qualquer filantropia. O seu congelamento equivaleu a um subsídio que os senhorios portugueses, ao longo de décadas, deram, contrariados, à actividade comercial: lojas, escritórios, etc.. Ora uma política cega de subsídios retira incentivos à modernização. O comércio dos centros históricos foi perdendo qualidade relativa, cristalizou, e tem perdido mercado face ao comércio menos central e com maior mobilidade e aos grandes espaços. A degradação da qualidade da actividade comercial nos centros históricos tem igualmente concorrido para a ruína destes e para a sua desertificação.
Portanto, estas intervenções de Moloch, distorcendo o mercado, tomadas sempre com as melhores das intenções de justiça social e de protecção aos mais desfavorecidos, conforme os seus sacerdotes nos garantem sempre, conduziram à degradação do parque habitacional, à ruína dos centros históricos das cidades, à derrocada dos prédios antigos, à opção pela aquisição de casa própria e ao endividamento exponencial das famílias para o conseguirem, à dificuldade prática de uma reforma fiscal moderna do património e à total injustiça social, onde as gerações mais antigas têm casas de rendas irrisórias, enquanto os mais novos têm um ónus terrível em despesas de habitação; onde os senhorios dos prédios antigos estão descapitalizados, sem capacidade de intervirem na reabilitação dos seus prédios, enquanto os senhorios de áreas mais recentes têm rendimentos incomparavelmente superiores, com custos muito menores.
Muitos dos prédios degradados nem sequer têm senhorios conhecidos. Quem consta do registo das Conservatórias já não existe e os herdeiros nunca reclamaram a herança porque provavelmente o Imposto Sucessório (ou o actual IMT) seria muito superior ao valor dos imóveis. A perversão do sistema é total. Meio milhão de fogos (544 mil) estão vagos, dos quais 105 mil para venda e 80 mil para arrendar. Os outros estão simplesmente vagos. Mas em que condições? Porque estão fora do mercado? Terão proprietário conhecido? Actualmente a Administração Fiscal continua sem saber quem são os donos de 602.815 prédios urbanos. Não se trata de evasão fiscal de proprietários ricos. É gente que pura e simplesmente se desinteressou de bens para os quais o mercado é completamente ineficiente.
Mas uma das características dos bonzos do Moloch é a de pensarem sempre que os desastres provocados pela intervenção estatal se curam com mais intervenção estatal. Mais Estado para curar o mau Estado, é a sua divisa. E, pertinazes, foram legislando mecanismos de intervenção: Recria, Rehabita, Recriph, Solarh, Peru, etc.. Contrataram especialistas em acrónimos para combinarem Reabilitação, Habitação, Solidariedade e outras palavras com forte impacte social, para etiquetarem programas que tiveram um efeito irrelevante.
Nenhuma regulamentação, por mais minuciosa ou repressiva que seja, conseguirá resolver esta situação tão eficientemente como o poderá fazer a liberalização das rendas e o regresso ao preço de equilíbrio. Todavia existem tantas expectativas legitimadas e hábitos consolidados, e um fosso de tal forma abissal entre os preços de equilíbrio e os preços actuais, que o Moloch e os seus bonzos andam às aranhas, sem saberem como conseguem sair deste atoleiro.
Era impossível ter obtido um resultado pior. As diversas intervenções estatais no mercado, distorcendo-o completamente, realizadas sempre com as melhores das intenções de justiça social e de protecção aos mais desfavorecidos, impediram os jovens de aceder ao mercado do arrendamento, introduziram discriminações terrivelmente injustas entre os agentes económicos de acordo com a época em que entraram ao mercado - senhorios, inquilinos habitacionais e comerciantes, conduziram à ruína dos centros históricos das cidades, à derrocada dos prédios antigos, ao excessivo endividamento das famílias, etc., etc., uma total devastação social e imobiliária.
Foi a conservação destrutiva.
Publicado por Joana às 09:18 AM | Comentários (49) | TrackBack
maio 09, 2005
Moloch e a Mão Invisível
Ou a Razão do Poder contra o Poder da Razão: 1) o Mercado do Trabalho
A Teoria Económica diz que a taxa salarial deve ser igual à produtividade marginal do trabalho. É injusto, mas está demonstrado. A Angelina Jolie ganha muitos milhões de dólares por filme. Porque não eu? Sinto uma terrível e mesquinha inveja. Vingo-me, mentalmente, pensando que se Angelina Jolie se candidatasse a um lugar na minha empresa, ganharia dez vezes menos que eu. É a malvadez daquela relação iníqua criada pelos caprichos satânicos da Mão Invisível.
É óbvio que aquela relação só se aplica a situações concorrenciais: no sector privado, entre os actores de Hollywood, nos craques da bola, nos treinadores poliglotas, etc.. Há outros sectores que não trabalham em concorrência, como o sector público. Mas nesse caso, a diferença entre a taxa salarial e produtividade marginal do trabalho é paga por todos nós. A caprichosa Mão Invisível regula o equilíbrio de preços do factor trabalho no sector privado. O poderoso Moloch fixa o preço do trabalho no sector privado e obriga os seus súbditos a cotizarem-se para pagarem a diferença.
Mas o Moloch, na sua divina providência, também entendeu impor restrições ao preço e mobilidade do factor trabalho no sector privado. Para proteger os trabalhadores, conforme os seus sacerdotes proclamam nas suas prédicas.
O salário mínimo foi instituído como meio de preservação das condições mínimas de dignidade e de qualidade de vida dos trabalhadores. Todavia, nos segmentos menos qualificados, ou entre os jovens que procuram o primeiro emprego, se o salário mínimo fixado administrativamente for superior à produtividade marginal do trabalho esperada, a procura de emprego diminui e haverá um excesso de oferta face à procura, ou seja, dá-se o fenómeno do desemprego. O excesso de oferta de mão-de-obra resolve-se pelo emprego de alguns trabalhadores com o seu rendimento acrescido da diferença entre o salário mínimo e o salário de equilíbrio, à custa da exclusão dos outros candidatos do mercado de trabalho.
Os sacerdotes do Moloch prometeram proteger a qualidade de vida dos trabalhadores. Criaram em paralelo um custo social do desemprego. Os sacerdotes do Moloch não operaram qualquer redistribuição entre ricos e pobres: com o salário mínimo limitaram-se a conseguir uma redistribuição de rendimentos entre famílias pobres - umas ficaram ligeiramente menos pobres e outras sem nada (ou com subsídios de desemprego).
Por outro lado promoveram o florescimento do mercado negro. E assim surge o trabalho clandestino no qual a taxa salarial é mais próxima do nível de equilíbrio, mas quase sempre inferior a ele, visto que existe um prémio de risco para o engajador e para o empregador, que receiam cair nas malhas legais. A produtividade marginal do trabalho será igual à nova taxa salarial (mais baixa) adicionada ao prémio de risco.
Portanto, os sacerdotes do Moloch ao prometerem proteger a qualidade de vida dos trabalhadores, aumentaram o flagelo social do desemprego, reduziram a taxa salarial dos que se viram forçados ao trabalho clandestino e apenas promoveram uma redistribuição de rendimento entre os mais pobres, a um nível mais baixo, porquanto o rendimento global é menor.
O salário mínimo funciona portanto como uma barreira à entrada que assegura o salário dos insiders à custa dos candidatos que se mantêm em situações de desemprego prolongado.
Adicionalmente, nos sectores menos qualificados, se os trabalhadores são pagos acima da sua produtividade marginal, essa situação não se poderá manter a longo prazo numa economia concorrencial e, mais cedo ou mais tarde, a empresa que os emprega perde competitividade, e fecha ou deslocaliza-se. Ou seja, mesmo os que ficaram transitoriamente menos pobres, mais tarde ou mais cedo acabam no desemprego.
Há um ponto positivo. Um salário mínimo superior à produtividade marginal do trabalho num dado sector, pode orientar a oferta de trabalho para sectores mais qualificados. Mas essa reorientação é um fenómeno a médio ou longo prazo, porquanto pressupõe uma melhoria de qualificação do factor trabalho.
Ler a continuação:
Moloch e a Mão Invisível 2
E, sobre este tema:
Estado e Desenvolvimento
Publicado por Joana às 08:58 AM | Comentários (41) | TrackBack
maio 06, 2005
Mito do Estado Inovador
Aproveitando estar com as mãos na massa, não posso deixar de referir um post de há 2 semanas, que representa uma descoberta notável e original: Salvo raríssimas excepções ... não são os empresários que rompem conceitos. Não é das empresas que saltam as inovações. Não são os empresários que fazem a economia: eles guiam a respectiva locomotiva ... Quem faz a economia são os grupos sociais. Nos últimos séculos consubstanciados no Estado, ou Nação. É o Estado o motor, a locomotiva, da mudança. É a política, enquanto disciplina reguladora do social, que estipula os carris da economia.
A fé com que aquele sentença é proferida só é ultrapassada pela falta de fundamento. Desde Arquimedes, passando pela Revolução Industrial, até ao início da 2ª Guerra Mundial não conheço nenhuma invenção que tivesse origem no Estado ou nos «grupos sociais consubstanciados no Estado» (embora aqui seja forçada a reconhecer que não sei o que tal significa). E depois disso, aquelas que se iniciaram em centros de investigação públicos, ficaram a marcar passo até os privados as desenvolveram e inovarem as suas actividades.
Em primeiro lugar, antes de enveredar pelo assunto, convém afinar alguns conceitos. Há que distinguir entre a ideia ou a concepção de base e as diferentes fases do processo inventivo, até à sua exploração industrial. Aqui convém separar o conceito de inovação do de invenção. A inovação é não apenas inventar um produto ou um processo, mas adaptá-lo à sua utilização ou descobrir novas utilizações para ele. E também adaptar inovações produzidas por outros na sua actividade. E isto tanto para bens como para serviços.
Tomemos o caso da tracção a vapor. Quem descobriu o efeito propulsor do vapor foi Hierão de Alexandria que, sobre o assunto escreveu um tratado, Pneumatica, há 2.100 anos! Todavia a máquina a vapor foi reinventada por James Watt em 1763. E a partir daí, associada aos anteriores inventos da indústria têxtil (Spinning Jenny, por exemplo) e aplicada ao transporte ferroviário (primeiro) e marítimo (depois) foi o motor da revolução industrial. A concepção original de Hierão ficou restrita a alguns mecanismos lúdicos propostos no Pneumatica, sem qualquer sequência. A invenção de Watt e as invenções de Hargreaves e Arkwright tiveram rapidamente aplicação tecnológica. Hierão apenas inventou. A tecnologia e o baixo nível de necessidades de então não incentivaram quaisquer desenvolvimentos. As invenções de Watt, Hargreaves e Arkwright traduziram-se imediatamente em inovações sucessivas e foram o motor da Revolução Industrial.
Durante esse período não foi despiciendo o papel do Estado, mas nunca o de «locomotiva, da mudança» ... apenas o de ajudar à manutenção dos carris. Por exemplo, a indústria química alemã apercebeu-se que a manutenção da sua competitividade dependia da sua própria capacidade de inovar. Para isso precisava que as suas descobertas não fossem copiadas, para que os outros não ficassem com o produto dos seus investimentos em I&D. O Estado alemão ajudou a sua indústria promulgando, em 1877, a Patentgesetz para garantir o direito de propriedade intelectual. Todos nós sabemos a capacidade de inovação que os grandes laboratórios alemães, Bayer, Hoechst, etc., têm hoje em dia. Aliás, a indústria farmacêutica vive da sua capacidade de investigação e desenvolvimento, e tem laboratórios próprios, embora, de há alguns anos para cá, mantenha igualmente diversos contratos de investigação conjunta com universidades públicas e privadas. Mas isto não aconteceu apenas na Alemanha, pois rapidamente se alargou aos outros países, pelo Tratado de Paris assinado em 1883. Em diversas indústrias as Economias de Escala são elevadas justamente pelos vultuosíssimos gastos em I&D a que obrigam.
É injusto o desdém, naquele post, por todos esses desenvolvimentos : «o "empresário" agente de mudança do século XIX, de Edison a Ford, é uma imagem romântica hoje desbotada no album de família dos empresários». Edison, para além dos seus inventos, criou o centro de investigações da General Electric que hoje tem mais de mil investigadores. O transístor foi inventado nos Laboratórios Bell, herdeiro do inventor das comunicações telefónicas. E assim sucessivamente. Não são imagens desbotadas.
É um facto que com a 2ª Guerra Mundial e com as necessidades que esta criou, os Estados beligerantes promoveram centros de investigação dedicados ao esforço bélico. E na continuação, com a guerra fria, os centros de investigação estatais prosseguiram as suas investigações no âmbito da indústria de armamento e aero-espacial. Mas, mesmo nestas indústrias, muitas descobertas e inovações foram realizadas em empresas privadas, trabalhando como contratantes.
E por isso mesmo continuam a ser as empresas as responsáveis por mais de 70% dos inventos patenteados no mundo, sendo que 96% das patentes industriais registadas o foram por entidades sedeadas nos países desenvolvidos. Como o peso das universidades e centros de investigação privados é elevado nestes países, seguramente muito menos de 20% das patentes foram da lavra do sector público (universidades e centros de investigação). São as empresas que têm arriscado os vultuosos investimentos em investigação, embora haja igualmente, quer sob a forma de subsídios, quer sob a forma de isenções fiscais, importantes apoios governamentais. Todavia isto não tem nada a ver com ser o motor, a locomotiva, da mudança.
Um autor brasileiro(*) estabeleceu, recentemente, uma comparação sugestiva. A Coreia do Sul dispõe de 90 mil cientistas, praticamente os mesmos que o Brasil. Mas, na Coreia, cerca de 80% dedicam-se a fazer pesquisa e desenvolvimento na indústria, enquanto, no Brasil, a indústria não absorve mais que 10% desses investigadores. Essa disparidade explica, segundo o autor, o alto volume de patentes registadas pelos coreanos no ano anterior à publicação do artigo - mais de 3.400, contra apenas 113 patentes brasileiras. Esta diferença abissal, é o que separa a investigação conduzida pelo sector privado e a investigação conduzida no sector público ... a locomotiva.
Como é possível falar no Estado como o motor do progresso e da inovação quando 83% dos investigadores nos EUA trabalham no sector empresarial privado? Mesmo na UE, onde o papel do Estado é muito maior, 50% dos investigadores trabalham nesse sector. Com a agravante, no caso europeu, de que há um enorme défice de investigadores e uma fuga de cérebros permanente para os EUA.
As questões ligadas à inovação e invenção também concorreram para o colapso soviético. O esforço armamentista e espacial americano era coordenado por agências estatais, mas desenvolvido, em parte, por empresas privadas, e as inovações destas empresas difundiam-se pelo tecido industrial, tendo aplicações noutros bens. Na URSS ficavam circunscritas às entidades encarregadas daquelas indústrias. A sua eficiência na economia da URSS era incomparavelmente inferior à da economia dos EUA. A situação tornou-se insustentável com a irrupção da informática. A informática para se desenvolver com a rapidez actual, precisa de uma ampla difusão permanente de conhecimentos. Há milhões de utilizadores de informática que concorreram, e continuam a concorrer, para o seu desenvolvimento. Nem o Bill Gates consegue colocar nos carris esses milhões de furiosos da informática. Esta difusão permanente e acelerada de inovações é incompatível com uma sociedade baseada no papel dirigista do Estado.
E a visão do Estado como locomotiva do progresso é herdeira da mentalidade da economia dirigista soviética que conduziu à sua implosão.
Isto não invalida o papel do Estado, quer no financiamento de Universidades e Centros de Investigação públicos, quer na aquisição de bens e serviços de empresas de alta tecnologia. Mas isso não é o Estado o motor, a locomotiva, da mudança. Será talvez o de lubrificar os carris e fornecer algum combustível para a máquina.
Quanto à proposição É a política, enquanto disciplina reguladora do social, que estipula os carris da economia. São a necessidades do Estado que abrem e fecham os mercados., confesso que julgava que as desastrosas experiências passadas tivessem trazido alguns ensinamentos.
(*) cf Brito Cruz - O lugar da inovação no desenvolvimento
Publicado por Joana às 12:05 AM | Comentários (90) | TrackBack
maio 05, 2005
O Mito do Estado
No (o vento lá fora) tem havido algumas profissões de fé no Estado. Têm 3 coisas em comum: a veemência, a fé e a ausência de fundamentação científica. Comecemos por esta citação: Tomemos o ensino, como podíamos tomar a rede viária ou a Imprensa. Sob o pretexto de que o sistema estava falido, sem dúvida alguma devido à irresponsabilidade do Estado para o gerir, abriu-se o ensino superior à "iniciativa privada". Efeitos: o ensino superior não só não melhorou como globalmente dá hoje piores resultados; a grande maioria das universidades privadas está tecnicamente falida.
Comentário: Portugal é, depois da Finlândia, o país da UE que investe mais na educação em termos do PIB. Portugal gasta mais 50% em Educação que a média europeia e tem o mais baixo nível de educação da UE. Portanto o sector público do ensino não está falido apenas porque é pago pelos contribuintes, por todos nós. Em segundo lugar as Universidades privadas foram-se criando, algumas com o compadrio do poder, numa época em que o sector público não conseguia satisfazer a procura. Entretanto a oferta pública aumentou e os subsídios às privadas diminuíram. É óbvio que as Universidades Privadas não podem concorrer com as públicas: são em média 10 vezes mais caras para os utentes. A menos que se imponham pela qualidade e apenas duas ou três o conseguem fazer, tal a diferença de propinas.
E depois acrescenta, consternado, com as consequências desta situação que a sociedade (representada pelo Estado) perante um dilema terrível: ou as deixa fechar pelo curso inexorável dos tempos, com alguns custos políticos (governo que o faça fica com esse ónus), ou as mantém artificialmente com os balões de oxigénio das notas de acesso mais baixas.
Eu estou mais consternada com o custo exorbitante do nosso sistema de ensino, que se não fosse eu e muitos outros pagarem para ele, já teria falido há algum tempo. Mas para o pagarmos sobrecarregamos o tecido produtivo com impostos e levamos as empresas à falência. Os defensores do peso do Estado estão convencidos que o dinheiro que ele custa, aparece por obra e graça do Espírito Santo (a 3ª pessoa da Trindade e não o Banco!). Não é verdade ele sai do nosso bolso. É o nosso bolso que paga o Estado, a sua ineficiência e evita, não sei quanto tempo ainda, que ele vá à falência. (o vento lá fora) está preocupado com a possibilidade de falência dessas universidades privadas. Eu não estou. O corpo docente de parte delas é constituído, em muitos casos, por turbo-professores que ficarão, resignados, reduzidos às universidades públicas. Estou mais preocupada com o desemprego e a desaceleração económica gerados na indústria pelo gigantismo do Estado (ver aqui e aqui). Aí não há turbo-empregados. Há gente que fica em desemprego de longa duração.
Quanto aos manuais escolares julgo que há um total equívoco. Eles sempre foram produzidos por editoras privadas. O Estado não se alheou. Foi exactamente o contrário que ocorreu. É o Estado que altera constantemente os currículos e que introduz o caos naquele mercado. As editoras limitam-se a tabelar os livros adicionando um prémio de risco para o caso do ministério ou das escolas mudarem de ideias. Um manual escolar está em permanente risco de se tornar num mono e a editora de ficar com dezenas de milhares de exemplares em stock. Não é alheamento ... é uma acção nociva do Estado.
Quanto ao SNS, (o vento lá fora) afirma que Está por provar que a gestão hospitalar privada seja a solução. Concordo. Todavia a situação de descontrolo orçamental do SNS está provada e tem que acabar, quer seja com privados, com hospitais SA ou com hospitais EPE. E isso é o âmago da questão. (o vento lá fora) afirma que os privados não são solução (embora antes tenha afirmado que tal está por provar) porque a saúde não é uma actividade lucrativa. Esta afirmação é apenas uma tirada moralista. O abastecimento de água, o tratamento de efluentes e a recolha e tratamento do lixo também não eram actividades lucrativas, e muitas delas foram concessionadas a privados porque estes as fazem com preço mais baixo, e ainda conseguem obter lucro.
A ideia do lucro como pecado é uma tradição escolástica, dos tempos de S Tomás de Aquino. Se uma entidade me prestar um serviço, com a mesma qualidade, e a um preço inferior, não me importo que ela possa ter lucro. É o prémio por ela prestar dois serviços: o serviço em si, e a eliminação do desperdício social anterior. Claro que há que haver cuidado com o contrato de concessão e com as obrigações nele consignadas e constituir uma entidade reguladora que vele pelo cumprimento contratual e pelo andamento da concessão. Anteriormente foram construídas centenas de ETAs e ETARs pelo sector público que ou nunca funcionaram, ou deixaram de funcionar ao fim de pouco tempo. Isto sim ... é desperdício. Eu prefiro o pecado do lucro a deitar dinheiro à rua.
Em matéria de Comunicação Social não vou discutir com um insider. Só posso dar o testemunho de leitora que não é abonatório, embora provavelmente por outras razões.
Mas o paradoxal é que, quando confrontado com a sua relação com o Estado, conclua que o Estado é mau. Hoje em dia não é pessoa de bem, que foi por ter deixado chegar a este ponto de gordura paralisante que a sociedade passou a demandar a sua desestruturação, em benefício do sector privado. Sobre isso estamos de acordo. Todavia lembro que essa demanda sempre foi objecto da Ciência Económica até à actualidade. As próprias receitas keynesianas de aumento de despesa pública referiam-se a circunstâncias muito específicas, completamente diversas das existentes no pós-guerra. E referiam-se a investimento público e não ao aumento estéril da burocracia e das sinecuras. E se o keynesianismo é hoje atacado, é por se tentarem usar as suas receitas em circunstâncias completamente diversas (embora também seja atacado por razões de capelinhas científicas). O que aconteceu entretanto foi que as sociedades ocidentais criaram um monstro (no caso português, além de monstro é totalmente ineficiente) que não conseguem dominar e de que se arriscam a serem vítimas. E há uma progressiva tomada de consciência disso à escala do mundo desenvolvido.
Todavia quando (o vento lá fora) afirma : «Mas agora temos um novo problema: o sector privado também foi incapaz de responder aos desafios como se desejava e impunha» está a esquecer-se de várias coisas. Em primeiro lugar, o peso do Estado é ele próprio um entrave ao desenvolvimento (ver os meus posts * e * e os estudos * e *). Em segundo lugar, e no caso português, há uma história espúria de dependência dos empresários relativamente ao Estado (contratos públicos, condicionamento industrial e outras formas de protecção anti-concorrencial, etc.); levantar aquela questão é o mesmo que dizer: este tóxico-dependente não está a ter um bom desempenho, o melhor é continuar a drogá-lo. Em terceiro lugar, e apesar de ser «incapaz de responder aos desafios como se desejava e impunha», é ele que paga o Moloch estatal. É do sector produtivo que, directa ou indirectamente, sai o financiamento da despesa pública, que já ultrapassou 50% do PIB. É ele que tem que competir com a globalização que nos bate à porta e arca ainda por cima com a ineficiência do Estado, enquanto o sector público se permite ignorar as regras da eficiência e só ainda não faliu, porque esse «sector incapaz de responder aos desafios», continua a ser capaz de o sustentar.
Os meus parabéns, todavia, pela frase final, que é uma conclusão genial face ao conteúdo do texto: «Vamos em Portugal continuar a viver tempos difíceis e de desorientação geral».
Ler a continuação:
Mito do Estado Inovador
Publicado por Joana às 10:59 PM | Comentários (11) | TrackBack
maio 03, 2005
Estado e Desenvolvimento (2)
Keep it simple, stupid
Os números que indiquei no post de ontem têm poder explicativo e mostram que o peso do Estado num dado momento, medido em percentagem do PIB, influencia negativamente o crescimento subsequente. Mostram igualmente que quanto maior é o ritmo do crescimento do peso do Estado, maior é a desaceleração do crescimento económico. Ou seja, o crescimento económico é entravado pelo peso do Estado e pela rapidez com que esse peso aumenta. E estes resultados são confirmados por um outro resultado que mostra que o investimento reage negativamente ao peso do Estado. E estas conclusões apoiam-se mutuamente se o investimento reage negativamente, afecta obviamente o crescimento económico.
É óbvio que as equações de regressão estimadas só são válidas dentro de certos limites. Se não houvesse quaisquer despesas do Estado (G=0) o crescimento não seria 7,72% ao ano, nem o investimento 28,4% do PIB. Provavelmente não haveria investimento e o país estaria num caos. O Estado tem que existir para assegurar a protecção dos cidadãos e dos seus bens, a aplicação da justiça, a soberania nacional e evitar que no processo de funcionamento da economia surjam situações de violação das regras da concorrência, suprimindo as barreiras que limitam a liberdade económica, nomeadamente aquelas que resultam das tentativas de agentes económicos de criarem cartéis, barreiras à entrada num dado mercado, etc.
Por outro lado, o Estado deve fornecer serviços que organizem as desigualdades sociais e económicas de forma a trazer aos mais desfavorecidos melhores perspectivas e a serem compatíveis com o objectivo permanente da igualdade das oportunidades. Ou seja, equidade na política de educação, segurança social, saúde, infra-estruturas públicas, etc.. Todavia aqui o Estado tem que evitar a tentação do igualitarismo, que conduziu, pouco a pouco, aos modelos sociais absurdos e em vias de falência. Não é a igualdade que é importante, mas sim a equidade. Este princípio é compatível com um aumento da desigualdade. Pouco importa que o rico se torne muito mais rico se o pobre se tornar menos pobre. Portanto o Estado deve definir com rigor o seu core business e não se dimensionar para além do aceitável.
O Estado deve ater-se ao princípio KISS: keep it simple, stupid.
O estudo apresentado ontem refere-se a países com alguma identidade: democracias estáveis onde existe o primado do direito e com níveis de desenvolvimento e organização social sem diferenças abissais entre eles. Por isso, a introdução de variáveis adicionais, tais como a variação do número de anos de escolaridade e da taxa de inflação revelaram-se, segundo os autores, sem poder explicativo.
Nesse sentido o estudo em causa alargou o leque de países para 60, incluindo os da OCDE. Não foram indicados os países em causa, mas presume-se que foram aqueles para os quais era possível obter dados fiáveis. Foram excluídos os países da antiga URSS e da Europa de Leste, bem como a China. Mesmo assim, o período de análise cingiu-se a 1980-1996, por dificuldade em obter dados anteriores.
Foram introduzidas mais algumas variáveis independentes interessantes:
1) dados sobre a segurança da propriedade e do primado da lei: riscos de expropriações; riscos de violação contratual, etc. Os dados foram obtidos a partir de uma empresa internacional de análise de risco. Como é usual em estatística não paramétrica, aquelas indicações foram quantificadas com scores de 1 a 10. Designei por Π essa variável. Simultaneamente introduziram outra variável, relativa à variação daqueles scores ao longo do período em análise ΔΠ.
2) Foi introduzida uma variável para avaliar os efeitos da inflação sobre o crescimento. Os autores escolheram o desvio-padrão da taxa inflação de inflação, o que me parece razoável, porquanto o mais importante, para um agente económico, é a incerteza associada a este fenómeno. Designei-a por σi.
3) Foi introduzida ainda uma outra variável representativa da escolaridade média dos indivíduos de idade superior a 25 anos (E). Embora o número de anos de escolaridade não seja suficiente, pois não entra em conta com a qualidade do ensino, acaba por ser uma boa variável proxy. Em princípio os países com mais anos de escolaridade terão um ensino de melhor qualidade (ou pelo menos não inferior).
4) A variável ΔG foi subdividida em 3 variáveis ΔG1 (variação de G entre 1980 e 1985); ΔG2 (variação de G entre 1985 e 1990); ΔG3 (variação de G entre 1990 e 1995).
Foram estimadas 4 equações de regressão múltipla
(1) ΔY = 8,27 0,62xG 1,15x ΔG1 1,15x ΔG2 0,68x ΔG3 + 1,37xΠ + 1,46x ΔΠ 0,82x σi
R2= 0,48
(2) ΔY = 8,72 0,49xG 1,17x ΔG1 0,97x ΔG2 0,60x ΔG3 + 1,30xΠ + 1,36x ΔΠ 0,57x σi + 0,61xE
R2= 0,54
(3) ΔY = 8,81 0,42xG 1,01x ΔG1 0,83x ΔG2 0,31x ΔG3 + 1,13xΠ + 1,25x ΔΠ 0,68x σi + 0,085xI
R2= 0,49
(4) ΔY = 8,98 0,40xG 1,09x ΔG1 0,81x ΔG2 0,40x ΔG3 + 1,17xΠ + 1,25x ΔΠ 0,52x σi + 0,55xE + 0,048xI
R2= 0,54
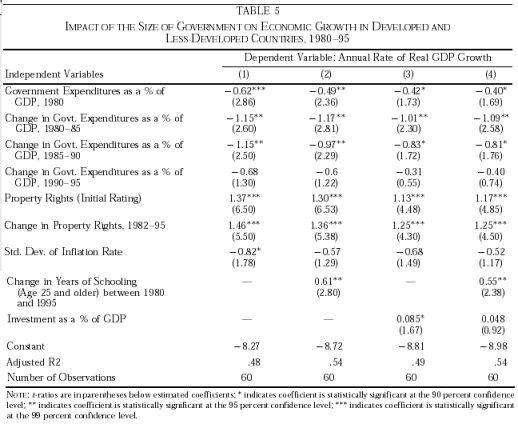
Estes resultados confirmam tudo aquilo que tenho escrito, em quase dois anos, neste blog.
Em primeiro lugar os estimadores com maior significado estatístico são os que se referem ao risco que pende sobre a propriedade e sobre o cumprimento dos contratos. Quanto menor é o risco, maior é o crescimento. Já sublinhei aqui diversas vezes a importância do bom funcionamento da justiça no desenvolvimento da nossa economia. Um país de caloteiros insolventes não é atractivo para um investidor.
Em segundo lugar o peso do Estado (G) e as variações desse peso têm um efeito fortemente negativo sobre o crescimento e os estimadores dos respectivos coeficientes têm um elevado nível de significado, excepto os relativos a ΔG3, o que é compreensível, visto que os seus efeitos ainda não se fizeram sentir completamente. É evidente que deve haver alguma multi-colinearidade entre estas 4 variáveis e a repartição do peso da influência de cada uma no crescimento económico, indicada nas equações, pode estar enviesada por esse fenómeno. Mas isso não invalida a acção conjunta destas variáveis o nível da despesa pública tem uma influência preponderante no crescimento e age negativamente, entravando-o. Este é um resultado incontornável.
A variação dos anos de escolaridade age positivamente e tem algum significado estatístico. Enquanto isso, e como seria expectável, o risco de variações da taxa de inflação age negativamente no crescimento, embora o significado estatístico do estimador seja baixo.
Uma última palavra sobre o Investimento. Tem um efeito positivo, mas um significado estatístico baixo. Eu atribuo isso ao efeito da multi-colinearidade, visto haver uma forte correlação (negativa) entre o investimento e as variáveis relativas à despesa pública. O que é importante é haver uma sólida relação entre crescimento e despesa pública (negativa) e entre crescimento e investimento (positiva). É menos importante saber como essa relação se reparte em termos dos estimadores dos respectivos coeficientes.
Resta a questão da optimização do peso do Estado. Os autores concluem que um valor de 15% é a dimensão óptima. Todavia não entram em conta com as pensões de reforma e o serviço de saúde. É certo que estes dois serviços podem ser prestados por entidades externas, todavia o princípio da equidade que eu referi acima obriga a que o Estado tenha uma intervenção importante nessas áreas, mesmo que apenas complementar. Em Portugal, em 2004, aquelas despesas representavam cerca de 24% do PIB, embora haja, como se sabe, uma enorme ineficiência do Estado. Admitindo um valor de 20%, ter-se-ia um peso do Estado no PIB de cerca de 35%. Com este peso, e admitindo a validade das equações deduzidas no post anterior, Portugal poderia ter um crescimento da ordem dos 3,7% a 4%, mantendo o âmbito das prestações sociais.
Outras acções teriam de ser tomadas porque, como se viu, a despesa pública apenas explica 42% do crescimento, nomeadamente pôr a justiça a funcionar devidamente e aumentar drasticamente a escolaridade média.
Resumindo: Basta reformar a administração pública, reduzindo-a e melhorando o seu funcionamento, e privatizar alguns serviços e empresas ainda desnecessariamente a cargo do Estado.
Publicado por Joana às 10:51 PM | Comentários (24) | TrackBack
maio 02, 2005
Estado e Desenvolvimento
Uma mentira repetida torna-se verdade, pensavam os chefes nazis. É um facto. Todavia torna-se verdade para um número cada vez mais reduzido de pessoas. Os comícios dos primeiros de Maio, onde os líderes sindicais repetem os mesmos chavões, receitas que levaram à bancarrota onde foram aplicadas, presenciados por cada vez menos assistentes cada vez menos entusiasmados, são prova inequívoca disso. Hoje vou dissecar a teoria de João Proença de que "a obsessão pelo défice do Orçamento de Estado" estava a arrastar o País "para um ciclo vicioso de crise económica e de desemprego", que ele havia enunciado há mais de um ano e que dava como provada pelo aumento do desemprego entretanto ocorrido. Esta relação causa-efeito faz lembrar o episódio do cientista e da rã.
Na realidade o problema põe-se inversamente. Foi a política de aumento continuado da despesa pública conduzida pelos governos anteriores, com especial ênfase nos governos de Guterres, que criou as condições "para um ciclo vicioso de crise económica e de desemprego". A obsessão pelo défice do Orçamento de Estado" apenas tentou, embora convenhamos que de uma forma inábil, inverter aquele processo.
Três economistas reputados apresentaram, há cinco anos, um estudo (Nota 1) analisando o crescimento de 23 países da OCDE durante 37 anos, entre 1960 e 1996, ou seja 23x37=851 observações, estabelecendo uma regressão entre aquele valor, tomado como variável dependente, e o peso do Estado, expresso pela percentagem da despesa pública relativamente ao PIB(Nota 2).
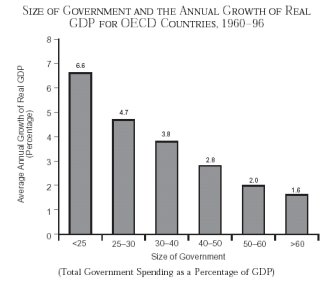
Nos quadros seguintes estão os resultados obtidos. O histograma do primeiro quadro é significativo. Quanto maior o peso da despesa pública num dado Estado, no início de uma dada década, menor o crescimento económico desse Estado, nessa década.
No segundo quadro apresenta-se a nuvem de pontos e a recta de regressão. A função estimada é:
(1) ΔY = 7,14 0,10xG
O R-quadrado igual a 0,42, indica que 42% do crescimento é explicado por aquela variável. A estatística t = 8,1 indica um elevado nível de significância do estimador do coeficiente de G (a variável é significativamente diferente de zero com probabilidade superior a 99%). Ou seja, podemos concluir com uma elevada segurança estatística que quando a despesa pública tem um aumento de 10% em termos do PIB, o crescimento económico diminui em 1%. E isto é um resultado que tem em conta o comportamento de 23 países ao longo de 37 anos. Não se refere apenas a um país ao longo de 37 anos, nem a 23 países num dado ano.
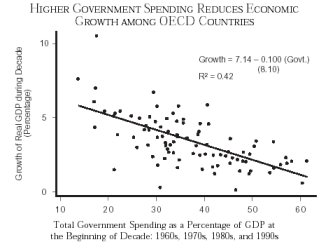
E chamo a atenção para o facto de que quanto mais elevado é o peso do Estado, menor é a dispersão das observações face à recta de regressão. Basta olhar para o segundo quadro que se identifica essa situação. O aumento do peso do Estado torna-o uma causa cada vez mais significativa da diminuição do crescimento económico.
Outra adenda significativa. Como o estudo se refere a dados até 1996, estão excluídos os recentes desenvolvimentos provocados pela globalização e pela crise dos Estados sociais. Além disso, parte dos dados refere-se às 3 gloriosas décadas em que aqueles países tiveram elevados crescimentos e dominavam económica e comercialmente o mundo. Ou seja, se o estudo tivesse incluído as observações até 2004, provavelmente o estimador do coeficiente da variável G seria maior em valor absoluto. Por outro lado, ninguém pode argumentar contra a validade do estudo baseando-se no ruído destes últimos anos.
Aqueles autores adicionaram, em seguida, mais duas variáveis independentes a variação percentual da despesa pública ocorrida em cada década (ΔG) e o investimento em percentagem do PIB (I). Os resultados estão no quadro seguinte (Table 4)
As equações são:
(2) ΔY = 7,724 0,11xG 0,046x ΔG
(3) ΔY = 5,365 0,099xG 0,055x ΔG + 0,087xI
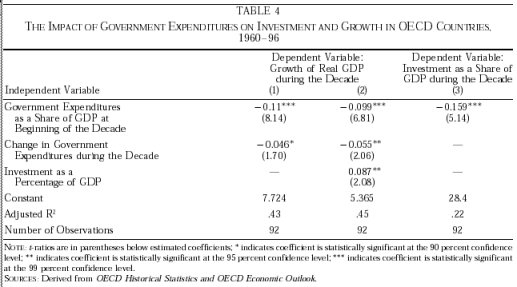
Houve uma ligeira melhoria do poder explicativo (notar que o R-quadrado foi ajustado ao aumento do número de variáveis) e os estimadores têm um nível de significado elevado, embora seja de admitir uma provável existência de multi-colinearidade (as variáveis independentes não são independentes entre si e pode haver erros na repartição dos coeficientes entre si) e auto-correlação (há séries temporais o que pode provocar correlação entre grupos de séries de observações ordenadas no tempo). Todavia estes efeitos não alterariam os resultados globais, quanto muito influenciariam ligeiramente os coeficientes dos estimadores e o seu peso relativo.
A equação (2) mostra que o crescimento não diminui apenas com o peso da despesa pública, mas também com a rapidez do crescimento dessa despesa. Esse fenómeno explica o agravamento da crise económica a seguir ao descontrolo da despesa pública guterrista. Não aconteceu por acaso, ou apenas pela conjuntura internacional. É um efeito normal de um erro financeiro e económico. A conjuntura internacional apenas agravou esse efeito.
Quanto ao investimento, equação (3), favorece o crescimento económico, como seria evidente. Todavia, tem um poder explicativo estatisticamente menor que o peso da despesa pública, e isto é importante, para compreender a análise subsequente.
Uma quarta regressão foi efectuada tomando I como variável dependente e G como variável independente. O resultado, que está na mesma tabela, conduziu à seguinte equação de regressão:
(4) I = 28,4 0,159xG
O R-quadrado igual a 0,22, indica que 22% do investimento é explicado por aquela variável. A estatística t tem um valor elevado (p>99%). Portanto quando a despesa pública tem um aumento de 10% em termos do PIB, o investimento diminui em 1,59%. O aumento da despesa pública desincentiva o investimento.
Se os líderes sindicais não vivessem no Parque Jurássico, deveriam debruçar-se sobre estes resultados. O aumento do peso do Estado desincentiva o investimento e sem investimento não há criação (ou mesmo manutenção) de empregos. E, por via disso, mas não só, o aumento do peso do Estado é um entrave ao crescimento económico e, obviamente, ao nível de emprego. Os líderes sindicais fazem reivindicações que contrariam os objectivos com que acenam aos trabalhadores.
Mas não são apenas os líderes sindicais a viverem no Parque Jurássico. Jorge Sampaio afirmou ontem na Figueira da Foz que «Não fazer as coisas porque não há dinheiro é atitude de país rico e nós não somos um país rico». Na sua linguagem de Pitonisa de Delfos, Sampaio disse uma verdade sem intenção: meter-se a fazer coisas sem dinheiro e sem avaliar o rácio benefício-custo desse empreendimento é uma aventura típica de um país subdesenvolvido que não percebe como há-de sair dessa situação de baixo desenvolvimento. Sampaio continua sem estar consciente da importância da diminuição do peso do Estado no desenvolvimento do país.
(1) The scope of government and the wealth of nations - James Gwartney, Randall Holcombe, and Robert Lawson, Cato Journal, Vol. 18, No. 2 (Fall 1998)
(2) No que respeita a este indicador transcrevo esta nota dos autores: «Throughout this paper, total government expenditures as a share of GDP are used to measure the size of government. Total government expenditures include spending on government consumption, transfers and subsidies, net interest on outstanding debt, and capital goods. Previous cross-country studies have generally used government consumption (or central government expenditures) as a share of GDP to measure the size of government. While those figures are easier to obtain and available for more countries, they are often highly misleading. The government consumption figures substantially understate the size of government for countries with either (a) large transfer and subsidy sectors or (b) a high level of government investment. Similarly, the central government figures will understate the size of government for countries (for example, United States and Switzerland) where substantial expenditures are undertaken at lower levels of government. Thus, the total government expenditure figure is both a more accurate and more comprehensive indicator of government size».
Publicado por Joana às 10:32 PM | Comentários (48) | TrackBack
abril 26, 2005
Construtores de Pirâmides
Durante 23 anos, os egípcios sob o esclarecido governo de Quéops (Khufu para os amigos) construíram uma pirâmide descomunal, amontoando 3 milhões de metros cúbicos de pedras. Segundo Heródoto, 100.000 homens trabalharam nela, embora especialistas em recursos humanos tenham recentemente posto aquele número em dúvida, considerando que as autoridades faraónicas tinham uma notável eficiência na gestão de recursos humanos. A corveia imposta aos felás egípcios representaria mais de 10% da sua força de trabalho. Nos últimos 23 anos a corveia imposta à riqueza produzida pelos felás portugueses passou de 30,9% do PIB para 50,2%, ou seja 20% da nossa capacidade de produção de riqueza. Andamos há 23 anos a construir uma pirâmide muito mais avantajada que a de Quéops só que é imaterial não se vê, nem vai proporcionar excursões turísticas.
Quéops (Khufu para os egiptólogos) foi o primeiro político a aplicar a receita keynesiana de combater o desemprego (entre duas cheias consecutivas do Nilo) e a insuficiência da procura, através de obras públicas de grande envergadura e de impacte que qualquer turista, por muito exigente que fosse, não deixaria de realçar. Também foi o primeiro político a revelar total indiferença pelos níveis dos défices públicos e das paridades das taxas de câmbio. Mas o Egipto estava separado da globalização pelos desertos que ladeavam o Nilo e pelo Mediterrâneo. Em Mênfis, nem os escribas mais habilitados andavam a par dos câmbios e de quantos bezerros necessitavam a mais, para trocarem pelo mesmo volume de madeira de cedro que os mercadores de Byblos traziam, quando arribavam ao Delta.
E isso possibilitou que Quéfren (Khafré para os amigos) e Miquerinos (Menkauré entre os amigos) continuassem com aquela política de aposta decisiva na despesa pública. Porém as pirâmides foram diminuindo de tamanho, porquanto o corpo social egípcio estava cada vez mais exangue. Mas mesmo minguando as pirâmides, as corveias impostas à população tornaram-se totalmente insuportáveis, e apesar de não haver globalização nem crise cambial visível, o regime implodiu, desfazendo-se o Egipto em dezenas de pequenos Estados, muito menos vorazes em termos de corveias e pouco versados em Keynes.
Portugal está há 23 anos a construir uma pirâmide. Não trouxemos das pedreiras 3 milhões de metros cúbicos de material. Durante esse período trouxemos mais de 200 mil funcionários públicos para entufar o Moloch estatal. E as corveias adicionais, impostas à população, para transportar, instalar e manter aquela multidão, traduziram-se em 20% do que essa população produz. As pedras egípcias tiveram a qualidade de, uma vez colocadas e executado o remate final, a pirâmide ter ficado ali, tranquila, na planície poeirenta de Gizé, milénios a fio, sem necessidade de quaisquer custos adicionais e produzindo inesperadas receitas turísticas 45 séculos depois. A multidão que utilizamos como elemento construtivo da nossa pirâmide tem custos de manutenção permanentes e não tem qualquer impacte turístico, nem agora, nem certamente daqui a 45 séculos. Aliás, é uma pirâmide totalmente invisível apenas pesa, e muito, no orçamento.
Ainda se um Bonaparte qualquer passasse por cá, daqui a 40 séculos, e proclamasse: do vazio daquele erário, 40 séculos vos contemplam, talvez isso pudesse constituir uma promoção turística, mas é muito problemático ...
Tenho mesmo fundadas dúvidas que tenhamos capacidade para construir mais alguma pirâmide. As múmias de Quéfren e Miquerinos podem portanto permanecer na sua tranquilidade milenar. Aliás, nem aquela que já construímos é seguro que a consigamos manter. Em termos anuais, a riqueza que os nossos felás produzem cresceu durante um quarto de século à taxa anual média de 2% enquanto a despesa pública que pesa sobre os seus ombros cresceu, anualmente, à taxa de 4,7%. Se esta situação se mantivesse, as despesas públicas corresponderiam, em 2030, a 97% do PIB. Todos os felás estariam a acartar entulho para a pirâmide
Não me parece que a dinastia se aguente.
Muitos acusam as pirâmides de serem construções absolutamente inúteis. Talvez ... mas têm uma presença física imponente ... assombram o turista. A nossa pirâmide só pesa ... não se vê, nem permite espectáculos de som e luz ... nada ... não serve mesmo para nada e está-nos a custar muito mais caro. Apenas assombra o contribuinte.
Publicado por Joana às 10:45 PM | Comentários (37) | TrackBack
janeiro 24, 2005
A Crise dos Adoradores de Moloch
A ideologia dominante no nosso país está a mudar. Lentamente, penosamente, há prenúncios de mudanças. A ideologia estatizante, a do Estado providência, omnipotente, do Moloch para cujo sustento devemos sacrificar os nossos bens e o nosso labor, está em claro retrocesso. O peso do Estado na sociedade portuguesa tornou-se de tal forma excessivo que o sentimento de rejeição por essa presença obsidiante alastra por toda a sociedade. Já existe, na classe política, o consenso sobre que esse Estado obeso e impotente tem que desaparecer, para que Portugal retome a via do desenvolvimento. O único mas difícil problema é o de saber como realizar isso.
Todos os dias vêm a lume estudos em que se provam que este e aquele sector público é o que despende mais na União Europeia e o que presta pior serviço ao público. Foi o que se provou para o sector da Saúde; foi o que se demonstrou abundantemente para o sector da Educação; foi, há dias, um estudo sobre o sector da Justiça, onde se concluiu que Portugal era o país da UE que tinha, de longe, mais juízes e funcionários judiciais, e era aquele onde a justiça era pior, mais ineficiente e mais morosa. Isto, depois de um estudo que provava que um melhor desempenho do sistema judicial se traduziria num acréscimo de 11% na taxa de crescimento do PIB.
A obesidade conduz à morte. Foi o excesso de intervencionismo na economia britânica que levou ao seu declínio, às derrapagens orçamentais, à instabilidade monetária e à revolução Thatcheriana que apostou em menos Estado, num Estado apenas regulador. Mesmo a «terceira via» de Tony Blair foi contrária à ideia keynesiana da despesa pública como motor do crescimento. Foi isso que permitiu que a economia britânica que, a seguir à guerra, era muitíssimo mais próspera que a francesa (e que as restantes economias da Europa Continental), mas que havia estagnado mercê da vertigem estatizante dos governos trabalhistas do pós-guerra, voltasse a recuperar, e seja hoje uma das economias mais sólidas da Europa.
Todavia corremos o risco de atingir a situação do não-retorno. Para haver reformas, o eleitorado terá que as apoiar pelo voto. Ora quanto mais o Estado cresce, maior é a percentagem do eleitorado interessada na sua manutenção funcionários públicos e familiares. Esse eleitorado vota na segurança do seu sustento imediato e na certeza da ruína de todo o país a prazo. Tem pois que haver uma intervenção urgente, porquanto o sector público português ameaça tornar-se num buraco negro cuja força gravítica atingiu tal intensidade que atrai tudo para dentro de si, impedindo qualquer saída.
Alguns protestam contra a privatização do Estado. Esquecem que o Estado já está privatizado. Todos nós estamos reféns de um Estado que não nos pertence, que pertence aos interesses corporativos que se apropriaram deles: sindicatos, chefias, cujo poder depende do número de funcionários delas dependentes, e do espaço que ocupam, etc.. Nós apenas pagamos para o manter, enquanto ele nos presta somente os serviços mínimos, indispensáveis para fazer prova de vida. Aliás, um estudo recente prova que dois terços das tarefas prestadas pelo Estado são prestadas a si mesmo. O Estado vive em autofagia.
Este Estado já não nos pertence, não nos serve, apenas nos sangra. Este Estado está privatizado, mas precisa de nós para nos parasitar.
Guterres teve a atenuante de não perceber o que estava a fazer. Imaginava, na sua inocência, que o erário público era inesgotável. Mas Durão Barroso entrou com a férrea determinação de emagrecer o Estado. Ora tal não aconteceu e, embora a ritmo muito inferior, os efectivos do Estado continuaram a aumentar. O governo de Durão Barroso não teve nem a competência, nem a coragem, para tomar as medidas necessárias. Apenas paliativos financeiros. O governo de Santana Lopes também não tomou medidas, mas não pode ser citado como exemplo. Um governo sempre à beira da demissão, enfrentando uma instabilidade permanente durante os 4 meses que durou, não tem condições para tomar medidas estruturais.
A dificuldade que a nossa classe política tem mostrado em reformar o sector público ameaça a nossa existência colectiva, e é o sentimento crescente dessa ameaça que faz com que haja uma percepção cada vez mais alargada de que urge uma intervenção determinada e drástica.
O governo de Durão Barroso provou que mesmo congelando ou dificultando as admissões, o Estado continua a engordar. As propostas de Sócrates são risíveis e um mau remake das propostas de Pina Moura. Por cada dois que saem, entram três e não um, por muito que o governo proíba o contrário. O que é indispensável é a reforma e a reestruturação dos serviços, mas tal desiderato não se consegue por decreto, consegue-se pela determinação, competência e coragem.
E essa convicção alastra pela sociedade. Se a progressiva obesidade do Estado não for resolvida pela classe política, ou o país implode por incapacidade de saciar a voracidade crescente do Estado, ou o sistema político actual implode por ser incapaz de conter a impaciência dos portugueses em verem as questões fundamentais resolvidas no quadro das instituições vigentes.
Mesmo nos meios de comunicação, tradicionais baluartes dos ícones da esquerda, começa a ganhar algum consenso a urgência do emagrecimento do sector público. Aliás, uma boa gestão não é matéria de esquerda ou de direita. É uma matéria de bom senso e de competência. Esquerda e Direita são conceitos cada vez mais esvaziados de conteúdo. Derivam da localização que os deputados franceses escolheram na Constituinte, na Assembleia Legislativa e na Convenção Nacional, durante a Revolução Francesa. Mas, por exemplo, os Girondinos sentaram-se, nas 2 primeiras assembleias à esquerda e na Convenção Nacional, à direita. Na Câmara dos Comuns britânica significava apenas os lugares dos membros apoiantes do governo, qualquer que ele fosse, à direita, e o lugar da oposição, à esquerda.
Actualmente, alguém reclamar-se de esquerda serve apenas para tentar afirmar-se como estando no que julga ser o lado certo da história. Serve apenas para auto-afirmação política: Eu estou certo, pois sou de esquerda. Todavia, o que é paradoxal, é que, hoje em dia, as forças que se opõem ao progresso são exactamente aquelas que se reclamam com mais veemência de esquerda.
Por isso, Esquerda e Direita são apenas ícones, já sem conteúdo. Não será a sua pretensa dicotomia que constituirá obstáculo às reformas. O obstáculo a essas reformas são os elementos conservadores e imobilistas que apenas se reclamam de esquerda para maquilharem de um pseudo progressismo as suas opções.
Nota - Sobre temas similares ler igualmente:
Duas Mãos Invisíveis
Dois Apoios e Muitas Dúvidas
Défice democrático e a Esquerda
Défice Democrático
O Mercado e os Aprendizes de Feiticeiro
Sócrates e os Aprendizes de Feiticeiro
Publicado por Joana às 11:15 PM | Comentários (98) | TrackBack
janeiro 16, 2005
Custas Judiciais
Portugal, pouco a pouco, começa a tomar consciência e a avaliar os custos da ineficiência do seu sector público. Um estudo de uma investigadora da investigadora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL, cujas conclusões principais foram publicadas no Jornal de Notícias, faz uma estimativa calamitosa do impacte, no PIB do país, da ineficiência da Justiça portuguesa. E o que é grave, é que os governantes não percebem porquê. O actual ministro, apesar de ser considerado pessoa de bastante valimento, apressou-se a declarar que é preciso racionalizar os meios humanos. Nos tribunais, onde há mais serviços, deve também haver mais funcionários e magistrados. É desesperante os governantes não se aperceberem que o que está errado são os dispositivos legais para combater o incumprimento contratual e conseguir a cobrança atempada das dívidas. Não discuto que não deva haver uma reafectação e requalificação de recursos humanos. Mas o que é indispensável é a simplificação dos processos legais.
Quando debati aqui a Lei do Arrendamento Urbano escrevi que Desde 1990 que o arrendamento é livre e a prazo (5 anos). Portanto os fogos actualmente devolutos estão em mercado livre. O primeiro estudo que o governo deveria ter feito seria o de investigar porque é que há 544 mil fogos devolutos (359 mil, se descontarmos os que alegadamente estão à espera de comprador ou arrendatário) num mercado livre. Enquanto o governo não perceber as razões porque tal acontece, não vale a pena dar o passo seguinte, pois irá certamente fazer asneira. ... Sabe-se que há um diferencial, estimado em mais de 40%, que é uma espécie de prémio de risco para o senhorio. O empolamento das rendas deve-se ao receio do senhorio face ao imprevisível comportamento do inquilino e não a outro motivo.(*)
Ora nesta lei havia apenas uma ligeira, e inócua, simplificação do processo de despejo por não pagamento da renda. Portanto numa lei que se pretendia estruturante e vital para fazer funcionar esse mercado, o Governo atirou ao lado. É óbvio que uma simplificação deste processo, e de todos os que conduzam a um cumprimento contratual mais efectivo, iria fazer diminuir os réditos dos advogados ... mas contribuiria em muito para o bom funcionamento daquele mercado e de toda a economia em geral.
Desconheço se a simplificação legal será plenamente compatível com a actual Constituição. Em Portugal os mecanismos legais preocupam-se mais em assegurarem protecção aos infractores do que às vítimas. Todavia, neste caso, as vítimas não são apenas aqueles a quem foram pregados calotes, somos todos nós, indirectamente, pelo efeito perverso para a economia que resulta do receio de empresários e investidores do não cumprimento dos contratos.
O trabalho da investigadora Célia Costa Cabral baseou-se num inquérito junto dos empresários portugueses sobre o funcionamento da justiça portuguesa, e concluiu que a justiça é "muitíssimo lenta e que a sua "morosidade leva a uma natural contracção do investimento em Portugal e funciona como um obstáculo ao crescimento do País", pois "os empresários não arriscam investimentos, se não estiverem absolutamente seguros do cumprimento dos contratos".
Segundo o estudo uma justiça mais célere levaria os empresários a investir mais, a arriscar mais emprego e a baixar os preços das transacções. É óbvio que esta conclusão poderia ser tirada, mesmo sem inquéritos, por qualquer pessoa sensata que olhasse para o país em que vive. Mas Célia Costa Cabral foi mais longe e estimou que "um melhor desempenho do sistema judicial levaria a um crescimento da produção de 9,3 por cento, o volume do investimento cresceria 9,9 por cento e o emprego 6,9 por cento", o que tudo conjugado se traduziria num acréscimo de 11% na taxa de crescimento do PIB. Ou seja 13 mil milhões de euros.
Estes números valem o que valem. Não me custa a acreditar que, se houvesse uma justiça mais rápida e uma maior simplificação legal, o crescimento do nosso PIB fosse significativamente superior ao normal e que, ao fim de poucos anos, esses sucessivos diferenciais fossem 11% ou mais.
Muitas das transacções que se realizam em Portugal, das rendas de casa (no regime livre) às comissões e taxas bancárias, desde que não sejam no sistema de pagamento a pronto, contêm um diferencial devido ao prémio de risco associado à transacção, por receio de incumprimento contratual.
Mas o que é mais perverso em todo este esquema de incumprimentos contratuais é ser o próprio Estado administração central, autarquias locais e institutos quem se revela o devedor mais recalcitrante e incobrável, quer pelos prazos de pagamento (3 e 4 meses e, às vezes, anos), quer por, pura e simplesmente, se recusar a pagar. Nem sempre é por ter esgotado as verbas orçamentais, por erro, má afectação ou ausência de transferência. Sucede, com frequência, que as Câmaras, ou outras entidades públicas, incorrem, numa obra, em custos excessivos, por erro de projecto ou má supervisão. Neste caso, se essa verba adicional for cobrada coercivamente, através de acção judicial, é menos penalizadora para os órgãos gestores dessa entidade, que se concordarem pagá-la por mútuo acordo. Penalizadora não apenas do ponto de vista legal, como do ponto de vista de imagem pública.
Portanto, a simplificação da justiça teria que atingir, igualmente, o Estado que, em matéria de pagamento de dívidas tem dado um péssimo exemplo aos agentes económicos.
A questão que se põe é saber se a ineficiência da justiça pode ser resolvida pelos protagonistas da nossa actual classe política, visto o Estado e os advogados que constituem maioritariamente a classe política, estarem, aparentemente, interessados em manter essa situação. As declarações do Ministro da Justiça, mesmo demissionário, não prenunciam nada de bom ...
(*) Ler igualmente O Arrendamento Urbano
Publicado por Joana às 08:52 PM | Comentários (24) | TrackBack
maio 13, 2004
O Espectro da Destruição do Estado Social
Um espectro assombra a Europa o espectro da Destruição do Estado Social. Todas as forças sociais da velha Europa se aliaram numa sagrada caçada a esse espectro: as oposições de esquerda em França e na Itália, a oposição de direita na Alemanha, socialistas e radicais portugueses e os sindicatos ... todos.
Onde está o partido no governo que não tivesse sido desacreditado pelos seus adversários (oposição e sindicatos) sob o anátema de preparar a destruição do Estado Social ? Onde está o partido da oposição que não tivesse sido desacreditado por outros partidos oposicionistas e pelos sindicatos como estando conluiado nesse fim iníquo?
O Estado Social tornou-se um espectro que assombra os políticos que quando na oposição vivem no pesadelo da sua destruição, e que, quando governo, vivem no pesadelo de não saberem como pagá-lo.
A invocação do Estado Social tornou-se uma vaca sagrada do pensamento político de um importante segmento da esquerda. Acredita na virtude imaterial do espírito da solidariedade social que permitiria conceder reformas a todos aos 60 anos e sustentar desafogadamente todos os milhões de reformados; que permitiria que todos os estudantes se matriculassem gratuitamente no ensino superior, estudando o que entendessem pelo tempo que lhes apetecesse; que permitiria que todos tivessem acesso gratuito, sem excepções nem restrições, à saúde, justiça, etc.. E o que há de imaterial nesta ficção do espírito da solidariedade social é que a sua gratuitidade e a sua generosidade são fictícias. Alguém tem que pagar.
Mas a questão não é só a de alguém ter que pagar o Estado português sempre descobriu filantropos malgré eux. A questão é a repercussão dessa punção no rendimento nacional no desenvolvimento económico.
Vejamos o caso português. Nos últimos vinte anos a nossa economia cresceu 80%; as arrecadações fiscais, 155%; a despesa total, 170%; os salários, as pensões e os subsídios, 209% (números de Medina Carreira). O peso das despesas públicas subiu assim mais de 50% entre 1980 e 2000 (30,9% do PIB em 1980 e 46,6% em 2000), com o crescimento económico sempre em desaceleração (7,5% em média anual nos anos 60, 4,5% nos anos 80, 2,7% nos 90 e, provavelmente, não mais que 1,5% entre 2000 e 2010). Entre 1980 e 2000 a carga fiscal portuguesa aproximou-se muito da média da UE dos 15. O número de funcionários públicos e de pensionistas (SS+CGA) era de 560.000 funcionários e 1.780.000 pensionistas, em 1980 e cresceu para 747.000 funcionários e 2.907.000 pensionistas, em 2000. Nesse período a população terá crescido entre 5% a 10%.
Os números actuais do peso do Estado no PIB são similares aos da Europa desenvolvida. As prestações sociais é que não têm comparação. O modelo do nosso Estado Social é comparável ao da Europa desenvolvida pelo ónus que representa para o contribuinte português. As retribuições que este recebe é que são parcas. O Estado Social português vive em autofagia.
A expansão da punção fiscal foi dupla da criação de riqueza (PIB), mas apesar do bom comportamento financeiro dos impostos, entre 1980 e 2000, regista-se um enfraquecimento acelerado da capacidade fiscal para suportar as despesas. Todos falam em combater a evasão fiscal. É óbvio que deverá ser combatida. Aliás, a evolução das arrecadações fiscais face ao PIB mostra que tem diminuído. Todavia aqueles que mais clamam contra a evasão fiscal apenas pretendem extorquir dinheiro para continuar a alimentar o monstro, o Bal Marduk desta Babilónia do extremo ocidente europeu. Não pretendem desonerar os contribuintes cumpridores.
Alguns políticos da oposição têm sugerido mezinhas neo-keynesianas. Aumento dos gastos públicos e esquecer os limites impostos pelo PEC. São eles, todavia, que se esquecem que não existe em Portugal uma oferta interna capaz de prover ao aumento da procura interna resultante do aumento do rendimento disponível induzido pelo aumento da despesa pública. A contrapartida do aumento da procura interna seria o aumento das importações e o agravamento dramático da nossa balança de transacções com o exterior. Não aumentaria apenas o défice público, mas também o défice com o exterior e o endividamento geral do país. Mesmo que não houvesse os limites impostos pelo PEC seria uma política insustentável a médio prazo e com uma heraça extremamente penalizadora.
Outros políticos da oposição nem sugerem nada. Apenas querem manter o que está e, se possível, com mais regalias. Essa esquerda pensa que o Estado Social se conquistou, se defende e defenderá com acções de rua ou com o castigo pelo voto de quem o quiser reformar. Essa esquerda esquece, ou finge esquecer, que se a economia não providenciar, de forma sustentada, fundos para alimentar o Estado Social este não funciona, ou funciona mal. Essa esquerda apenas está a alimentar falácias que, a terem apoio, nos levariam, a todos, a um impasse.
Precisamos de modernizar a economia criando condições favoráveis ao investimento, nacional ou estrangeiro, apostar na qualificação da mão de obra, quer directamente pelo Estado, quer incentivando essa qualificação nas empresas e melhorar muito o desempenho da administração pública, desburocratizando os seus procedimentos, requalificando o pessoal e implementando uma avaliação eficaz do seu desempenho.
Em simultâneo precisamos de repensar um novo modelo do Estado Social. Sem dramatismos nem demagogias. É necessário manter o Estado Social, mas não este e a funcionar da forma como está. Se não lhe introduzirmos modificações profundas as maiores vítimas serão os mais desfavorecidos da nossa geração e das gerações seguintes. Pior, seremos todos nós e de forma cada vez mais gravosa.
Publicado por Joana às 08:15 PM | Comentários (24) | TrackBack
Eles Governam, Eles Perdem
A Europa vive uma época em que não se vislumbra uma luz no fundo do túnel.
A Europa das primeiras décadas do após guerra já não existe. A Europa ocidental era então uma economia com elevado crescimento, protegida do exterior, com uma distribuição etária que permitiu implementar um bom sistema de transferências e de regalias sociais. Hoje é uma economia estagnada, sujeita a uma forte concorrência internacional, nomeadamente da parte dos países emergentes, e com uma pirâmide etária invertida que torna o universo dos beneficiários das regalias sociais muito elevado face ao universo da população activa. Isto é matéria de facto e não de ideologia.
Todavia, no velho continente, muitos continuam a defender que o desenvolvimento económico pode ter como motor o estímulo do consumo, a expansão da despesa pública e do défice, e o aumento do emprego público, em vez da implementação de estratégias de estímulo à oferta e à criação de investimento privado e ao aumento da produtividade de uma forma sustentada, o que, no caso português, por exemplo, significaria investir na qualificação dos nossos recursos humanos, simplificar e desburocratizar a justiça e a administração pública, modernizar a administração fiscal, e tornar a nossa fiscalidade mais adequada ao investimento e à competitividade.
Portanto, uma economia que aposte nas exportações e na substituição das importações. Uma economia onde a alta competitividade seja decisiva.
Ou seja, a luta entre aqueles querem conservar e aqueles que pretendem mudar. As preferências próximas das sociedades europeias irão condicionar o futuro das próximas gerações. Ora as pugnas políticas e eleitorais na Europa, e particularmente em Portugal, têm sido conduzidas sob o signo do obscurecimento das realidades económicas, prometendo-se a manutenção e o reforço de regalias para as quais não há dinheiro para sustentar, ou que, se se tentasse sustentar mediante o agravamento da fiscalidade e o aumento dos défices, levaria à diminuição da competitividade externa e à bancarrota a médio prazo.
A notória inadequação do funcionamento do nosso Estado social à evolução económica e demográfica das últimas duas décadas pode torná-lo a grande vítima da inércia e da falta de visão de muitos responsáveis políticos. Neste clima político de insensatez e de demagogia delirante é de temer o pior. Na Europa, nos últimos anos, tem-se assistido a tímidas tentativas de reforma por parte dos governos, contestadas com a truculência mais veemente pelos sindicatos e oposições, seguidas das derrotas eleitorais desses mesmos governos e a retoma do mesmo cenário, mas com protagonistas trocados, excepto um deles, os sindicatos, sempre na mais feroz oposição. E isto não tem a ver com uma questão de opção partidária acontece com a direita em França e com a esquerda na Alemanha, está a acontecer com a direita em Portugal e acontecerá com a esquerda, se esta ganhar as próximas eleições.
É por isso que Eles Governam, Eles Perdem, porque mentir ... mentem todos: uns prometendo o que sabem que não poderão cumprir e com quimeras que sabem ser ilusórias, outros mentem quando, ao fazer reformas que não são nem carne, nem peixe, mentem a uns dizendo que são peixe e a outros dizendo que são carne.
Publicado por Joana às 07:53 PM | Comentários (26) | TrackBack
abril 07, 2004
Crise da Democracia ou Crise da Velha Europa?
A polémica sobre o recente livro de Saramago, e as suas declarações públicas, levantou a questão do valor e da legitimidade da democracia representativa. Não vou abordar aqui as raízes totalitárias em que normalmente se filiam as dúvidas que se levantam sobre esse valor e essa legitimidade. E não vou abordar porque considero redutor reduzir essas dúvidas a uma perversão totalitária. Essa perversão pode existir em quem questiona essa legitimidade, existe certamente nas consequências que a ilegitimação da democracia representativa normalmente acarreta, mas não existirá na generalidade das pessoas que possam aderir a esse conceito.
Há uma crise no nosso sistema político. As expectativas criadas pelo estabelecimento do modelo social europeu, e os seus desenvolvimentos subsequentes, estão a ser postergadas pela evolução de um conjunto de variáveis declínio demográfico, emergência dos «Novos Países Industrializados», etc. e pela incapacidade da classe política de adoptar uma estratégia capaz, coerente e constante, e conseguir explicá-la e obter a adesão das populações. Esta crise não tem directamente a ver com a Direita, o Centro ou a Esquerda. Existe em França, com um governo de direita e existe na Alemanha com um governo de esquerda.
Os governos da maioria dos estados europeus não conseguem gerir satisfatoriamente as respectivas economias, não conseguem reformar, de forma satisfatória e sustentada, o Estado Social, e não conseguem compaginar as necessidades de um e de outro e, perante o desconforto que sentem pela dificuldade das medidas, protelam-nas, titubeiam, tomam meias medidas incoerentes e causam danos a ambos sem resolverem os respectivos problemas.
Rosas assegura que a Europa está em crise, uma crise drasticamente agravada pela lógica essencial da globalização capitalista. Esta afirmação, aplicada à Europa, é um perfeito disparate. Quanto mais uma economia é desenvolvida, mais globalização lhe é benéfica. O mercado aproveita aos mais aptos. Por isso, os países mais avançados na lógica do mercado criaram, para a sua população, mecanismos de transferências sociais e instrumentos reguladores para compensarem as assimetrias introduzidas pelo funcionamento do mercado. Como no mercado internacional esses mecanismos não existem, são incipientes ou pontuais, os países mais pobres podem ver a sua balança de trocas com o exterior degradada e empobrecerem ainda mais. Mas a Europa (como um todo) não.
Outra tese do radicalismo de esquerda é a da existência de uma alegada «tensão autoritária e centralista contraditória com a democracia política e que está, paulatinamente, a esvaziá-la de conteúdo, a transformá-la numa burocracia ritualizada, cada vez mais distante dos cidadãos e com menos poder real, que pretende a destruição de mais de um século de conquistas sociais do mundo do trabalho». Essa «tensão autoritária» seria a tentativa dos governos democraticamente eleitos (de esquerda ou de direita) conseguirem reformular o modelo social de forma a adequá-lo às novas situações.
Porém, nunca como hoje, nas nossas sociedades, os cidadãos tiveram tantas possibilidades de participarem na vida pública. A difusão dos meios de comunicação aumenta incessantemente, as pessoas exprimem as suas opiniões em cada vez mais diversificados meios públicos (por exemplo, na net, fóruns, blogs, etc.). Basta ver como as manifestações em Espanha, na noite da véspera eleitoral foram convocadas pela net e telemóveis. Portanto, nunca, como hoje, o autoritarismo teve tão poucas possibilidades de se exercer. E os resultados das eleições espanholas são disso o exemplo mais recente e flagrante.
O problema do Rosas, Saramago, e de outros radicais de esquerda é que, nas urnas, as pessoas, maioritariamente, não têm escolhas idênticas às suas e que os governos não mudam de opinião ao acaso das manifestações de rua. São essas as «tensões autoritárias».
Portanto, a crise do nosso sistema político não tem a ver com «tensões autoritárias», nem com a globalização, nem com uma alegada conspiração para destruir as «conquistas sociais do mundo do trabalho». Tem a ver com a previsível falência do nosso modelo social (ou de toda a economia) que os políticos, quando na oposição, pretendem afincadamente defender, para angariarem votos, e, quando no governo, tentam desesperadamente reformar para evitar a bancarrota.
E tem a ver, e muito, com a falta de líderes capazes de mobilizarem as pessoas para essas reformas. É fácil, e dá dividendos políticos no imediato, distribuir dinheiro. É difícil, face a uma situação complicada e a previsões que apontam para a bancarrota, dizer as verdades, congeminar medidas eficazes e adequadas, e saber obter a adesão das pessoas .
Francamente não estou a ver, na Europa actual, um líder político, no dia do voto de confiança na sede da representação nacional, declarar «Não tenho nada para vos oferecer senão sangue, trabalho insano, lágrimas e suor» ("I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."). Infelizmente também não vejo qualquer motivação quer da restante classe política, quer da população em geral em dar esse voto de confiança sem reservas mentais.
Também não estou a ver qualquer saída para a crise política actual. Esperemos que ela não surja apenas em desespero de causa, com custos muito superiores ao de soluções planeadas com tempo e discernimento.
Não há crise da democracia. Há uma crise da Europa que chegou ao fim de um ciclo e não atina com um novo modelo para encetar um novo ciclo. A Europa tornou-se numa «tia» de meia idade, ainda próspera, mas avessa a qualquer risco, e que vai deixando as suas economias serem corroídas pela inacção, por essa aversão ao risco.
Publicado por Joana às 11:30 PM | Comentários (19) | TrackBack
abril 02, 2004
As barbas de molho
As eleições francesas, como as eleições parciais que tem havido na Alemanha, deveriam constituir matéria de reflexão para a actual coligação no poder em Portugal. E igualmente as eleições espanholas, embora o seu enquadramento tenha sido diferente e houvesse factores exógenos que não terão sido despiciendos nas escolhas do eleitorado.
O modelo social europeu está em crise. Mesmo nos países em que a administração pública tem um nível apreciável de eficiência, esse sistema social está financeiramente em falência.
Há diversas razões para que tal aconteça e não me vou alongar sobre cada uma delas, visto constituírem matéria para uma debate bastante extenso. Sumariamente dir-se-á que o modelo foi criado numa época em que a pirâmide etária e a relação entre a população activa e a reformada permitia que as contribuições da primeira subsidiassem as reformas da segunda mais as prestações relativas à maternidade e à educação dos jovens, isto para além de outras transferências sociais vultuosas: saúde, defesa, justiça, etc..
Nas últimas décadas tem havido uma modificação progressiva das proporções entre os diversos segmentos etários e as previsões indicam que a situação se continuará a agravar: cada vez a percentagem dos contribuintes será menor no contexto da população total. Por outro lado, não é possível aumentar as contribuições de quem trabalha, e das empresas, mais que um certo limiar, pois o Estado-Providência já obriga a uma fiscalidade elevada.
Ora sucede que cada vez mais a Europa concorre com os «tigres» asiáticos, com encargos sociais muito reduzidos ou nulos e com baixo nível de fiscalidade. A própria juventude dessa população ajuda a baixar esses níveis de transferências sociais, já de si reduzidos. Concorrendo com empresas com custos muito menores, as empresas europeias perdem competitividade
Como é possível lutar contra essa situação? Uma das formas é aumentar a produtividade. E, neste caso, esse aumento terá que passar por produzir bens ou serviços com elevado valor acrescentado e cuja concorrência se faça mais pela qualidade do que pelo preço. A Europa tem que apostar na inovação tecnológica e na diferenciação dos bens e serviços.
Mas esse eixo de luta não é suficiente, pelo menos a curto prazo. Passa pela iniciativa privada, por incentivos do Estado para a motivar e pela melhoria do sistema educativo, nomeadamente o ensino profissional e a investigação. Os seus resultados, admitindo que essa política seja conduzida de forma eficiente, só se irá traduzir em resultados palpáveis a médio e a longo prazo.
O outro eixo de luta é a reforma do Estado-Providência. Em primeiro lugar torná-lo mais eficiente. Durante anos curou-se de debater a justiça da gratuitidade da prestação de serviços públicos, descuidando quer a eficiência desses serviços - a sua relação qualidade-preço quer o facto de que eles são na realidade pagos através das nossas contribuições, quer ainda a sua insuficiência em matérias como a pobreza e exclusão social.
Tomemos o caso da Educação. As despesas públicas em educação em Portugal (5,7% do PIB) superam a média europeia (5%) e estão muito próximas, por exemplo, da Finlândia (6%), um dos países com melhores níveis de desempenho em todos os indicadores. Mas quando se fala na política de educação e da necessidade de melhorar os seus resultados, quer relativamente a este governo, quer a outro qualquer, é mais dinheiro que se exige. E, todavia, Portugal consegue ser o país que mais gasta com a educação e pior desempenho tem neste domínio.
E o mesmo sucede noutras áreas da administração pública, nomeadamente na saúde, talvez o maior sorvedouro do dinheiro que nós, contribuintes, entregamos ao Estado. Também aqui o dinheiro que se gasta não tem qualquer comparação com a qualidade do serviço que é retribuído aos utentes. E quando se propõe qualquer reforma no intuito de tornar o seu desempenho mais eficiente aparece, demagogicamente, o fantasma do «serviço público», como se serviço público fosse sinónimo de gastar sem peso, conta e medida.
Outra reforma que dificilmente deixará de ter que se fazer, a menos que o declínio demográfico se inverta e a imigração supra algumas das carências, é a do prolongamento do período de vida útil. Na Europa central este assunto está na ordem do dia e tem sido objecto de protestos maciços. Em Portugal, onde a situação demográfica não é tão grave (embora a maior ineficiência da máquina estatal a torne financeiramente quase tão grave) tem-se ensaiado timidamente alguns passos.
Portanto, a questão da reforma da administração pública é urgente e inadiável. Aqui, porém, entramos num domínio difícil, que os políticos e os sindicatos têm preferido ignorar, mesmo quando - ou até sobretudo quando a discutem.
A deterioração da imagem do serviço público, ligada à lentidão e à ineficiência exige que a reforma do Estado se centre em três pontos fulcrais: a busca permanente do aumento de eficiência da máquina pública, por intermédio da racionalização e do incremento da produtividade; a melhoria continuada da qualidade na prestação dos serviços públicos, visando atender aos requisitos da sociedade no que diz respeito à satisfação das suas necessidades sociais básicas e o resgate do serviço público como instrumento de expressão da cidadania e fórum de aprendizado social.
Todavia tem que se ter em conta que a obrigação de obter resultados eficientes na modernização do sector público necessita que os responsáveis pelas diversas unidades deste sector se tornem protagonistas relevantes dessa mudança. Ora a burocracia estatal e autárquica estabelece uma relação de interdependência com os demais grupos da sociedade. Essa interdependência é frequentemente caracterizada como clientelismo. Mas o desenvolvimento dessas relações é contraditório e conflituoso, pois o poder não se exerce de forma monolítica, apresentando clivagens que consolidam diferentes interesses, embora sejam sempre apresentados como interesse público.
Portanto, a modernização do aparelho do Estado deve contemplar a mudança no entendimento do significado do interesse público que não pode ser confundido com o interesse do próprio Estado, ou dos interesses corporativos dos grupos no interior desse aparelho.
Torna-se então claramente perceptível o estreito vínculo que existe entre o processo de modernização do aparelho do Estado e uma gestão inovadora dos recursos humanos desse mesmo Estado. A mudança da cultura burocrática é o fulcro da transformação, e a questão da qualificação profissional ganha então um novo significado. A valorização do funcionário representa a base do processo de construção colectiva do novo paradigma orientado para o cidadão e realizado pelo conjunto do funcionalismo de forma participativa. Isto não significa, necessariamente, mudar sistemas, organizações e legislação, mas sim criar as condições objectivas de desenvolvimento das pessoas que conduzirão e realizarão as reformas.
Para tanto, necessita-se requalificar a força de trabalho. É preciso que a nova estrutura se apoie no conhecimento humano. Assim, os trabalhadores devem ser capazes de mudar o seu enfoque de uma tarefa para outra de acordo com as prioridades e com as mudanças impostas exogenamente. Precisam habituar-se à mobilidade laboral, quer ao nível das tarefas, quer ao nível do local. Por isso, um dos aspectos mais importantes para o alcance de um bom nível de eficiência, é a questão da qualificação dos membros da organização. Essa qualificação permite que as pessoas enfrentem, de forma menos traumática, os desafios profissionais.
Cabe ainda salientar que esse processo de mudança não deve ser visto como a busca por um modelo definitivo, mas a procura de uma forma de estrutura organizacional menos rígida, mais ágil, constantemente adaptável a modificações contínuas.
Portanto, a reforma do aparelho do Estado passa pela adesão dos funcionários a essa reforma e por eles sentirem a sua necessidade em face dos anseios da sociedade civil. Não pode ser posta como uma política contra eles, mas sim com eles.
É óbvio que numa reforma da administração pública haverá gente que terá que ser reafectada a outras tarefas e, eventualmente, dispensada. Mas este último caso será a excepção. Uma organização deve reestruturar-se e reorganizar-se com as pessoas que tem. Criar uma organização com seres ideais entra no domínio da ficção. Deve gerir-se o material humano que se dispõe e não seres ideais, perfeitos e inexistentes.
Nada disto está a ser feito ou sequer planeado, ao que julgo saber, em Portugal. O Governo, em face da situação lamentável que encontrou, está apenas a atacar alguns sintomas. A administração é dispendiosa? Congelam-se os vencimentos e as admissões. E fazem-se declarações ad terrorem que servem para lançar o pânico no funcionalismo público, mas não têm qualquer efeito positivo. Pelo contrário, declarações desse tipo têm normalmente como consequência uma diminuição de produtividade.
E têm outra consequência: o governo não reforma a administração pública, não implementa medidas que, em alguns segmentos, seriam impopulares, mas fica com o ónus de algo que não fez, mas apenas ameaçou. O governo continua a não conseguir controlar a despesa pública, mas fica com o ónus do congelamento salarial. Este governo pode muito bem vir a ter uma punição idêntica ao governo de Raffarin, em França. E se a tiver terá que se culpar, em primeiro lugar, a si próprio.
Poderá alegar que a oposição tem sido demagógica. Mas essa é, frequentemente, a política da oposição. Por isso é que o governo deveria ter agido com competência e determinação, reformando e explicando a necessidade e o alcance das reformas.
É claro que as reformas terão que ser feitas e quanto mais tarde o forem, mais custosas serão e mais sacrifícios exigirão. E têm que ser feitas porque ao estarmos no sistema monetário europeu temos que cumprir, obrigatoriamente certas regras. Não podemos usar a política monetária e a desvalorização cambial para diminuir a despesa real, como acontecia antigamente.
Se não for este governo que as faça, o próximo será obrigado a fazê-las. Se o não conseguir, será o que lhe suceder. Entretanto o país estagnará economicamente e chegará a um limiar em que o eleitorado deixará de se iludir com promessas de vida fácil e resignar-se-á à inevitabilidade das reformas.
Publicado por Joana às 07:48 PM | Comentários (16) | TrackBack
janeiro 16, 2004
Uma sugestão curiosa
O administrador financeiro da Jerónimo Martins aconselhou o Estado a seguir o exemplo daquele grupo, relativamente à estratégia para a redução de dívida e abandono das actividades não estratégicas, assegurando que, por essa via, a Jerónimo Martins alcançou as metas propostas ao mercado, superando as expectativas dos investidores.
Na opinião deste imaginativo gestor, o Estado deveria assumir com «obsessão» a redução da dívida e do défice orçamental, recorrendo a «alguns sacrifícios», tal como aconteceu na Jerónimo Martins, e também abandonar as actividades não core (nucleares). Com estes objectivos de fundo, o Estado saneava as suas contas, à semelhança da JM. Desde 2001, a JM vendeu 24 companhias e oito negócios, na sua maioria que não faziam parte do «core business», ou que num horizonte de três anos não criavam valor.
O problema com o Estado português é saber quais as actividades que fazem parte do seu «core business»;
O problema com o Estado português é que as actividades que desenvolve, quer façam ou não parte do seu «core business», não criam valor.
Porém há um dado importante adiantado pelo administrador financeiro da JM: embora a maioria das companhias e negócios vendidos não fizesse parte do seu «core business», subentende-se que algumas fariam.
Logo o Estado, se pretender seguir aqueles conselhos, escusa de se preocupar com as minudências do “ser ou não ser” do «core business».
Por exemplo:
1 – o Governo Regional da Madeira e as suas instâncias, a fossa orçamental do Atlântico – são ou não são «core business»? Não interessa: vendem-se.
2 – as autarquias locais, o maior sorvedouro de dinheiro do país – são ou não são «core business»? Não interessa: vendem-se.
3 – os Hospitais Públicos que não conseguem controlar a despesa em consumíveis e equipamentos e o absentismo dos seus colaboradores – são ou não são «core business»? Não interessa: vendem-se.
4 – as Universidades públicas onde os docentes pensam que a autonomia universitária serve para os contribuintes pagarem a factura e não pedirem explicações sobre o seu funcionamento – são ou não são «core business»? Não interessa: vendem-se.
5 – as escolas do ensino básico e secundário, onde parte dos professores tem horário zero, o ensino é medíocre e os currículos são experiências que os especialistas laboratoriais do ministério andam a fazer na convicção que os alunos são cobaias – são ou não são «core business»? Não interessa: vendem-se. E atenção ... como bónus, na aquisição deste pacote, o adquirente pode levar o Ministério, com todo o pessoal, as DRE’s e todos os restantes organismos dependentes dele.
6 – as instâncias do poder judicial que quando não apanham os poderosos, é porque há apenas justiça selectiva, e que quando os apanham, é porque têm poder excessivo e o usam discricionariamente – são ou não são «core business»? Não interessa, são um elemento de perturbação da opinião pública: vendem-se! O bónus na aquisição deste pacote é a posse de todos os estabelecimentos prisionais e institutos de reinserção. Se alguém conseguir encontrar a ministra, esta será evidentemente incluída no pacote.
7 – o Ambiente, dependente de um ministro que, conforme o lado para onde o viram, afirma que vai chutar ... mas nunca chuta. O Ambiente é ou não é «core business»? Não interessa: vende-se. Com a vantagem que se obtém, como sub-produto, a extinção de algumas organizações ambientalistas que deixam de conseguir angariar estudos e pareceres, através da ameaça da sua força mediática poder lançar o pânico na opinião pública.
8 – as Forças Armadas, que quando se fala em dotação orçamental para o seu equipamento, nos perguntamos porquê despender aquele dinheiro e que, quando são necessárias, zombamos da sua penúria – são ou não são «core business»? Não interessa, para nós não são: vendem-se. Com a vantagem de que se o ministro estiver incluído no pacote, lá se vai o «core business» do Expresso.
9 – as instituições culturais? Obviamente não são do «core business». A população tem um elevado analfabetismo funcional e os agentes culturais só produzem para eles próprios, em circuito fechado. É vender tudo. Tudo ... bem ... tudo talvez não seja possível, porque o ministro desapareceu após a tomada de posse.
10 – A AR será «core business»? Não interessa, faz leis, mas só os ingénuos cumprem as leis, ninguém fiscaliza o seu cumprimento e ao fim de poucos meses caiem em desuso: vende-se! O PR, que nem é «core», nem «business», nem nada ... obviamente vende-se ou dá-se, nem que seja como contrapeso. O governo? Bem, o governo depois deste leilão monumental ficou sem objecto. Vende-se!
11 – as Finanças deixaram entretanto de serem necessárias. A questão de serem ou não «core business» passou a irrelevante. Está tudo vendido, não precisamos de receitas para despesas inexistentes – é vender urgentemente e, se não houver licitante, que se faça uma doação a alguma instituição de caridade.
A estratégia está traçada. Resta nomear a comissão liquidatária e um bom pregoeiro para animar o leilão!
Publicado por Joana às 09:36 PM | Comentários (20) | TrackBack