janeiro 17, 2006
A Catástrofe
Mas de que vale agora pensar no que se podia ter feito!.. O nosso grande mal foi o abatimento, a inércia em que tinham caído as almas! Houve ainda algum tempo em que se atribuiu todo o mal ao Governo! Acusação grotesca que ninguém hoje ousaria repetir.
Os Governos! Podiam ter criado, é certo, mais artilharia, mais ambulâncias; mas o que eles não podiam criar era uma alma enérgica ao País! Tínhamos caído numa indiferença, num cepticismo imbecil, num desdém de toda a ideia, numa repugnância de todo o esforço, numa anulação de toda a vontade... Estávamos caquéticos!
O Governo, a Constituição, a própria Carta tão escarnecida, dera-nos tudo o que nos podia dar: uma liberdade ampla. Era ao abrigo dessa liberdade que a Pátria, a massa dos portugueses tinha o dever de tornar o seu País próspero, vivo, forte, digno da independência. O Governo! O País esperava dele aquilo que devia tirar de si mesmo, pedindo ao Governo que fizesse tudo o que lhe competia a ele mesmo fazer!... Queria que o Governo lhe arroteasse as terras, que o Governo criasse a sua indústria, que o Governo escrevesse os seus livros, que o Governo alimentasse os seus filhos, que o Governo erguesse os seus edifícios, que o Governo lhe desse a ideia do seu Deus!
Sempre o Governo! O Governo devia ser o agricultor, o industrial, o comerciante, o filósofo, o sacerdote, o pintor, o arquitecto tudo! Quando um país abdica assim nas mãos dum governo toda a sua iniciativa, e cruza os braços esperando que a civilização lhe cai feita das secretarias, como a luz lhe vem do Sol, esse país está mal: as almas perdem o vigor, os braços perdem o hábito do trabalho, a consciência perde a regra, o cérebro perde a acção. E como o governo lá está para fazer tudo o país estira-se ao sol e acomoda-se para dormir. Mas, quando acorda é como nós acordámos com uma sentinela estrangeira à porta do Arsenal!
Ah! Se nós tivéssemos sabido!
Mas sabemos agora! Esta cidade, hoje, parece outra. Já não é aquela multidão abatida e fúnebre, apinhada no Rossio, nas vésperas da catástrofe. Hoje, vê-se nas atitudes, nos modos, uma decisão. Cada olhar brilha dum fogo contido, mas valente; e os peitos levantam-se como se verdadeiramente contivessem um coração! Já não se vê pela cidade aquela vadiagem torpe: cada um tem a ocupação dum alto dever a cumprir.
As mulheres parecem ter sentido a sua responsabilidade, e são mães, porque têm o dever de preparar cidadãos. Agora trabalhamos. Agora, lemos a nossa história, e as próprias fachadas das casas já não têm aquela feição estúpida de faces sem ideias, porque, agora, por trás da cada vidraça, se pressente uma família unida, organizando-se fortemente.
Por mim, todos os dias levo os meus filhos à janela, tomo-os sobre os joelhos e mostro-lhes a SENTINELA! Mostro-lha, passeando devagar, de guarita em guarita, na sombra que faz o edifício ao cálido sol de Julho e embebo-os do horror, do ódio daquele soldado estrangeiro...
Conto-lhes então os detalhes da invasão, as desgraças, os episódios temerosos, os capítulos sanguinolentos da sinistra história... Depois aponto-lhes o futuro e faço-lhes desejar ardentemente o dia em que, desta casa que habitam, desta janela, vejam, sobre a terra de Portugal, passear outra vez uma sentinela portuguesa! E, para isso, mostro-lhes o caminho seguro aquele que nós devíamos ter seguido: trabalhar, crer, e, sendo pequenos pelo território, sermos grandes pela actividade, pela liberdade, pela ciência, pela coragem, pela força de alma... E acostumo-os a amar a Pátria, em vez de a desprezarem, como nós fizéramos outrora.
Como me lembro! íamos para os cafés, para o Grémio, traçar a perna, e entre duas fumaças, dizer indolentemente:
Isto é uma choldra! Isto está perdido! Isto está aqui, está nas mãos dos outros!...
E em lugar de nos esforçarmos por salvar "isto" pedíamos mais conhaque e partíamos para o lupanar.
Ah! geração covarde, foste bem castigada!...
Mas agora, esta geração nova é doutra gente. Esta já não diz que "isto" está perdido: cala-se e espera; se não está animada, está concentrada...
E depois, nem tudo são tristezas: também temos as nossas festas! E para festa, tudo nos serve: o 1º de Dezembro, a outorga da Carta, o 24 de Julho, qualquer coisa, contando que celebre uma data nacional. Não em público ainda o não podemos fazer mas cada um na sua casa, à sua mesa. Nesses dias colocam-se mais flores nos vasos, decora-se o lustre com verduras, põe se em evidência a linda velha Bandeira, as Quinas de que sorríamos e que hoje nos enternecem e depois, todos em família cantamos em surdina, para não cha mar a atenção dos espias, o velho hino, o Hino da Carta... E faz-se uma grande saúde a um futuro melhor!
E há uma consolação, uma alegria íntima, em pensar que à mesma hora, por quase todos os prédios da cidade, a geração que se prepara está celebrando, no mistério das suas salas, dum mundo quase religioso, as antigas festas da Pátria!
.......................................................................................
Não não fui eu que escrevi isto A Carta já passou à história e a Constituição de 1976 também passará trata-se da transcrição da parte final de um belíssimo e notável texto do Eça, «A Catástrofe», muito apropriado a esta problemática, publicado no fim do «Conde dAbranhos»
Publicado por Joana às 11:40 PM | Comentários (15) | TrackBack
dezembro 01, 2005
1 de Dezembro
Em épocas de descrença é bom avivar este feriado, misteriosamente esquecido. Eram quarenta. As guarnições espanholas, só na zona de Lisboa e fortes adjacentes, eram mais de 6 mil homens, fora as guarnições das praças fortes do resto do Reino. Não tínhamos soldados, nem canhões. As nossas diminutas forças militares estavam na Catalunha e noutras zonas da Europa, sob comando espanhol. As forças espanholas estacionadas em Portugal estavam fortemente armadas e no Tejo, defronte da Boa Vista, perto do Paço da Ribeira, estava ancorada uma frota de três poderosos galeões espanhóis bem armados. E eram apenas quarenta.
E com apenas esses quarenta e a adesão popular que se seguiu, os fortes guarnecidos por espanhóis capitularam um após outro, os galeões inimigos foram capturados, quase uma dezena de milhar de soldados ocupantes foi ou aprisionada ou fugiu do país, muitos milhares de mosquetes e centenas de canhões foram apreendidos pelos conjurados, que apenas tinham as armas de defesa pessoal, e pelos que os secundaram, que apenas tinham as suas mãos e uma férrea vontade de vencer.
À medida que mensageiros chegavam às as cidades e vilas do Reino, D. João IV era aclamado como novo Rei de Portugal. Em 5 dias todas as cidades e vilas haviam reconhecido o novo rei. Todos os nossos domínios coloniais de então (com excepção de Ceuta) desde Tânger a Timor, passando pelo Brasil, Áfricas e Índia, reconheceram o novo regime logo que o navio que trazia a notícia da Revolução de Lisboa, arribava a cada terra (com excepção de Macau onde a bandeira das quinas flutuou sempre, durante esses 60 anos). Os oficiais e soldados portugueses, que serviam na Catalunha e noutros sítios, desapareciam sem as chefias espanholas saberem como e voltavam a reaparecer em terras lusas.
Quando D. João IV entrou em Lisboa a 6 de Dezembro, já todo o país o tinha aclamado Rei.
O Milagre de Lisboa, como muitos o chamaram, espantou a Europa e muitos historiadores se debruçaram sobre ele. Citei aqui, há dois anos, Vertot: Provavelmente nunca se viu na história outra conjura que, como esta, ... que tenha sido confiada a um tão grande número de pessoas de todas as idades, de ambos os sexos, de todas as condições e de um temperamento tão fogoso, e por consequência tão pouco apropriadas ao segredo; ... que ... tenha tido um sucesso tão completo e que tenha custado tão pouco sangue ... um segredo confiado a toda uma nação, que não transpirou em nenhum círculo, e a sua execução, que inúmeros acidentes poderiam ter feito parar, foi um êxito completo e imediato. E o êxito do golpe em Lisboa alastrou em menos de uma semana a todo o território e, com a rapidez com que as notícias chegavam, a todas as colónias da coroa portuguesa
A seguir o frontispício do Portugal Restaurado, do Conde da Ericeira (1632-1690), 2ª Edição. Foi publicado em 4 volumes e é a obra mais importante sobre a Restauração, desde a conjura, até ao fim da guerra em 1668.
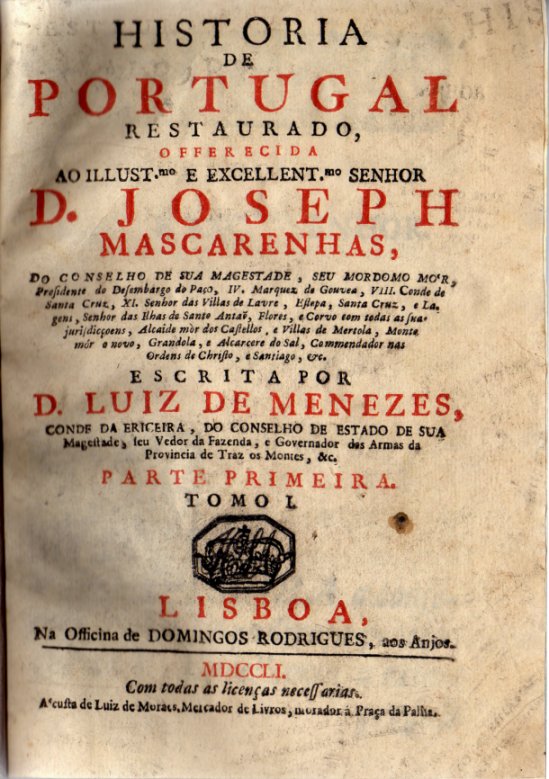
Publicado por Joana às 12:09 AM | Comentários (100) | TrackBack
outubro 05, 2005
5 de Outubro
Hoje a república faz 95 anos. A história não tem um julgamento consensual sobre a 1ª República. O regime caiu em 1926, na lama mais abjecta, odiado por quase toda a sociedade. Todavia, a luta ideológica contra a ditadura salazarista levou à falsificação da história, na tentativa de branquear aquele regime cuja pretensa ética (??) e democracia (??) serviriam de contraponto ao regime salazarista. O actual distanciamento permite uma visão mais equilibrada dos acontecimentos. Quem estiver interessado pode ler os meus posts:
5 de Outubro As Origens
5 de Outubro O Ultimato
5 de Outubro de 1910
5 de Outubro Monarquia sem monárquicos
Publicado por Joana às 12:56 PM | Comentários (56) | TrackBack
setembro 12, 2005
Tratado de Alcanices
Faz hoje 708 anos que foi assinado o tratado de Alcanices entre o rei de Leão e Castela, Fernando IV (1295-1312) e o rei de Portugal, D. Dinis (1279-1325), na povoação leonesa de Alcañices, perto da fronteira portuguesa, fixando limites fronteiriços entre ambos os reinos e delimitando a fronteira mais antiga da Europa (ver adiante a cópia do tratado).
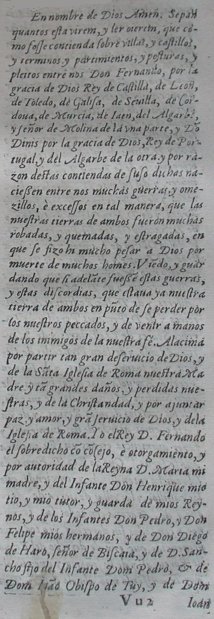
O Tratado de Alcanices consagrou as fronteiras portuguesas que duram até à actualidade (se exceptuarmos a questão de Olivença). São as fronteiras mais antigas da Europa. Todas as terras de Ribacoa tomadas por D. Dinis passavam para a posse portuguesa, assim como Campo Maior, Ouguela e a margem esquerda do Guadiana (Moura, Serpa, Olivença, etc.). Em contrapartida, D. Dinis renunciou às pretensões que tinha sobre Valência de Alcântara e sobre a faixa de Aracena a Aiamonte.
Foi um tratado bastante favorável para Portugal, só possível pela supremacia política que D. Dinis tinha granjeado nas Hespanhas de então, aparecendo como árbitro entre a regente de Leão e Castela, Maria de Molina (Fernando IV era menor) e diversos pretendentes à coroa, apoiados pelo rei de Aragão. Foi um árbitro bastante interventor, pois enquanto dialogava e arbitrava, ia tomando diversas praças importantes. A política de Maria de Molina, como escreveram os historiadores espanhóis foi apartar de la alianza con los rebeldes al rey de Portugal, no obstante las continuas infidelidades de éste que sólo procuraba ir ganando vilas para sí.
D. Dinis resolveu desistir de tentar adquirir territórios mais vastos, como Salamanca, Tordesilhas, Simancas e Valhadolid, que poderiam conduzir a uma reviravolta da situação e preferiu assinar um tratado que lhe era, mesmo assim, bastante favorável, atendendo à situação anterior. Preferiu consolidar uma situação que aventurar-se por anexações territoriais muito extensas que poderiam revelar-se de difícil sustentação.
O futuro imediato mostrou que D. Dinis poderia ter sido mais audaz. Fernando IV tinha 11 anos à data da assinatura do tratado e passou a sua curta vida em luta pela manutenção do seu trono, numa grande instabilidade política. Todavia a história de uma nação não se faz no horizonte de uma ou duas décadas, com políticas de curto prazo. O Tratado de Alcanices era sólido, como se provou pela sua perenidade.
Nota: Embora na fórmula de encerramento seja informada a datação como Era de mil trezentos trinta e cinco annos (ver última cópia abaixo), tal significa que essa data é referida ao calendário juliano, vigente àquela época nas Hespanhas.
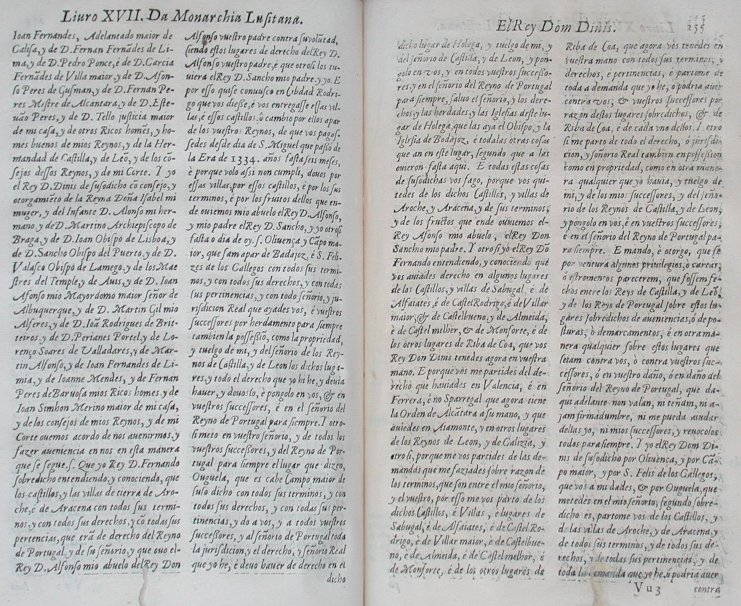
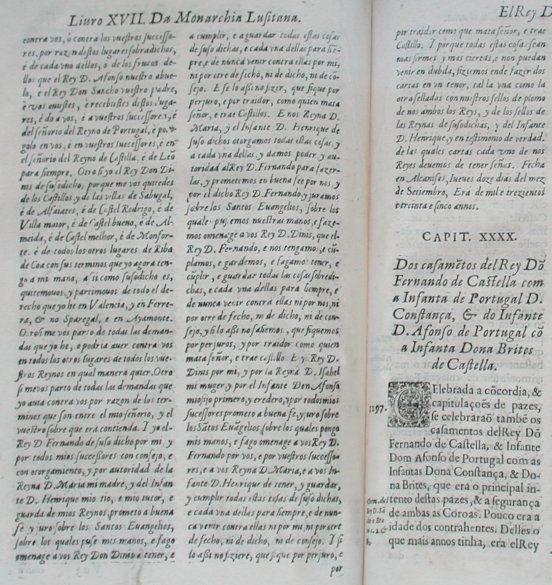
Publicado por Joana às 06:41 PM | Comentários (22) | TrackBack
julho 24, 2005
Autos-Da-Fé
A notícia caiu como uma bomba. Por muitas e diversas razões que direi adiante. Não que a Esquerda Totalitária não tivesse perpetrado actos destes noutras paragens. Não que houvesse qualquer diferença entre os métodos da Esquerda Totalitária e da Direita Nazi-fascista, excepto no facto da primeira aplicar esses métodos com total hipocrisia e sob a capa das virtudes públicas. Nada disso. Sucede que as pessoas que promoveram estes autos-da-fé, se exceptuarmos Rogério Fernandes, então do PCP, eram gente da área do socialismo democrático.
Para além dos manuais do ensino estavam incluídos, nessa lista de material combustível, livros ou páginas a arrancar (!!) de livros de escritores como Ana Hatherly, José Régio, Urbano Tavares Rodrigues(?!), Tomás Ribas, Vitorino Nemésio, Barrilaro Ruas, Esther de Lemos (escrever com th é obviamente reaccionário), Calvet de Magalhães e Maria de Lurdes Belchior(!?). Estavam livros de Hermano Saraiva, de Fernanda de Castro (certamente por ser viúva de António Ferro!) e do pai do Marcelo Rebelo de Sousa. Etc., etc.. Não eram apenas manuais de propaganda (e se o fossem, acaso haveria direito de os queimar?). Apenas uma coisa distingue estes autos-da-fé daqueles praticados pelos nazis: foram feitos sem alarido público, nas traseiras de uma qualquer escola. Os nazis assumiam os autos-da-fé que faziam; a esquerda portuguesa fazia-os à sorrelfa, nas traseiras.
Segundo o Público relata hoje, Sottomayor Cardia, num discurso dirigido ao país, em Outubro de 1976, 2 anos depois do despacho de Rui Grácio que determinava os autos-da-fé, acusou o ME de ter «à maneira inquisitorial», ordenado a «destruição de livros pelo fogo Há no Ministério prova da realização de autos-da-fé por determinação oficial». Na altura os jornais não ligaram a estas denúncias. Segundo o Público porque eram 2 frases numa imensidão de um discurso que demorou 70 minutos a ser lido. Na minha opinião porque a tirania do politicamente correcto dominava os meios de comunicação social e exercia uma censura cobarde, porque camuflada atrás das boas intenções. Provavelmente nessa época, os mandarins da opinião achariam profiláctica a queima dessa literatura viciosa.
Mas a tirania do politicamente correcto está a perder terreno, pouco a pouco, no nosso país. A emergência de articulistas independentes, e com audiência, a banalização desses serventuários dos ícones da esquerda totalitária, a dificuldade que há em amordaçar as opiniões na época da globalização informativa e da blogosfera, etc., tudo concorre para a liberalização progressiva da informação. Por isso, hoje em dia é possível dar relevo a estes factos, com mais de 30 anos, coisa que nunca até agora havia sido possível.
Umas últimas linhas para assinalar que esta notícia deixou os meus pais siderados. Escrevo-as porque acho importante mostrar que o ovo da serpente germina nos ninhos mais inesperados.
Vitorino Magalhães Godinho, então ministro da Educação, é da família (de forma colateral) da minha mãe, que mantém relações de amizade, embora espaçadas, com ele e as duas filhas, que são da geração dela. Vitorino Magalhães Godinho alega não ter conhecido o despacho e considera-o «totalitário, embora apresentando-se de esquerda». Na ausência de outros testemunhos não se pode duvidar da palavra dele, embora se possa estranhar que não soubesse o que um seu subordinado fazia. Teria pelo menos a chamada responsabilidade política.
O meu pai conheceu bem Rui Grácio que considerava um sujeito extremamente cordato e tolerante que, apesar de ser então um guru na área das pedagogias e dos estudos sociais, ouvia com igual atenção nomes sonoros ou jovens que começavam a trilhar o caminho das alegrias cívicas. Apesar da sua notoriedade científica, nunca usou essa notoriedade como forma de ostentação. O meu pai tinha-o em grande consideração.
Os meus pais põem a hipótese que esse despacho e a sua execução tivessem origem em Rogério Fernandes, então do PCP e da linha de António Teodoro, que no Público de hoje, produz declarações bastante ambíguas sobre esta matéria. Mas tal não invalida a responsabilidade directa de Rui Grácio, pois foi ele que assinou o despacho.
Estes factos são, na minha opinião, exemplares. Pessoas de bem, de formação democrática, politicamente tolerantes (sublinho politicamente porque, como pessoa, o Vitorino é rabugento que se farta!) caem na tentação totalitária e promovem acções idênticas em tudo às dos fascistas que eles haviam combatido. Sucumbem à tentação totalitária arrastados pela gritaria de grupos radicais cuja força reside apenas nos decibéis da gritaria e não tem qualquer expressão popular, como se viu depois.
Não há vocações totalitárias. Há ideologias que fazem com que gente boa sucumba à tentação do mal em nome de princípios vazios de sentido moral, mas que foram sacralizados por essas ideologias em travesti de construtoras e zeladoras de uma sociedade alegadamente igualitária e feliz.
Publicado por Joana às 06:58 PM | Comentários (64) | TrackBack
fevereiro 19, 2005
A Idade de Portugal
Quando nasceu Portugal? Uns utilizam a data em que Afonso Henriques foi proclamado rei pelos seus pares (alçado rei) a seguir à batalha de Ourique em 1139, típica aclamação numa monarquia fundamentada nos feitos de armas, como era tradicional entre os godos. Outros a data da Conferência de Zamora, 1143, com o acordo com o Rei de Leão, de quem Afonso Henriques seria teoricamente vassalo, que reconheceu a independência de Portugal. Ou seria a data do reconhecimento pela Santa Sé, em 1179?
Mas estas são datas oficiais da entrada de Portugal no concerto das nações independentes. Todavia, Portugal estava latente desde os fins do século IX.
A península, desde tempos remotos e com mais incidência após a conquista árabe, esteve sempre dividida entre a metade sul, mais aberta às influências externas, e a metade norte, muito refractária a essas mudanças (cf mapa da Península, com a divisão entre a Hispânia islamizada e a que nunca o foi). O actual território português estava, na época romana, administrativamente distribuído pela Galécia, a norte, e pela Lusitânia, a sul, que também incluía a actual Extremadura espanhola. Mas a linha divisória de que falei acima, e que passava sensivelmente pela bacia do Mondego, já existia nessa época. Por isso não é de estranhar que o norte se tivesse mostrado muito mais refractário à difusão inicial do cristianismo, que o sul, muito mais urbano e mais em contacto com o resto da România. Ou então por o cristianismo se ter inicialmente difundido muito mais nos meios urbanos que nas zonas rurais, donde o nome de pagãos (paganus - aldeão ou camponês).

Foram as disputas entre chefes romanos, no período da decadência final, que fizeram com que uma facção tivesse prometido instalar na Península Ibérica bárbaros a troco de apoio militar. Deste modo, Vândalos, Suevos e Alanos entraram na Hispânia. Na sequência dessas lutas o Imperador Honório estabeleceu um pacto, em 411, com os bárbaros já instalados. Atribuindo-lhes a Galécia, a Lusitânia e a Cartaginense. A partir dessa data, o território português ficou definitivamente fora do Império.
Em menos de uma década, com a derrota e o desaparecimento político dos Alanos (que se haviam fixado na Lusitânia) e a partida dos Vândalos de Genserico para África, onde constituíram um poderoso Estado que duraria cerca de um século, os Suevos ficaram sozinhos e constituíram um Estado que compreendia o noroeste da actual Espanha (Galiza e o ocidente das Astúrias e de Leão) e o norte e centro (até ao Tejo) de Portugal. A principal zona de fixação dos Suevos foi justamente a zona de Entre-Douro-e-Minho.
A partir desse ano, e até 585, o Reino Suevo manteve-se com alguma estabilidade, mas numa relativa obscuridade, exceptuando a acção de S. Martinho de Dume. Nos últimos anos teve que aceitar a suserania dos Visigodos, sendo finalmente anexado por Leovigildo. Durante esses anos os vínculos criados pela administração romana, os princípios da solidariedade entre os representantes da autoridade romana, o direito estabelecido, os costumes, a língua, a cultura material, tudo isso permaneceu aparentemente estável, embora a ingerência dos próceres bárbaros fosse um permanente elemento de dissolução de todo o edifício administrativo. Durante esses quase 2 séculos, a zona geográfica e étnica, que serviu de núcleo à formação de Portugal, manteve-se independente.
A invasão árabe não trouxe modificações importantes. A região de Entre Douro e Minho, e mesmo a região até ao Mondego, ficaram num vazio de poder político entre a queda da monarquia visigoda em 711 e as presúrias dos fins do século IX. O reino asturiano não tinha meios militares para ocupar aquelas terras que permaneciam numa dependência vaga do califado de Córdova. A sul situava-se o Garb-al-Andaluz (cf. mapa), correspondente à metade sul de Portugal, onde a ocupação árabe foi mais efectiva.
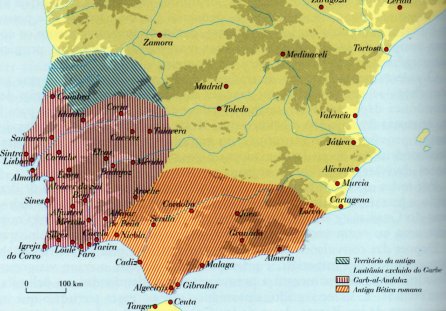
Por exemplo, segundo as crónicas árabes, em 192 da Hégira (807 segundo os cronistas cristãos) os cristãos do Guf de Espanha (nome genérico que os cronistas muçulmanos davam ao norte da península) invadiram e talharam os campos da Lusitânia e o emir Abderahman conseguiu expulsá-los e fazê-los regressar à fronteira da Galiza. Mas Galiza era o nome pelo qual os árabes conheciam a monarquia cristã do noroeste da península. Parece claro que mesmo nessa época a fronteira passaria sensivelmente pelo Douro, embora oscilando consoante as forças relativas dos dois contendores. Na zona entre o sul da bacia do Mondego e o Douro a dominação árabe fazia-se precariamente apenas por walis apoiados por destacamentos enviados pelo emir e fortificados em locais apropriados, ou por próceres moçárabes vassalos.
As presúrias, que ocorreram na última metade do século IX nas regiões de Entre-Douro-e-Minho e Entre Douro e Mondego corresponderam assim à instituição de um poder político e militar em zonas onde o domínio de Córdova era teórico. Os próceres locais assumiam a implantação de um novo poder convocando as populações apresentando as insígnias do novo poder e proclamando os deveres e direitos dos novos súbditos.
Segundo as crónicas árabes, em 254 (provavelmente 865), o emir Muhamad enviou uma frota ao NW da península, mas devido a uma tempestade naufragou quase toda. Esta desgraça (cito a crónica) deu ânimo aos cristãos da Galiza e nesse ano correram toda a terra da Lusitânia, ocuparam Salamanca e cercaram Cória.
Este desastre muçulmano animou os próceres cristãos. A presúria do Porto pelo conde Vimara Peres em 868, que foi seguida de uma série de presúrias entre 870 e 872, deu origem ao Condado Portucalense que durou até 1071, altura em que o conde de Portugal foi morto numa batalha contra o Rei da Galiza, que tomou posse do território.
A presúria de Coimbra pelo conde Guterres em 878 deu origem ao Condado de Coimbra, que foi destruído pela ofensiva de Al-Mansur em 987-990, no apogeu do Califado de Córdova). Em 1064 Coimbra foi reconquistada e o seu governo entregue ao conde Sesnando (ou Sesinando), um moçárabe.
O facto de todas aquelas presúrias ocorrerem num período muito curto é indício que existia naquelas regiões um vazio de poder que até então não tinha sido aproveitado por manifesta falta de meios da monarquia asturiana, mas que os próceres locais teriam atingido um poder suficiente para constituírem estados com autonomia própria. Portanto, a partir da última metade do século IX havia na actual metade norte do nosso país dois poderes autónomos (o Condado Portucalense e o Condado de Coimbra) que, com altos e baixos, foram subsistindo durante 2 séculos.
Citando cronistas árabes, Chegada a primavera de 384, Almançor partiu com uma poderosa hoste de cavalaria para a fronteira de Galiza, venceu as tropas dos cristão que se lhe opuseram, destruiu as suas fortalezas e queimou os seus templos, tomou grandes despojos dos povos e fez cativos moços e donzelas. Chegou aos sapais de Galiza e Burtecala e saqueou e queimou o templo de Santyac. ... e voltou a Córdova com muitos cativos e gados. .... No ano de 385 (995) Almançor voltou a atacar a fronteira norte e derrotou Garcia Fernandes, Rei de Galiza, que morreu na batalha. A chegada das chuvas impediu Almançor de prosseguir a ofensiva. O Califa Almançor morreria pouco depois, na sequência da batalha de Catalnasor, contra os cristãos.
Aquela crónica árabe é importante porque identifica pela primeira vez Portugal como entidade distinta da Galiza. Burtecala é a transcrição fonética para o árabe (no árabe não existe p e existem 3 letras com sons próximos do nosso g mas nenhum igual). Isto é significativo porque para os cronistas árabes, até àquela época, apenas existiam 2 entidades cristãs a Galiza, a noroeste, e o Afranc (França e as marcas cispirenaicas, como a Catalunha), a nordeste. É óbvio que a Galiza das crónicas árabes era o reino que também é identificado como Reino de Leão, que era a vila onde o rei residia com mais frequência.
Poucos anos depois, reportando-me às mesmas crónicas, entrou Almudafar (hagib do Califa Hixem, filho de Almançor) em terras de Galiza e por todas as partes destruiu os fortes que os cristãos haviam erigido ... Derrubou os muros de Ávila, chegou a Salamanca e passou ao interior de Galiza e Portugal, regressou pelas ribeiras do Douro ... e chegou vencedor a Córdova no ano 398 (1007). Mais uma vez, e esta foi a última incursão árabe antes do fim do Califado de Córdova e da sua divisão nos reinos taifas, o nome de Portugal é citado.
Estas crónicas reforçam a ideia atrás exposta que a linha entre o emirado (depois califado) de Córdova e a monarquia cristã passaria sensivelmente pelo maciço montanhoso que separa a bacia do Douro da bacia do Tejo. Acima dessa linha o domínio árabe foi episódico e quando existiu consistiu apenas em relações de vassalagem e tributárias. Aliás, a dominação árabe na península teve características similares à dominação normanda na Inglaterra. Era um reduzido núcleo dirigente, político e militar, que detinha o poder político e cultural, falado e escrito. Quando o emir (depois califa) de Córdova pretendia fazer incursões ao norte cristão recrutava quase sempre tropas em África, o que mostra o reduzido potencial demográfico próprio. O mesmo não aconteceu com a religião, pois o islamismo adquiriu uma forte expressão no sul da península Andaluzia, Valência e Algarve. Em Portugal, para além do Algarve, também o vale inferior do Tejo, a Balatha (Valada) árabe, tinha uma forte implantação da religião islamita, embora, como mostrou o relato da conquista de Lisboa, o elemento moçárabe fosse muito importante, e talvez mesmo predominante do ponto de vista demográfico.
Com o fim do califado e a cisão e decadência política dos árabes na península, a sua dependência de África ficou cada vez maior e tornou-se dependência política. As grandes tentativas muçulmanas de contrariar o avanço dos cristãos foram feitas por monarcas da África do Norte, primeiro os Almorávidas e depois os Almohadas. O Andaluz caiu na dependência dos reis do Magrebe.
Regressando às potências cristãs, a Galiza (e o norte de Portugal, até ao Mondego) passou entretanto a ser uma dependência do Rei de Leão e Castela, que constituiu o condado Portucalense 1096, com todas as terras a sul do Rio Minho (integrando portanto as terras do antigo condado de Coimbra), entregando o seu governo a D. Henrique, casado entretanto com D. Teresa, a sua filha bastarda. No início da sua constituição, o condado ia até ao Tejo, mas a queda de Sintra em 1109 e de Santarém em 1111 (ambas tinham passado para a posse dos cristãos em 1093, juntamente com Lisboa, entretanto reconquistada pelos árabes no ano seguinte) repôs a fronteira sul entre o Tejo e o Mondego. Foi a época do apogeu do poder almorávida que ditou este refluxo.
Em 1128 Afonso Henriques tornou-se conde de Portugal, após derrotar a mãe. Em 1139 proclamava-se rei e em 1143 a Conferência de Zamora reconhecia-lhe o título. Os territórios sujeitos ao novo rei não eram então mais dilatados que os territórios dos condados de Portucale e de Coimbra nos fins do século IX, pois só em 1147 Santarém, Lisboa e Sintra seriam reconquistadas e a fronteira sul regressaria ao Tejo.
Portanto, quando Portugal obteve o estatuto de reino, já há cerca de 270 anos que as regiões que o constituíam tinham um estatuto de semi-independência.
Oficialmente, Portugal tem perto de 9 séculos de existência como Estado independente. Mas do ponto de vista de existência autónoma e fixando 868, a data da presúria do Porto, como início dessa existência, terá mais de 11 séculos. A partir daquela data, apenas durante 25 anos, entre 1071 e 1096, o Condado Portucalense não teve existência própria e autónoma. E o mesmo para o condado de Coimbra, excepto entre 990 e 1064. Mas isso também aconteceu ao Reino de Portugal entre 1580 e 1640.
Pelo tratado de Alcanices (1297), a fronteira foi definitivamente fixada (com a excepção de Olivença).
Assim, a partir de 411, e provavelmente antes sob a administração romana, o futuro Condado Portucalense formou uma identidade própria, que os Suevos poderão ter impulsionado ao se fixarem principalmente na sua área, e cuja autonomia política só foi interrompida durante o século visigodo (585-711) e durante a vaga suserania do Emirado de Córdova (711-868). A partir daí, só esporadicamente essa autonomia se perdeu.
Nota: As transcrições das Crónicas Árabes foram extraídas da Historia de la Dominacion de los Arabes en España sacada de varios Manuscritos y Memorias, compilado por Jose António Conde, Paris, Baudry, 1840.
Os mapas foram extraídos da História de Portugal, Vol 1, dirigida por José Mattoso, Lisboa 1992.
As datas das presúrias e de alguns eventos relativos ao Condado Portucalense e ao Condado de Coimbra foram extraídas da Nova História Militar de Portugal, Vol 1, de Themudo Barata e Severiano Teixeira, Lisboa 2003.
Nota - Como curiosidade, ver ainda:
Portugal neto de Noé
Publicado por Joana às 12:55 PM | Comentários (79) | TrackBack
fevereiro 04, 2005
Portugal neto de Noé
Provavelmente os mais incautos julgariam que Portugal começou com Afonso Henriques, outros, mais politizados, pensam que Portugal começou em 25-4-1974, teve um ocaso injusto em 25-11-1975 e recomeçará quando as prédicas de Louçã tiverem êxito. Os mais nacionalistas assegurarão, todavia, que foi o Conde D. Henrique o primeiro soberano de Portugal. Erraram todos O primeiro soberano de Portugal foi Tubal, neto de Noé, conforme provou Frei Bernardo de Brito, ínclito historiador português, autor (parcialmente, pois a sua morte, em 1617, impediu-o de passar além dos 2 primeiros volumes) da história portuguesa, senão a melhor, pelo menos, e de muito longe, a mais cara!. E dedicou todo o primeiro volume (850 pgs) à história do nosso país até ao nascimento de Jesus Cristo, e o segundo volume (publicado em 1609) até ao aparecimento do Conde D. Henrique.
Basta ver o frontespício do 1º volume da obra:

Ela foi dedicada a Filipe, então rei de Portugal (1597).
Tubal era filho de Japhet, que era filho de Noé. Como documenta o Génesis 10:
1 Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio.
2 Os filhos de Jafé: Gomer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras.
3 Os filhos de Gomer: Asquenaz, Rifate e Togarma.
4 Os filhos de Javã: Elisá, Társis, Quitim e Dodanim.
5 Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações.
É na página 7 da sua obra que Tubal se achou numa «fermosa baya, por onde se lança no grande Occeano Occidental hum Rio, mayor em proveitos de pescarias & navegações, que em quantidade de agoas». Era o Sado e Tubal estava em vias de lançar os alicerces de Setúbal. Aqui está a prova que faltava:
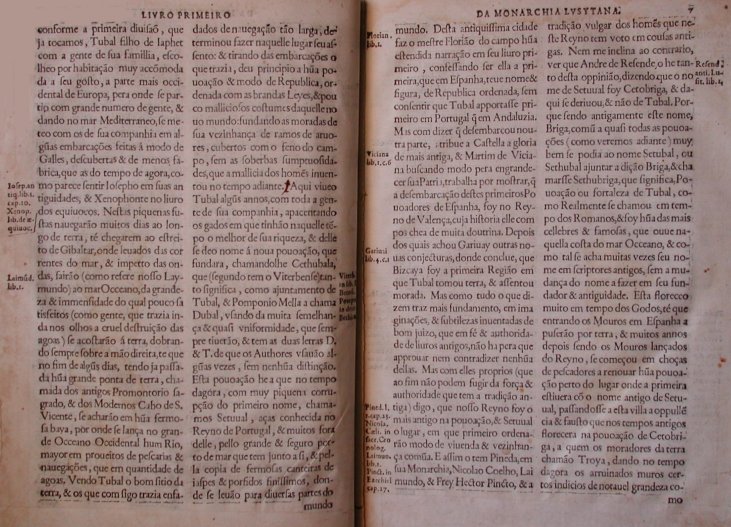
A ideia bíblica de que Japhet e a sua prole foram para terras distantes está disseminada por toda a Bíblia. Por exemplo, Ezequiel 38:
2 Filho do homem, dirige o teu rosto para Gogue, terra de Magogue, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele,
3 e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe e chefe de Meseque e Tubal;
Magog deve significar terra de Gog (irmão de Tubal), visto o prefixo ma significa lugar onde em diversas línguas semitas, como o árabe, por exemplo. As terras de Gog e Tubal seriam pois longínquas, face ao epicentro da história bíblica (o Médio Oriente). Quer na liturgia cristã, onde Gog e Magog personificam a união de todas as forças, terrenas e infernais, que lutam em permanência contra Deus e a Igreja ao longo de toda historia Cristã e que serão exterminados com a segunda vinda de Cristo, quer nos escritos dos historiadores árabes, onde são identificados como povos bárbaros e ferozes, ao norte do Cáucaso, ou com a terra dos invasores vikings (no caso dos historiadores andaluzes como Al-Idrisi), quer nos geógrafos cristãos do início dos descobrimentos, que identificam Gog e Magog como tribo bárbaras do norte da Ásia. Portanto, quer para a literatura medieval cristã quer para a islamita, Gog e Magog personificam o mal. Mas Tubal não, que se ficou pela Ibéria, nas areias de Portugal, à beira mar pasmado.
Foi em todo este acervo de informações, histórias imaginárias, fábulas, etc., que Frei Bernardo de Brito, ansioso por demonstrar a prevalência e as glórias da sua pátria, então sob um soberano estrangeiro, foi beber para escrever uma história magnífica, do ponto de vista literário, mas de um rigor mais que duvidoso, do ponto de vista da exegese histórica.
Publicado por Joana às 07:12 PM | Comentários (120) | TrackBack
janeiro 31, 2005
Défice democrático e a Esquerda
Na sequência de um post anterior, queria acrescentar alguns factos que vão certamente embaraçar os que se reverenciam nas virtudes democráticas da alegada esquerda. E esses factos referem-se à circunstância de, na história constitucionalista portuguesa, a esquerda ter sido, geralmente, refractária aos alargamentos das capacidades eleitorais e a mudanças e inovações no sistema eleitoral. Foi quase sempre a ala direita do espectro político-partidário a responsável por esse alargamento.
Não vou descrever as sucessivas leis eleitorais da monarquia constitucional. O vintismo introduziu o sufrágio directo mas sem carácter universal, já que não podiam votar, entre outros, os menores de 25 anos, as mulheres, os "vadios, os regulares e os criados de servir". Este curioso sistema de incompatibilidades serviu, por exemplo, para afastar Agostinho de Macedo das Cortes de 1822, apesar de eleito, sob o pretexto de ser pregador régio! (logo equiparado a criado do rei!). Esse afastamento teve um carácter claramente político e, pelo azedume que provocou, contribuiu para a evolução de Agostinho de Macedo para o absolutismo extremista.
A Carta Constitucional criou um sistema de eleição em duas fases. Nas eleições primárias, em que se elegiam os Eleitores de Província, não se atribuía direito de voto, entre outros, aos menores de 25 anos e aos "que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis", mantendo-se as incapacidades eleitorais activas previstas na Constituição de 1822. Os Eleitores de Província deviam possuir uma renda mínima de duzentos mil réis. (Nota: A Câmara dos Pares era composta por membros vitalícios e hereditários, nomeados pelo Rei, sem número fixo, a que acresciam Pares por direito próprio, em virtude do nascimento ou do cargo).
O Acto Adicional de 1852, aprovado na sequência do triunfo do movimento Regenerador estabelece a eleição directa dos deputados por todos os cidadãos, mas mantém o censo mínimo de cem mil réis de renda. Portanto, o triunfo da ala esquerda do liberalismo traduziu-se apenas na passagem do sufrágio em duas fases, para sufrágio directo. O censo e portanto a base eleitoral não foi alargada.
Foi Fontes Pereira de Melo, o chefe da ala direita do liberalismo, que alargou a base eleitoral pela Lei de 8 de Maio de 1878 que considerava como possuidores da renda mínima para votar, todos os chefes de família e os alfabetizados.
Assim, por exemplo, nas eleições de 30 de Março de 1890, em 5 049 729 habitantes no continente e ilhas, havia 1 315 473 cidadãos masculinos maiores de 21 anos e 951 490 eleitores (18,8% da população total; 72,3% da população masculina maior de 21 anos). No anterior sistema censitário, os eleitores nunca passaram de 400 mil.
Todavia, as leis de Hintze, no período de decadência monárquica, a partir de 1895, voltaram a reduzir a capacidade eleitoral activa aos cidadãos masculinos, maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever e colectados em contribuições não inferiores a 500 réis. Portugal passou a ter 493 869 eleitores (9,4% da população total). Poucos anos depois Hintze decretou a ignóbil porcaria, como lhe chamou João Franco, reajustando os círculos uninominais, de forma a que parte do eleitorado urbano, favorável a João Franco, e também aos republicanos, fosse englobado com o eleitorado rural, tudo calculado para diminuir a possibilidade do triunfo dos adversários de Hintze Ribeiro.
Após a revolução republicana de 5 de Outubro de 1910 verificou-se que afinal os republicanos eram mestres mais eficientes na viciação de eleições que os decrépitos políticos da monarquia terminal. A Assembleia Constituinte foi eleita num sufrágio em que só houve eleições em cerca de metade dos círculos eleitorais. Muitos candidatos em diversas circunscrições eleitorais foram proclamados "eleitos" sem votação. O sufrágio universal foi afastado, tendo votado apenas os cidadãos alfabetizados e os chefes de família, maiores de 21 anos.
Em 1913 (lei de 3 de Julho) a capacidade eleitoral é reduzida aos adultos letrados. O eleitorado potencial caiu de cerca de 1 milhão para cerca de 600 mil e os recenseados de 846.000 para 397.000. A república diminuiu o eleitorado potencial para cerca de 30% daquele que existiria pela lei de Fontes Pereira de Melo! Afonso Costa, o guru da esquerda republicana, tão elogiado pelos nossos republicanos laicos, defendeu esses cortes argumentando que «indivíduos que não sabem os confins da sua paróquia, que não têm ideias nítidas e exactas de coisa nenhuma, nem de pessoa, não devem ir à urna, para não se dizer que foi com carneiros que confirmámos a república»! Dificilmente se concebe uma afirmação mais hipócrita!
A esquerda republicana tinha medo dos carneiros! Estes desdenhados ovinos continuam, quase um século depois, a ser a figura representativa dos portugueses que não alinham com as verdades absolutas proclamadas pela esquerda. Quem não concorda pertence aos carneiros cunhados e postos a circular por Afonso Costa. Todavia, Afonso Costa apenas teve a coragem de dizer publicamente aquilo que muita esquerda pensa, sem coragem de o admitir abertamente: ela receia e desdenha o eleitor que não pertence à sua mundividência.
Só em 1918, com o decreto nº 3997, de Sidónio Pais, o Presidente-Rei, acusado de aspirar à ditadura, se alargou o sufrágio a todos os cidadãos do sexo masculino maiores de 21 anos. Essa disposição triplicou o eleitorado potencial e Sidónio foi eleito por cerca de meio milhão de votos (foi a única vez, na 1ª República, que um Presidente da República foi eleito por sufrágio universal, visto que era eleito pelas Câmaras). Contudo, este alargamento só duraria um ano, até ao seu assassinato, quando foi reposto o anterior regime de incapacidades.
Mesmo apesar de um sufrágio tão restritivo, excluindo a carneirada, a abstenção durante a 1ª República foi sempre muito elevada, atingindo cerca de 85% nas últimas eleições em 1925. Provavelmente se os carneiros tivessem direito de voto, os desacreditados líderes republicanos acabassem marginalizados da política e não se criasse a ideia da necessidade da ditadura para liquidar aquele sistema iníquo, que levou ao golpe de 28 de Maio e à instauração da ditadura e, depois, do salazarismo.
A seguir ao Movimento do 25 de Abril, as eleições livres e democráticas constavam do programa do MFA. À medida que a data fatídica se aproximava, o receio da ala esquerda do regime foi evidente. Estava emparedada entre as promessas emblemáticas do seu manifesto, de que não podia abdicar sob pena de alienar os restantes elementos das FA, muito maioritários, e a desconfiança sobre o comportamento da carneirada. As campanhas de dinamização da 5ª Divisão foram, tudo o indicou, contraproducentes, como é usual quando radicais de esquerda querem explicar, ao povo, o evangelho revolucionário. Os militares radicais viram-se assim na necessidade de obrigarem os partidos a assinarem um pacto que limitava a Constituinte e a colocava sob tutela da esquerda radical do MFA.
Portanto, a Constituição de 1976 não é livre nem democrática porque foi o resultado de uma assembleia constituinte condicionada exteriormente, sob tutela e com limitações impostas à sua acção.
Mesmo depois da aprovação da Constituição de 1976, o país continuou sob tutela da esquerda militar, com o apoio de parte significativa da esquerda do espectro político português.
Esta desconfiança face às populações que não pertencem à sua mundividência é comum a toda a esquerda radical e influencia parte da esquerda que se reclama de democrática, tendo por isso uma expressão muito difundida na comunicação social.
Ela é igualmente herdeira das concepções marxistas de que a democracia é algo de despiciendo, que não passa da última barreira que a burguesia tenta erguer como obstáculo à caminhada para a ditadura do proletariado, cujo primeiro enunciado aparece em 1850: «Ao passo que os pequenos burgueses democráticos querem pôr termo à revolução o mais rapidamente que possam, (uma vez obtida a satisfação às suas reivindicações [a democracia parlamentar]), os nossos interesses e as nossas tarefas consistem em tornar a revolução permanente até que seja eliminada a dominação das classes mais ou menos proprietárias, até que o proletariado conquiste o poder do Estado .... Não se trata para nós de introduzir reformas relativas à propriedade privada mas de a suprimir; não se trata de conciliar os antagonismos de classe, mas de suprimir as classes, não se trata de melhorar a sociedade existente, mas de edificar uma nova»
K. Marx.-F. Engels, Mensagem do Comité Central à Liga dos Comunistas. Março de 1850 (Ansprache der Zentralbehörde an den Bund vom März 1850, in Marx-Engels Werke Vol 7, páginas 244-254).
Estas concepções foram sendo sucessivamente refinadas até à teorização leninista e continuam a constituir um substrato ideológico importante de parte significativa da esquerda, mesmo de muitos que se afirmam convicta e sinceramente democratas.
Publicado por Joana às 12:07 AM | Comentários (38) | TrackBack
janeiro 26, 2005
As Elites
Marçal Grilo deu este fim de semana uma entrevista a JMF e Graça Franco, onde se lamentou, entre outras coisas, de que apesar de Nunca tivemos elites tão boas como temos hoje. Temos uma elite forte na vida académica, milhares de doutorados, temos uma elite na área financeira e económica, na área dos gestores ... verificamos que as elites estão um pouco desnacionalizadas. Assumem-se como cidadãos do mundo, da globalização, e têm um certo snobismo intelectual de distanciamento em relação ao que se passa no país. Temos de tudo, é certo, mas temos um conjunto de pessoas que fazem um pouco gala em dizer que estão desligadas dos problemas do país. Estão mais ligadas aos centros externos, e isso é muito negativo.
Há um mês, parodiei aqui, em A Fuga das Elites, esta questão, e conclui, meio a brincar, meio a sério que: as elites andam disfarçadas de gente medíocre, para não serem detectadas pelo resto da população e pela comunicação social. Assim, todos alinhados pela mediocridade já não há zangas, invejas, má língua, mesquinhez. O país fica tranquilo, em estabilidade política, social, económica e em serenidade emocional ... Os portugueses não perdoam o sucesso.
Marçal Grilo descobre agora um problema que afecta o país desde meados do século XVI, quando começou a nossa decadência. Damião de Góis, Francisco de Holanda, Garcia da Orta (Goa sempre era preferível ao Reino) e outros renascentistas floresceram na diáspora. Luís de Camões queixou-se amargamente da ingratidão da Pátria.
É certo que houve momentos de união, como sucedeu na Restauração, em que muitos portugueses, que andavam pelas Europas, regressaram à Pátria para a ajudarem a defender e a reerguer, mas foram momentos fugazes a mediocridade voltou rapidamente a recuperar o seu império.
Acusa-se a Inquisição. Mas a Inquisição instalou-se no país, com o apoio da massa da população, porque se dedicou, fundamentalmente, a perseguir quem, em Portugal, se destacava e tinha sucesso. Aqueles que invejavam gente que se ilustrava pelo saber, ou pelo êxito no comércio ou indústria, iam denunciá-la à Inquisição. Sob o álibi da pureza de sangue, a Inquisição foi a arma da mediocridade que castrou o incentivo ao sucesso dos portugueses.
Grandes nomes do século das luzes foram estrangeirados: Cavaleiro de Oliveira, Luís António Verney e Ribeiro Sanches, por exemplo. O Portugal medíocre foi caricaturado por Ribeiro Sanches como Dificuldades que tem um reino velho para emendar-se.
O triunfo liberal acabou com a mediocridade obsoleta e bafienta, mas trocou-a pela mediocridade modernizada, baseada na demagogia e disseminada pela liberalização da comunicação social. Entre o triunfo do liberalismo e o movimento da regeneração, Portugal viveu 18 anos de permanentes calúnias e imundícies que cada protagonista político atirava sobre os restantes. Alternava a guerrilha verbal e escrita, com a guerrilhas civis e pronunciamentos militares.
A regeneração trouxe alguma modernização na mentalidade social do país. Mas foi sol de pouca dura. Tomemos por exemplo Bordalo Pinheiro. Bordalo Pinheiro empregou todo o seu enorme talento na criação de uma revista humorística destinada a denegrir Fontes Pereira de Melo, o político a quem Portugal deve a pouca modernidade conseguida na segunda metade do século XIX, e deu-lhe o nome de Antonio Maria, justamente os dois primeiros nomes do político (António Maria de Fontes Pereira de Melo). É certo que o modelo fontista estava à beira do esgotamento, mas o fontismo era a alternativa menos má, como a evolução política e social subsequente à morte daquele político o mostrou.
Também o século XIX foi fértil em elites que abandonaram o país, embora na maioria dos casos fosse gente forçada ao exílio pelas sucessivas guerras civis e mudanças políticas. Alguns, como o Visconde de Santarém, apesar de muito instados para regressarem, pelo próprio poder político, preferiram manter-se no exílio. O nosso maior escritor, Eça de Queirós, permaneceu quase toda a sua vida no estrangeiro.
A atmosfera em Portugal não era favorável às elites. As elites não prosperam num ambiente de maledicência. O republicanismo que emergiu após o fim do fontismo subiu à custa da chicana política, boatos falsos, da imundície lançada sobre toda a classe política e financeira, da retórica de panegírico dos atentados bombistas (desde que favoráveis), dos regicidas, etc.. Isso permitiu aos republicanos destruírem o regime monárquico, mas criou as condições sociais para se auto-destruírem.
A seguir à matança do 19 de Outubro de 1921, Cunha Leal declarava: «O sangue correu pela inconsciência da turbaa fera que todos nós, e eu, açulámos, que anda solta, matando porque é preciso matar. Todos nós temos a culpa! É esta maldita política que nos envergonha e me salpica de lama». O PRP acabou, após ter tomado o poder, por cair na armadilha que havia construído para os outros e ser vítima dos demónios que havia solto.
O Estado Novo e a democracia instituída na sequência do 25 de Abril, mostraram aquilo que era evidente desde meados do século XVI que as elites portuguesas abandonam o país quer por ele ser uma ditadura acanhada e persecutória, quer por ser uma democracia mesquinha e invejosa. As elites portuguesas têm navegado, ao longo dos séculos, entre Cila e Caribdes, entre a censura policial e a censura da mesquinhez, entre a Inquisição clerical e a Inquisição dos politicamente correctos.
As elites não estão desnacionalizadas. Elas apenas não se revêem neste universo mesquinho e invejoso a que a sociedade portuguesa está reduzida. Algumas fazem carreiras brilhantes e lucrativas nos negócios ou nas profissões liberais, cá ou lá fora, outras, na área científica, deixam o país porque nem os incentivos financeiros, nem a pequena inveja dos feudos universitários são motivadores.
Por isso temos um conjunto de pessoas que fazem um pouco gala em dizer que estão desligadas dos problemas do país. Elas estão apenas desligadas da mediocridade, da inveja e da mesquinhez que imperam no país. Fazem-no por auto-defesa. Só por masoquismo se mostrariam ligadas a uma sociedade que as quer no seu seio pelo prazer sádico de as amesquinhar, de as aviltar.
Publicado por Joana às 12:18 AM | Comentários (52) | TrackBack
janeiro 07, 2005
Política, para que te quero ...
As listas dos candidatos estão quase terminadas e a comunicação social encontrou finalmente matéria para saciar a sua voracidade. Uma caterva de substantivos terminados em ismo foram cunhados e postos a circular profusamente: nepotismo; aparelhismo; cinzentismo; carreirismo; oportunismo; incondicionalismo; fidelismo; estalinismo; viuvismo; etc ... ismo. Outros, mais imaginativos, escreveram sobre a impreparação, o «baixo gabarito», a tacanhez, que são uns sandeus, etc.. A mim, parece-me que os senhores jornalistas mais uma vez se precipitaram.
Os senhores deputados devem possuir as seguintes qualidades: boa dicção; capacidade de verbalizar longas sequências de frases; fôlego bastante para sustentar o verbo; ausência do sentido de ridículo para que, durante o discurso, não se apercebam que só estão a dizer banalidades e coisas insensatas; e muita ... muita falta de memória, pois um político nunca se deve lembrar do que afirmou no dia anterior. O resto, além de despiciendo, pode ser inconveniente.
E tem sido sempre assim, com algumas inúteis excepções, felizmente cada vez menos numerosas.
Nós temos um sistema eleitoral em que elegemos deputados que desconhecemos. Quando depomos o voto num dado partido, alguém sabe em que deputado está a votar? Talvez o próprio e mais alguns amigos e familiares. Apenas alguns eleitores de partidos marginais, que elegem somente um deputado aqui e outro acolá, podem saber quem elegem. Neste entendimento, nós não nos identificamos com eles. Há, obviamente, o conceito mítico e politicamente correcto de representação nacional. Eles foram eleitos por nós. Mas nós não os elegemos. E esta interessante ruptura semântica entre a voz activa e a voz passiva é introduzida pelo nosso processo eleitoral, que faz com que não nos reconheçamos neles.
Adicionalmente, Portugal sofre de uma doença genética conhecida por rigidez partidária. A partir de uma dada ruptura política e social, cria-se um espectro político que se mantém praticamente inalterado até à sua exaustão. Todos temos consciência que caminhamos para a exaustão do modelo político. Todos temos consciência que esse modelo está ultrapassado, mas nós não o conseguimos superar de dentro do próprio modelo. Têm que ser acções exógenas.
Foi assim em 1820, e nas rupturas até à estabilização constitucional 1823, a Vila-francada; 1826, outorga da Carta; 1828, revogação da Carta; 1833-4, triunfo liberal; 1836, Setembrismo e reposição do vintismo; 1842, Cabralismo e reposição da Carta Constitucional; 1846, Patuleia (Maria da Fonte), derrotada e subsequente fortalecimento do cabralismo; 1851, Regeneração.
Com a Regeneração inicia-se um ciclo assente no rotativismo que, com pequenos ajustes, se manteve inalterável até à queda da monarquia. O sistema eleitoral estava modelado para esse rotativismo. Esse modelo durou muito para além de todos terem reconhecido que o país estava num impasse. Em 1910, com o triunfo da república, a reformulação da lei eleitoral favoreceu os segmentos sociais mais republicanos. Criou-se um novo ciclo, com partidos totalmente novos, apenas republicanos, que duraria até 1926 (com a excepção do período sidonista, que aumentou a base eleitoral, eliminando algumas restrições republicanas, conseguindo superar o espectro político da 1ª República, legislação eleitoral que, aliás, foi logo eliminada após o assassínio de Sidónio Pais).
Ao fim de 16 anos a 1ª República, que já tinha passado o prazo de validade, mas não se conseguia regenerar de dentro, caiu perante o alívio da maioria da população. Alívio que redundou em tragédia, quando a democracia foi extinta, e o sistema eleitoral foi remodelado para permitir o triunfo permanente de um único partido. No fundo, nada que fosse muito diferente do sistema anterior, em que as eleições conduziam sempre, mais ou menos, ao mesmo resultado. Todavia, havia a mais a censura e a polícia política. Mas os bandos de arruaceiros das facções da 1ª República assassinaram certamente bastante mais gente que a polícia política da Ditadura. A diferença é que o assassínio político da ditadura tinha objectivos precisos, enquanto as bombas e os assassinatos dos arruaceiros eram, na prática, indiscriminados.
Com o 25 de Abril iniciou-se um novo ciclo. A forma como o regime nasceu e a tutela inicial dos militares que chefiaram o golpe, modelou novamente o espectro político, que se manteve inalterado desde então. Houve uma tentativa de ruptura com o PRD, de índole bonapartista, de um populismo transversal, que pareceu surtir inicialmente efeito, mas que se liquidou a si própria por ingenuidade política. A união de diversos agrupamentos da esquerda no BE não é propriamente uma ruptura, mas uma sinergia resultante dessa união e do anquilosamento do PCP. Aliás o BE vive da publicidade dos média, dominados por uma esquerda que ostraciza o PCP, pois já não se revê nele, e aposta numa esquerda mais mediática, que o Bloco protagoniza.
Não me parece que estes deputados sejam substancialmente piores ou melhores que os anteriores. São todos da mesma colheita a colheita dos aparelhos partidários. Enquanto não houver uma ruptura no nosso sistema político-partidário, com especial ênfase no sistema eleitoral, só haverá diferenças de pormenor. Na substância está tudo na mesma.
Continuaremos a ouvir os apoiantes do governo a elogiar as qualidades da sua governação, e as oposições a descreverem o estado apocalíptico do país. Exactamente o mesmo que disseram nas eleições anteriores, excepto no facto, irrelevante, de terem então os papéis trocados.
O caso mais gritante da irracionalidade política e de como um político se esquece facilmente do que disse, ou fez, horas depois de tudo ter acontecido, sucede com o PR Sampaio, que acabei de ouvir na SIC, no início do Jornal da Noite. Sampaio espera que saia uma maioria das próximas eleições, pois o país precisa de uma maioria estável!!. Mas se o país tinha uma AR, que ele dissolveu, com maioria estável!!
O.K. ... ele não gostava daquela maioria ... Mas imaginemos que o próximo PR não goste da maioria que surja destas eleições! Será que ele tem um septo craniano que lhe impede que estes conceitos, gerados em lóbulos cerebrais diferentes, afluam ao mesmo processador?
Mas o meu ídolo é agora a Ministra da Educação! Herdou uma situação absolutamente desastrosa, perdeu dois ou três meses, enquanto pensou que os serviços do ministério serviam para alguma coisa, e quando descobriu que o ministério não funcionava, arranjou uma solução expedita e resolveu o problema o melhor que era possível na altura. Pediram-lhe agora para ir à AR explicar a questão, e ela achou desinteressante essa ida. Para quê? Explicar àqueles incompetentes coisas que eles obviamente não entendem?
Maria do Carmo Seabra já havia dito a uma amiga, há uns meses atrás, que se soubesse onde se ia meter nunca teria aceitado o convite para ministra. Mulher de elevada craveira intelectual e científica, mandou agora os talassas de S. Bento às urtigas. José Magalhães exaltou-se: "Por Deus, isto não é o cabeleireiro". Pois não, Zé. No cabeleireiro é mais relaxante e ouvem-se notícias frequentemente mais interessantes que os entediantes e improdutivos debates parlamentares.
Publicado por Joana às 09:45 PM | Comentários (30) | TrackBack
dezembro 23, 2004
Blogs de Outras Épocas (1822) 3
Um Ouvidor
A seguir estão as 3 primeiras páginas do panfleto de resposta de Pato Moniz, sob o nick de Um Ouvidor às gaitadas de Agostinho de Macedo.
Agostinho de Macedo escreveu, que eu conheça, 4 gaitadas. Não consigo situar em que altura das gaitadas se insere esta resposta. Aliás Pato Moniz escreveu dezenas de panfletos contra o Padre, como também lhe chamava, pelos mais diversos motivos, normalmente em resposta a panfletos do "Padre".
Só coloco as 3 primeiras páginas, porque me parecem suficientes para avaliar o estilo. Achei que não deveria sobrecarregar desnecessariamente o blog, mas poderei mudar de opinião ...
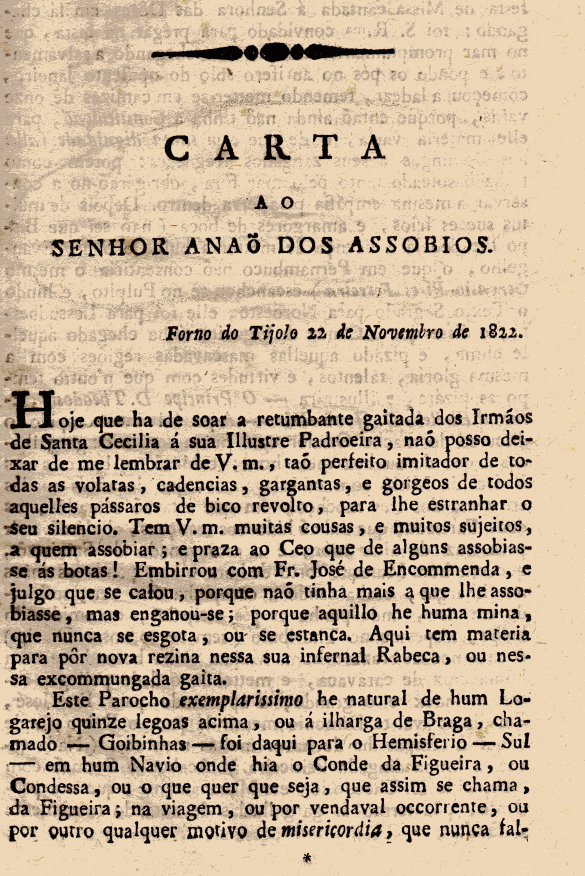
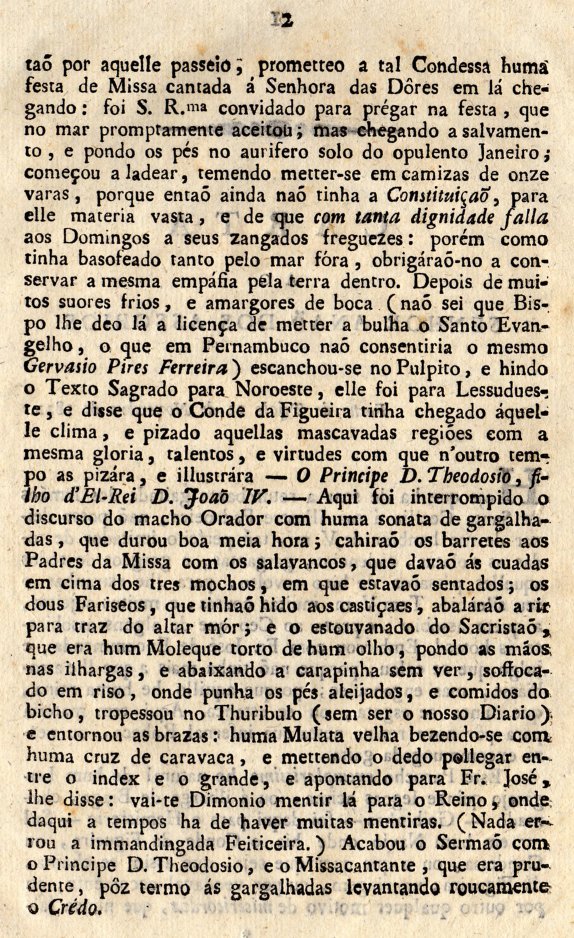
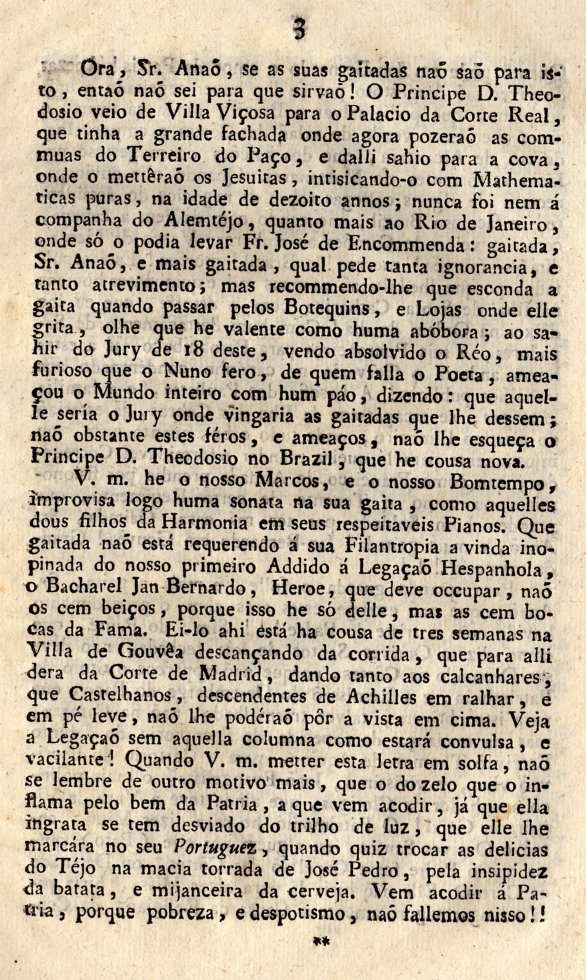
Publicado por Joana às 08:01 PM | Comentários (5) | TrackBack
Blogs de Outras Épocas (1822) 2
O Anão dos Assobios
Gaitada 2 últimas 4 páginas
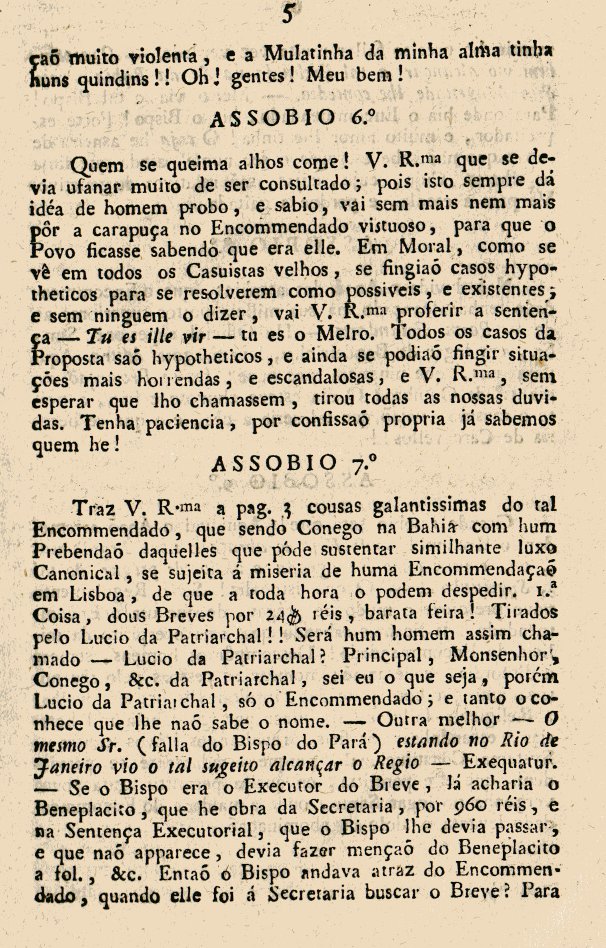
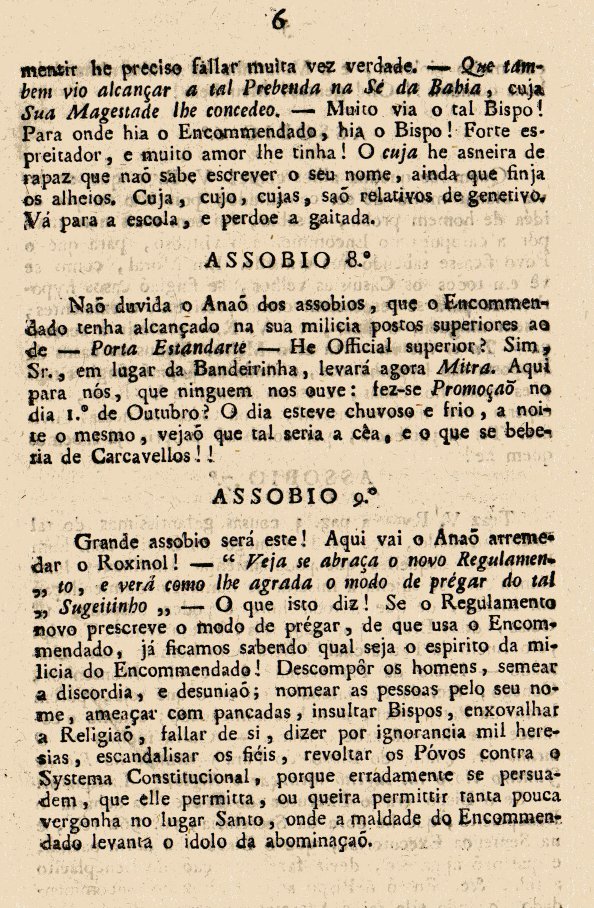
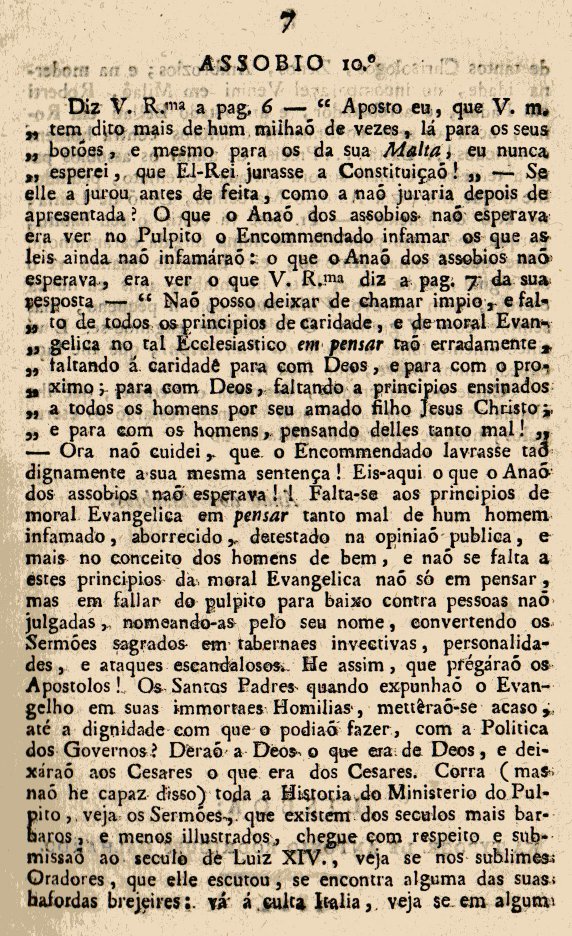
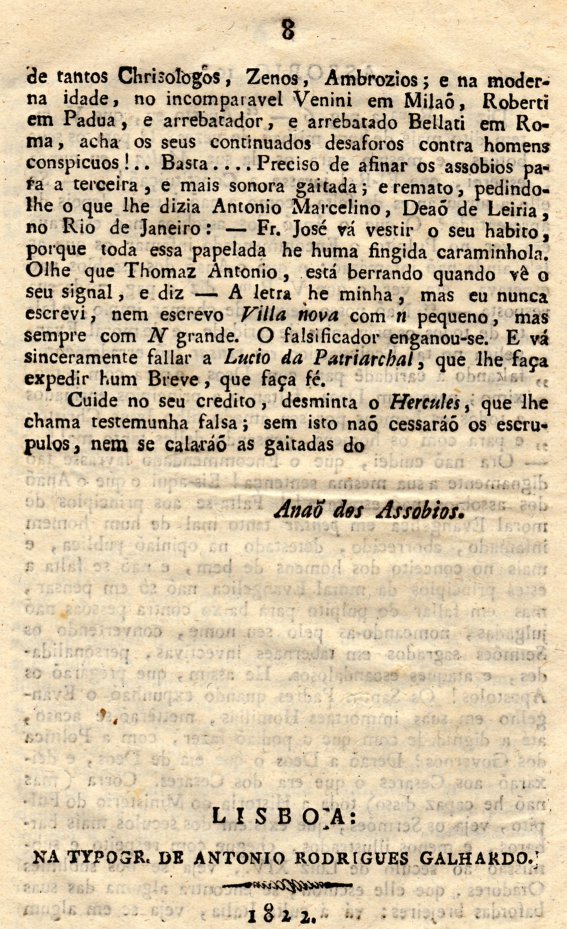
Publicado por Joana às 07:45 PM | Comentários (3) | TrackBack
Blogs de Outras Épocas (1822)
O Anão dos Assobios
Os frequentadores da blogosfera julgavam, provavelmente, que tinham inventado a realidade virtual, a polémica política grosseira e os insultos a coberto dos nicks, Puro equívoco. Vou mostrar-vos, neste e nos próximos posts, 2 blogs que se combateram ferozmente no longínquo ano de 1822 (e não só).
O primeiro é o Anão dos Assobios, blog pertencente a José Agostinho de Macedo, embora ele o tenha tentado negar. Todavia Inocêncio da Silva assevera que o Padre Agostinho de Macedo era mesmo o Anão dos Assobios. Vejam como meio século depois se descobre o nome acobertado atrás de um nick!
O outro blog era de Pato Moniz. Não tinha nome fixo, umas vezes assinava Um Seu Ouvidor, outra vezes era o Mestre Artista, mas todos os seus posts eram respostas a escritos de José Agostinho de Macedo. Bem vistas as coisas, o blog de Pato Moniz era dependente do blog do Padre Agostinho de Macedo.
Pato Moniz era liberal e Agostinho de Macedo miguelista. Escrever blogs naquela época era mais arriscado que hoje. Apesar de o país ainda estar sob a vigência do vintismo, embora final e já combalida, Pato Moniz foi desterrado para a Ilha do Fogo, ao que parece por pertencer à maçonaria. Morreu lá poucos anos depois, ainda relativamente novo.
Cada post do Padre Agostinho de Macedo, nesta altura, era designado por gaitada, o que diz bem dos intuitos do post. Cada folheto destes era constituído por 8 páginas (normal, devido à dobragem do papel saído da impressora) escritas do princípio ao fim. A técnica da impressão é que comandava a dimensão do post!
Vou colocar aqui as 4 primeiras páginas da Gaitada 2, a que me pareceu ser a mais legível, pelos hábitos actuais. No meu post seguinte colocarei as últimas 4.
A Gaitada 2 insere-se no protesto (anónimo) de Agostinho de Macedo por o seu nome haver sido riscado em diversos círculos, onde teve muitos votos, como Alenquer e Setúbal, por incompatibilidades. Como ele era pregador régio, foi considerado, pela vaga liberal, que então comandava o país, como assimilável a Criado del rei! Mas mesmo assim conseguiu ser eleito pelo círculo de Portalegre, mas apenas como primeiro substituto. Como o lugar nunca vagou, ele nunca ocupou o lugar nas Cortes. Isso tornou-o muito despeitado. Esta gaitada insere-se nessa questão.
Apreciem o tipo de polémica e as mexeriquices trazidas à colação.
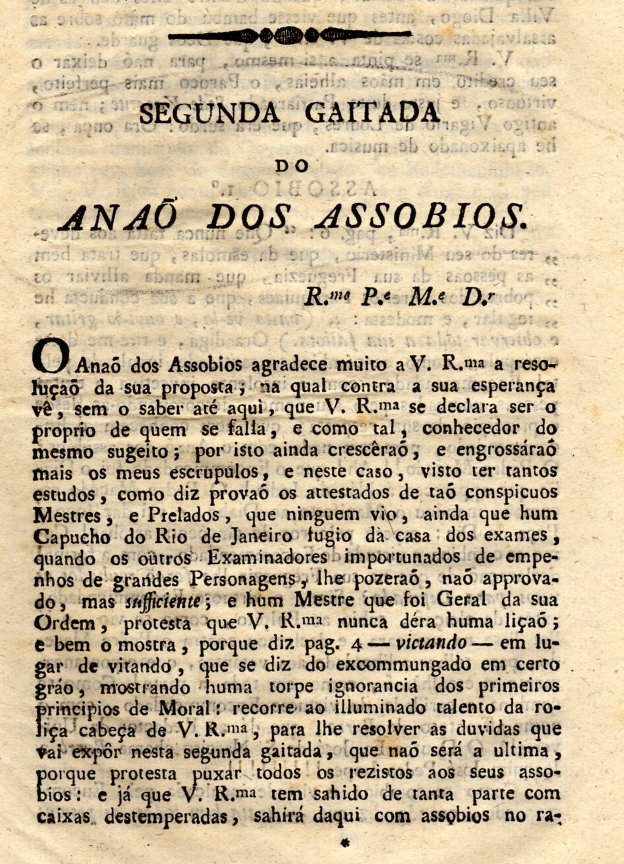
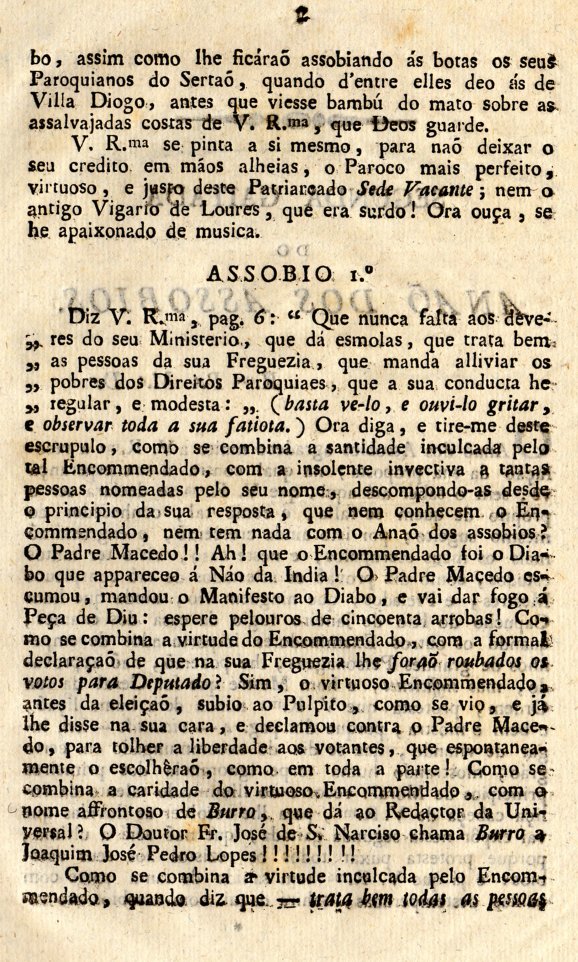
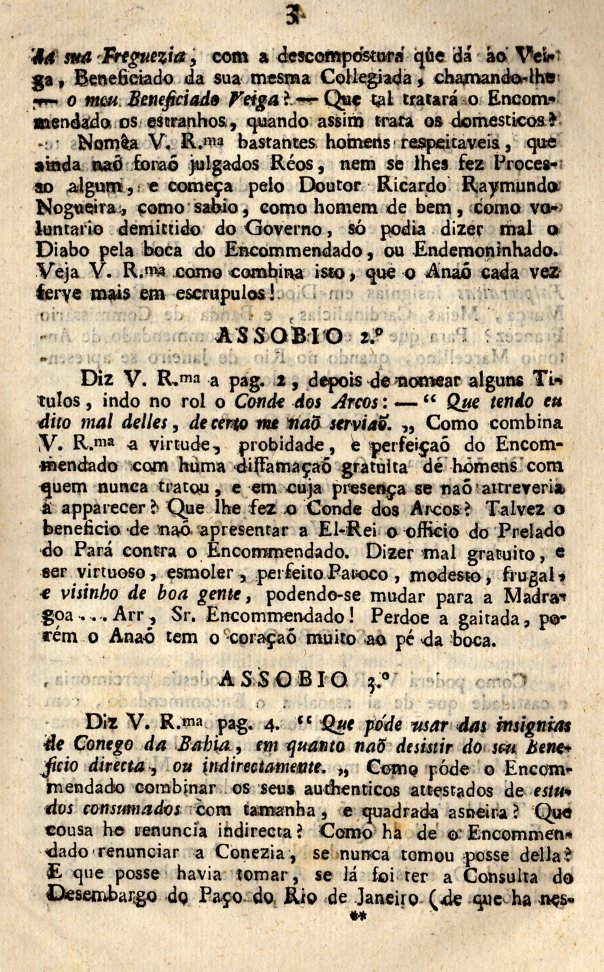
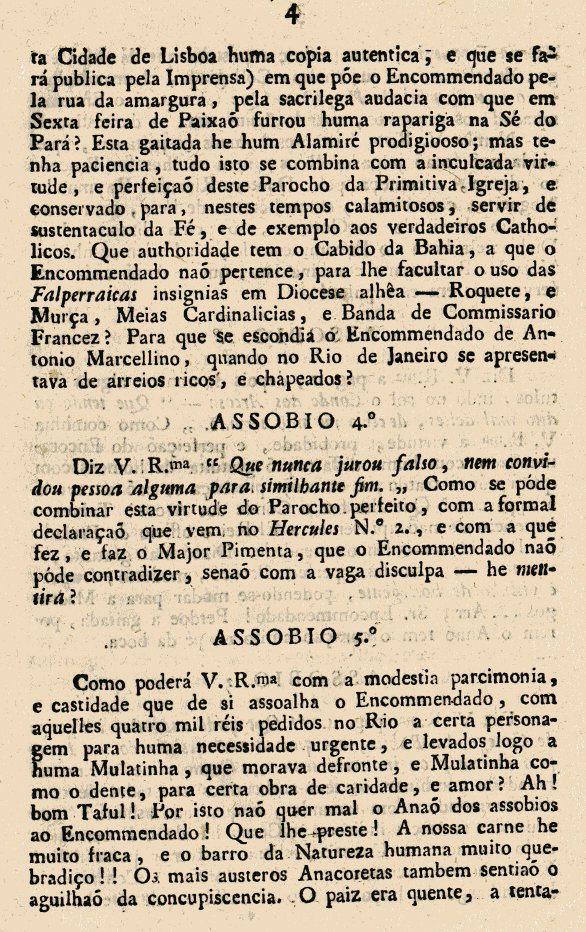
Ver a seguir:
Blogs de Outras Épocas (1822) 2
Blogs de Outras Épocas (1822) 3
Publicado por Joana às 07:20 PM | Comentários (3) | TrackBack
dezembro 19, 2004
Da Obediência ao Rei, como preceito natural,
Considerado na sua origem e nos seus efeitos
(ou como decidi oferecer aos meus leitores monárquicos uma prenda natalícia)
TRATAR das obrigações de Vassalo, é supor súbditos e Soberano, obedecer e mandar. E quem poderia suportar a Sociedade, em que se não verificassem estes dois estados, obediência e Império? Não têm faltado inimigos aos Chefes do Estado; mas não é ódio, é inveja; aborrecem o lugar, e querem ocupá-lo, não advertindo que aquele Autor Supremo, que nos deu arbítrio sobre nossas paixões, determinou com sábia providência, que o corpo moral do Estado tivesse um Árbitro, moderador das desordens internas da Nação, e defensor contra seus externos inimigos.
É pois indispensável obrigação do Pai de Famílias instruir desde os mais tenros anos seus filhos acerca da obediência ao seu Rei, como preceito natural, e como preceito positivo, ou se considere este supremo lugar na sua origem Divino, ou nos seus efeitos, como mostrará este discurso.
O Autor da natureza, que é Deus, formou o Sagrado Código das suas Leis necessárias, segundo a sua sábia economia, para a conservação da ordem física, e da ordem moral do Universo. As que pertencem à física, majestosas, e inalteráveis, admiram todos, e mudamente anunciam a glória do seu Criador : as que pertencem à ordem moral, falam em voz mais alta, porque estão gravadas no coração de todos.
O que estas Leis ditam, chamamos vulgarmente, e com propriedade, preceitos naturais, e entre estes se encontram a obediência ao Rei, não só como imagem da autoridade Paterna, mas fonte da ordem pública. Desta necessidade de obedecer, temos uma prova na impossibilidade, que tem cada indivíduo, de fazer concordar todos com o seu parecer; e como o desejo inato que temos de mandar, nem sempre é ambição, porque muitas vezes procede de zelo pela felicidade do comum, de tudo isto infiro, que a regência é como base do sossego do Estado, e que por preceito natural, e de instinto devemos obedecer ao nosso Imperante. Estes preceitos naturais, quando também são positivos, adquirem então uma certa força, que fazem mais indesculpáveis as nossas desobediências. É verdade que o que é de direito natural, não parece necessária segunda promulgação para ter vigor, mas contra as sábias determinações de tal Legislador, não valem objecções; e doutrina segura é que os preceitos do Decálogo eram preceitos naturais, antes que o dedo do Omnipotente os escrevesse nas Tábuas da Lei. Não pode portanto disputar-se, que a obediência aos Reis é um preceito positivo, nem pode negar-se que todo o vivente, como diz o Apóstolo, deve estar sujeito aos poderes Superiores que vêm de Deus, como ele mesmo diz, mostrando deste modo a sua bondade; porque vem dele esta sua legitimidade, porque o autoriza o Supremo Senhor de todo o Criado. Por mim reinam os Reis, diz Deus na Sagrada Escritura, e os Legisladores determinam o que é justo.
Destas palavras interpretadas mesmo no sentido literal, devemos tirar por consequência, que a autoridade Régia é estabelecida por Deus, e que as suas Decisões e Leis são justas só pelo seu arbítrio, contanto que não se oponham àquele por quem reinam, o qual tomando a si as vinganças, retribuirá, como promete, as ofensas que fizerem à Justiça Divina os que a representarem mal sobre o Trono. Esta reserva, que o Senhor faz para si dos castigos aos maus Reis, junta com a obediência, que lhe teve a sua Santíssima Humanidade, quando vivia entre os homens, são claros documentos do respeito que devemos aos nossos Príncipes, respeito, que nunca podemos diminuir, porque, provada a Divina origem da sua autoridade, não sendo da nossa competência arguir suas faltas, que nos resta? obedecer; e tudo irá bem à Sociedade, em que houver este espírito de subordinação. Esta filial obediência a seus Príncipes foi sempre o honrado carácter dos que professam a nossa Santa Religião; e teve mais brilhantes efeitos nos primeiros três Séculos da Igreja, enquanto não teve asilo nos Palácios; era para pasmar ver os mesmos homens correr para o martírio, quando defendiam a sua fé, e correr para as fronteiras do Império, quando se tratava da defesa dos seus Príncipes, que eram ao mesmo tempo perseguidores do seu culto; mas esta é a índole preciosa dos Discípulos daquele Divino Mestre, que mandou dar a César o que era de César, e a Deus o que era de Deus. Consideramos o Poder Real de autoridade Divina, máxima, segundo entendo, de eterna verdade, que sendo sempre autorizada teoricamente, hoje pêlos trabalhos deste Século de sedição se vê comprovada pela experiência. Olhem pois os Pais de Famílias, e em geral todos os Vassalos para a autoridade Real também pêlos seus efeitos, para acabar de dar valor a este incomparável bem. O nosso Criador, podendo livremente dispor das suas criaturas, podendo determinar, e ser obedecido sem réplica, quis, por mais manifestar, a sua incompreensível bondade, dar-nos preceitos em nosso benefício; podia ser um Déspota, é um Monarca piedoso, e tudo o que nos ordena, não só tem prémio na vida futura, que é o objecto da fé, mas é realmente para nosso benefício, ainda nesta vida mortal.
Assim vemos no que pertence à matéria de que tratamos, porque a obediência aos Reis, que nos é expressamente mandada, tem pêlos seus efeitos mostrado as utilidades que tira cada indivíduo, e o total da Sociedade, em que ela está em seu vigor. Os homens no seu interior estado conhecem o desassossego das paixões, quando elas lutam sem freio, e sem condescendência à razão, e pelo contrário, quando ela toma verdadeiramente o ceptro, que harmonia e paz não sente o nosso coração? dirigem-se logo todas as nossas acções em benefício próprio, nem alheio se chama o benefício do próximo, como judiciosamente disse Terêncio, ainda que Pagão. Estas mesmas fortunas experimenta o corpo moral da Monarquia, onde o respeito filial ao Soberano é o carácter da Nação. A uniformidade das vontades, que um só dirige, dá uma força, que não é fácil destruir-se; e a diversidade das paixões, como é governada por um sistema, não só não prejudica, mas concorre para a harmonia política do Estado. Finalmente uma Sociedade, composta de muitas famílias, deve conservar-se pêlos mesmos meios de que se serve uma família para impedir a sua ruína: um que governe e o resto que obedeça. Não fica, pelo que temos dito, sendo desculpável o Pai de Famílias, que se esquecer de dar a seus filhos depois da educação cristã, a instrução de Vassalo, que tem por base a sujeição à Soberania; digo à Soberania em geral pêlos motivos, que o seguinte parágrafo dará a conhecer.
Publicado por Joana às 09:24 PM | Comentários (13) | TrackBack
dezembro 01, 2004
1640
Quem quiser recordar, leia 1640. Foi escrito há um ano. Que é um ano comparado com 364 anos?
Publicado por Joana às 06:45 PM | Comentários (4) | TrackBack
novembro 25, 2004
25-11-1975, o Thermidor Português?
Muitos consideram o 25 de Novembro de 1975 como o epílogo da Revolução Portuguesa. Não concordo com essa opinião. Em 25 de Novembro foram derrotadas as forças políticas mais radicais, que tinham impulsionado o PREC. A partir daí deu-se o refluxo da maré revolucionária, mas não se encontraram os equilíbrios sociais próprios de uma sociedade democrática estável. O epílogo da Revolução Portuguesa deu-se com a ascensão ao poder de Cavaco Silva, a sua consolidação política e o fim do espectro de uma fase cesarista, consubstanciada em Eanes e no Conselho da Revolução, cesarismo frequente nos finais das revoluções quando as sociedades não conseguem encontrar equilíbrios consensuais.
A primeira quinzena de Julho de 1974 marca o fim da primeira fase da revolução: a fase dos notáveis. Nessa primeira fase tinham confluído os interesses da oficialidade mais jovem, descontente com uma guerra sem solução militar à vista, o liberalismo tecnocrático, ansioso de se pôr em dia com a Europa e que reprovava a ineficácia do aparelho salazarista, e as opções da pequena burguesia esclarecida, favorável a uma estratégia democrática. Essa fase acabara. Entre 8 e 12 de Julho era criado o COPCON (8-7), caía o governo de Palma Carlos (9/7) e Vasco Gonçalves era indigitado 1º ministro (12-7). O poder da rua impunha a sua força.
Para contrariar o protagonismo das forças radicais, Spínola faz apelo à «Maioria Silenciosa». O problema da «Maioria Silenciosa» é que ela é ... silenciosa. Pode exprimir-se nas urnas, mas não tem apetência para acções de rua, a menos que adquira o sentimento da sua força e importância numérica, através do sufrágio. Este apelo de Spínola, embora tivesse apoio de gente do PS, foi prematuro e precipitado.
Mas isso ocorre normalmente em qualquer revolução deste tipo (revolução de Abril, Revoluções Francesas 1789-99 e 1848-51, revolução bolchevique, etc.). Tentativas extemporâneas de inverter uma revolução acabam sempre por a fortalecer.
A elaboração de um «Programa Económico de Transição» coordenado por Melo Antunes foi um acto falhado. Quando começou a ser concebido fazia sentido. Quando foi concluído, veio à luz num país em que cada força política tinha objectivos diferentes e mutuamente opostos e estava convencida de conseguir atingi-los. Um mês depois Spínola é levado a tentar um golpe de estado, para inverter o processo. Dá-se a insurreição da Base Aérea de Tancos e um ataque aéreo ao Quartel do RAL1. Esta intentona, completamente desajeitada, enfraquece as forças que se opõem ao PREC e reforça os elementos radicais. Uma onda de nacionalizações (banca e seguros) abala os fundamentos económicos da sociedade portuguesa.
As eleições de 25 de Abril de 1975 para a Constituinte contaram a rua. Não chegavam a 20%. Poderiam ter servido de matéria de reflexão para os líderes que comandavam a rua, mas nunca servem. Na Assembleia Constituinte na Rússia os bolcheviques tiveram um peso eleitoral ligeiramente superior (25%), mas como tinham as forças armadas (quase totalmente expurgadas de oficiais) nas mãos, dissolveram a Constituinte e tomaram o poder. Durante a Revolução Francesa, a Montanha dispunha de pouco mais de 10% dos Convencionais. Mas o pavor em que os membros da Convenção Nacional viviam face à violência das secções populares arregimentadas pela Comuna de Paris, levou-os a votarem favoravelmente as decisões mais perversas da Montanha e foram precisas sucessivas cisões no interior da Montanha para que acontecesse o 9 Thermidor e acabasse o terror. Até se auto-destruir, a Montanha dominou a seu bel-prazer.
Mas a Revolução Francesa ocorreu há mais de 2 séculos, numa época em que a consciência cívica e democrática estava ainda em embrião. A Revolução Bolchevique deu-se em plena Grande Guerra, numa época em que o Mundo vivia uma grande instabilidade. O MFA consciente de que as eleições seriam desfavoráveis para o PREC tentou subverter os seus resultados previsíveis através de uma série de medidas prévias à realização das eleições: 1) Institucionalização do MFA através da criação do Conselho da Revolução (CR) e da Assembleia do MFA. O CR ficaria com poderes constituintes até à promulgação da Constituição. 2) Estabelecimento de uma Plataforma de Acordo Constitucional com os partidos, definindo um conjunto de regras a que a Constituição deveria obedecer, consagrando a existência constitucional do CR e da Assembleia do MFA e o direito de veto do CR sobre a Constituição, mas também sobre leis aprovadas na futuras Assembleia Legislativa. 3) À Constituinte ficava vedado ocupar-se da composição ou alteração do governo provisório.
Todos os partidos com pretensões eleitorais assinaram este acordo, pois não tinham alternativa.
Por via disso, e apesar da votação ser, para a «Aliança Povo-MFA», uma catástrofe muito superior à previsível, durante o mês seguinte foram nacionalizados sectores vitais da economia portuguesa: Produção, Transporte e Distribuição de Energia Eléctrica, Petróleos, Siderurgia, Cimentos, Transportes, etc., conjuntamente com a ocupação de terras nos meios rurais e a criação das UCP's, segundo o modelo soviético. Foi o «Socialismo aos empurrões»: a fraqueza eleitoral da «Aliança Povo-MFA» levou às nacionalizações apressadas, de forma a pôr as forças políticas que representavam mais de 80% do eleitoral perante factos consumados. Esta perversão política apenas serviu para arruinar o país, pois logo que as revisões constitucionais o permitiram, a quase totalidade daqueles activos (ou o que restava deles) foi privatizada.
O PS foi o principal vector de combate a esta situação. Sem qualquer mácula de ligações à ditadura, vencedor folgado das eleições e sistematicamente banido dos centros de decisão políticos e económicos, espoliado de acesso à comunicação social, inclusivamente dA República (19-5-75), assumiu o papel de vítima. Uma semana depois as instalações da Rádio Renascença, propriedade do Episcopado, também eram ocupadas pelos trabalhadores. Em 16 de Julho, alegando estar a ser marginalizado e em vias de ser expulso da vida política, o PS abandona o governo e o PPD segue-lhe o exemplo.
Estes acontecimentos levaram a uma cisão no MFA. Muitos oficiais da elite revolucionária consideravam que se estava a caminhar no sentido inverso às intenções iniciais dos revoltosos, o estabelecimento de uma democracia parlamentar, e que as forças radicais estavam a tomar conta do processo e se caminhava para uma situação totalitária. Esta cisão foi-se aprofundando de uma forma dramática. A ala esquerda do MFA, COPCON (ligado aos esquerdistas) e gonçalvistas (ligados ao PCP e MDP) foi ficando isolada perante os sectores democráticos do MFA, agrupados atrás do Grupo dos Nove, e que se opunham às teses políticas do Documento Guia Povo/MFA, a Bíblia da ala esquerda.
Neste processo a ala esquerda do MFA acabou derrotada na Assembleia do MFA e Vasco Gonçalves obrigado a demitir-se, em fins de Agosto. Pinheiro de Azevedo sucedeu-lhe. Em face da fraqueza da ala gonçalvista do MFA, o PCP deixou-se arrastar para alianças pontuais com os grupos radicais de esquerda, julgando, porventura, que conseguiria liderar o processo. Ora isso era insensato: a ala gonçalvista não tinha força militar e o COPCON, que a tinha, estava completamente dominado pelos radicais de esquerda. Nesta via, o PCP andaria sempre a reboque dos esquerdistas.
Em Novembro a situação era insustentável e só podia resolver-se mediante a derrota militar de uma das facções. No dia 12, uma manifestação de trabalhadores da construção civil sequestra os deputados no Palácio de S.Bento. No dia 15 dá-se o juramento de bandeira no RALIS (ex-RAL1) onde os soldados quebram as normas militares que regulamentam o juramento de bandeira e fazem-no de punho fechado.
A exibição dos ícones revolucionários empolga os mais radicais, mas afugenta todos os outros. Os elementos radicais do COPCON ficaram isolados entre as forças armadas. No dia 20, o Conselho da Revolução decide substituir Otelo Saraiva de Carvalho por Vasco Lourenço no comando da Região Militar de Lisboa. Entretanto o Governo anuncia a suspensão das suas actividades alegando "falta de condições de segurança para exercício do governo do país". O próximo disparate dos elementos radicais das FA seria o detonador para a sua liquidação.
Tal ocorreu em 25 de Novembro quando paraquedistas da Base Escola de Tancos ocupam o Comando da Região Aérea de Monsanto e seis bases aéreas, contestando a decisão da sua passagem à disponibilidade. Era o momento esperado. Os militares ligados ao Grupo dos Nove e a maioria das FA decidem intervir militarmente. O PCP, confrontado com essa decisão, capitulou e comprometeu-se a não convocar os seus militantes e apoiantes para qualquer acção de rua. A alternativa seria um massacre inútil e a ilegalização do PCP.
O Presidente da República Costa Gomes decreta o Estado de Sítio na Região de Lisboa e elementos do Regimento de Comandos da Amadora cercam e tomam o Comando da Região Aérea de Monsanto ocupado pelos insurrectos, e depois atacam e conseguem a rendição do Regimento da Polícia Militar, unidade militar próxima da esquerda revolucionária.
Carlos Fabião e Otelo são destituídos, respectivamente, dos cargos de Chefe de Estado Maior do Exército e de Comandante do COPCON e Ramalho Eanes, o estratega 25 de Novembro, torna-se Chefe de Estado Maior do Exército.
Em 2 de Abril de 1976 é aprovada a Constituição da República de 1976 pela Assembleia Constituinte. Em 27 de Junho Ramalho Eanes é eleito Presidente da República e em 23 de Setembro dá-se a tomada de Posse do I Governo Constitucional, chefiado por Mário Soares.
Nos dias seguintes ao 25 de Novembro o PC foi apoiado e "salvo" pelo célebre discurso de Melo Antunes quando ele disse que o PC era essencial à revolução portuguesa. Melo Antunes pretendia que o poder se baseasse na existência de um equilíbrio. Sem o PC esse equilíbrio far-se-ia mais à direita; com um PC legalizado, o equilíbrio far-se-ia entre o PS e o PC, ou seja, num PS de esquerda, isto é, far-se-ia na zona política onde se encontravam os militares que então tutelavam Portugal.
Este discurso modelou a situação política nos anos que se seguiram. O país continuou sob tutela. Os grandes grupos económicos portugueses haviam sido liquidados e os sectores industriais e financeiros mais importantes ficaram vedados à iniciativa privada. A maioria das empresas públicas ia acumulando prejuízos sobre prejuízos e nada havia a fazer. A tutela militar, que servia de Tribunal Constitucional, e a própria Constituição de 76 impedia quaisquer modificações.
O PS que estivera ligado à revolução, que ganhara prestígio por ter combatido o gonçalvismo, que se tornara o partido hegemónico no sistema político português, não soube governar o país. Mesmo depois do fim da tutela militar, quando era possível criar em Portugal uma economia de mercado que funcionasse, o PS nunca se emancipou dos complexos da esquerda estatizante, apesar de inicialmente, em pleno PREC, ter sido contra as nacionalizações. O país arrastou-se sem rumo, com um clientelismo potenciado pela enorme quantidade de lugares disponíveis nas empresas públicas, em permanente crise económica e orçamental.
A fase terminal da revolução foi a emergência do eanismo, primeiro nos governos de iniciativa presidencial, depois na criação de um partido que iria redimir a pátria da situação miserável onde se encontrava, o PRD. Todavia a pátria não se redime com boas intenções, nomeadamente quando essas «boas intenções» estão equivocadas sobre as formas de resolver os problemas. Mas o PRD conseguiu um objectivo que não estava nas suas intenções. Propôs uma moção de confiança ao governo minoritário de Cavaco Silva. Essa moção é o paradigma dos equívocos da esquerda, vítima dos seus mitos. Como Cavaco Silva não fazia aquilo que cai sob a definição de «política de esquerda», era óbvio que seria derrotado nas eleições, caso a AR fosse dissolvida. Mário Soares, que via no eanismo o seu inimigo principal, dissolveu a AR e Cavaco Silva ganhou as eleições com uma estrondosa e inesperada maioria absoluta.
A revolução terminara.
Publicado por Joana às 11:09 PM | Comentários (21) | TrackBack
outubro 19, 2004
Raul Proença e Jaime Cortesão sobre o 19 de Outubro de 1921
Estes dois textos a seguir apresentados são reveladores das contradições dos seareiros. Por um lado, simpatizavam com o movimento, «por melhores que sejam as intenções dos seus dirigentes», por outro lado ficaram estupefactos de horror perante o seu desfecho. Mas mesmo na descrição dos horrores, Cortesão, aliás então bastante próximo dos anarquistas, escreve: «Os crimes da noite de 19 de Outubro, que vitimaram desde um presidente de ministério a um operário». Um 1º Ministro, e os outros altos dirigentes, não eram vítimas suficientes para tamanha repulsa. Era importante acrescentar ... «um operário».
Simultaneamente o disparar em todas as direcções, meter no mesmo saco tudo e todos, só servia (e serve) para branquear as verdadeiras causas, cujo enunciado todos temiam, pois todos estavam, quer directa, quer indirectamente, implicados.
Os Últimos Acontecimentos
Mais uma vez a mais perigosa das utopias levou este país à epilepsia da desordem, já o tínhamos previsto. Nem foi surpresa para ninguém. Desta vez, porém, a impotência do movimento revolucionário revelou-se tão formidável, que eu julgo-o de incontestável beneficio educativo para o país. Ele lançou talvez o definitivo descrédito sobre o processo. Pôs a claro as ilusões que o determinaram, as mentiras em que se baseia, as consequências que traz consigo. E' um processo em franca liquidação Não cremos que ele possa tornar a arrastar grandes massas de homens; e aos que nos perguntavam no dia seguinte à revolução se ela tinha sido o triunfo da Seara Nova, nós poderíamos ter respondido que sim: pois que contribuirá, mais do que nenhuma outra, para demonstrar que só uma profunda acção educativa e social poderá trazer a este povo os benefícios que ela até agora tem esperado do motim e das revoluções improvisadas. A tese da Seara Nova recebeu mais uma confirmação. A gravidade dos factos compreendemo-la, mas não nos deixamos vencer por ela. Não cremos que seja este o último dia da nossa vida, e o dia de amanhã só tem quem sabe?que lucrar com as tristezas e as misérias do dia de ontem. Aprenderemos, fatalmente teremos que chegar a aprender à custa dos nossos desatinos e do nosso sangue. Experiência dolorosa, trágica, mas nem por isso menos salutar e necessária.
Não duvidamos das boas intenções dos organizadores do movimento revolucionário que acabou de se produzir. Simpatizamos com muitas das ideias do seu programa. Coincide em muitos pontos com a nossa a sua orientação política Não podemos deixar de reconhecer a nobre e dolorosa verdade que há na sua condenação de todo o passado da Republica. Mas já no primeiro numero da nossa revista afirmámos duma maneira categórica que «todos os processos de assalto revolucionário, em que o poder é tomado por surpresa, Sem o esclarecimento prévio do país sobre as intenções dos seus dirigentes, só poderão esperar da nossa parte, e sejam quais forem os princípios de que pretendam inspirar-se, a mais formal e indignada condenação »
Não temos de alterar uma só palavra ás afirmações que fizemos. Continuamos a acreditar que o país só poderá salvar-se depois duma profunda conversão das consciências, duma renovação da mentalidade, dum vasto movimento democrático em que todas as soluções sejam debatidas, esclarecidas e vulgarizadas; numa palavra, depois que se conquiste para um dado plano de reformação uma opinião publica perfeitamente consciente de si mesma, que permita a solução viável e segura de todos os problemas, sem receio de que, dum momento para o outro, falte aos «salvadores» a base da sua acção política. Continuamos a julgar que é um crime decidir da surte do país sem o país ser esclarecido e consultado Continuamos a rotular de «môsco» político o sistema que consiste em abrir as portas do Terreiro do Paço, na calada da noite, pela gazua das revoluções. Queremos fazer a revolução que pregamos à luz do dia, por processos enérgicos, mas pacíficos, em que toda a consciência nacional colabore, e não admitimos nela os criminais-natos que buscam nos movimentos revolucionários uma derivante aos seus instintos antisociais e a satisfação das suas perversas tendências destruidoras.
E a verdade é que, quando um movimento sedicional se produz nas circunstancias do actual, por melhores que sejam as intenções dos seus dirigentes, a baixa vasa humana dos sectários acha neles ocasião asada para exercer os seus instintos de morte e de rapina. Uma meia dúzia de homens caiu varada pelas balas dos assassinos. Prosternemo-nos perante os seus cadáveres. Choremos sobre todos eles as desditas da Pátria. Não perguntemos qual foi a sua política, quais os! seus erros, e os seus nomes Não nos atrevamos sequer a fazer distinções. Foram homens que caíram, vitimas dos erros e dos crimes de nós todos --dos deles próprios também. Vitimas de tudo o que fizemos e do que não fizemos; do que dissemos e do que calámos; do que praticámos e do que consentimos; do nosso egoísmo e do nosso silencio; da ignorância profunda em que deixámos o povo; da nossa falta de ideal, de espírito democrático e visão total das realidades. O sangue dos que caíram deve tingir as mãos de nós todos; e a sua ultima agonia devemos senti-la todos na garganta.
Nos lamentáveis sucessos cabe grande parte de responsabilidade aos dirigentes da Revolução. Porque o mais grave do caso é que podem não ter sido propriamente uns facínoras os homens que mataram António Granjo. Soldados broncos, sem nenhuma espécie de cultura, sem a menor noção das questões políticas e do grau de responsabilidade dos políticos nas desgraças nacionais, talvez julgassem que, se estavam empenhados, eles, soldados da Ordem, em fazer uma revolução contra o governo dum determinado homem, é porque esse homem era um criminoso culpado dos delitos mais graves. Exercendo esse selvagem morticínio, porventura eles teriam julgado praticar um acto de justiça sumaria. Dura e tremenda lição para os que, de aqui em diante, se lancem em movimentos revolucionários que podem armar, como este, os braços dos assassinos - dos que matam pelo prazer de matar ou pelo desejo de desforra, ou dos que assim praticam por considerarem tais actos perfeitamente justificados dentro da lógica e da moral revolucionarias.
O que vai sair de aqui? Quem é bastante estulto para esperar a salvação? Quem acredita ainda nas fraudes revolucionarias? Quem esperará ver nos ministérios que imediatamente se seguirem outra coisa que não sejam ministérios de simples expediente administrativo? E isto quando a força das coisas e a própria lógica das circunstancias nos não levarem para uma ditadura militar, com toda a opressão do sistema militar, e o predomínio dos interesses militares.
Nós, que fizemos o voto de dizer toda a verdade, e de conservar sempre acesa a sua chama luminosa, levantamos a nossa voz de protesto e acusação. Acusamos os de ontem e os de hoje. Os que já fizeram o mesmo e agora condenam nos outros, e os que, para corrigir os erros passados, começam por seguir os métodos do passado. Acusamos os partidos da oposição que conheciam o que se ia passar, e nada fizeram para evitar a catástrofe. Acusamos os que fomentaram todas as desordens, os que fizeram silencio sobre todos os desvarios demagógicos (Afonso, Sidónio e tantos outros), que não tiveram uma palavra de condenação e de proscrição para os miseráveis que, dizendo-se seus partidários, desmentiam todos os sentimentos da humanidade. Acusamos os potentados da finança, os últimos dos pervertidos morais (exploradores, especuladores, açambarcadores, falsificadores, inimigos do Povo, criminosos sacrílegos) que vivem de sugar todo o sangue da nação pelas ventosas da sua ambição desmedida. Acusamo-nos a nós próprios por só agora termos tido este grito, por só agora jogarmos a bem da nação o nosso próprio destino.
Desanimamos definitivamente? Não, cremos ainda. E sobretudo cremos na mocidade, que nós subtrairemos ás ilusões sub-humanas do snobismo, por ser ela aquela parte da nação que melhor pode compreender o nosso gesto e as nossas palavras, por não ter feito ainda do coração a lama asquerosa onde vegetam os baixos sentimentos do egoísmo e da rapina. Compete à mocidade portuguesa o destino mais belo do mundo: fazer duma nação vergonhosa, presa ao vilipêndio de todas as nações, uma nação humana e digna, capaz de se instituir em exemplo de virtude e de trabalho. Que a mocidade responda ao nosso apelo; siga o nosso exemplo; diga como nós: Basta! E como nós se lance na grande aventura de dar à Pátria a salvação. Só assim o sangue dos mortos fecundará a terra em que que nascemos!
20-Outubro-1921. R. P.
Em aditamento ao seu artigo «Crise Nacional» Jaime Cortesão escreveu:
Nota.Tínhamos escrito estas palavras, antes dos últimos acontecimentos revolucionários. Não temos que alterar uma única. Ao contrario, aqueles factos vieram confirmar e agravar muitas das nossas afirmações. Cremos, ao invés dos dirigentes revolucionários, que a crise nacional se agravou temerosamente nestes dias. A boa vontade dos homens não pode modificar dum dia para o outro os vícios e defeitos, que representam a obra e a infiltração dos anos ou dos séculos.
Referimo-nos atrás ao desfecho que a crise nacional fatalmente há de ter, se a tempo não nos emendarmos:«depois dalguns dias de desordem sanguinária, em que todos, todos temos a perder, a tutela estrangeira, clara ou disfarçada». Não estávamos, todavia, convencidos que os factos viessem confirmar tão completa mente essas palavras. Os crimes da noite de 19 de Outubro, que vitimaram desde um presidente de ministério a um operário, seguidos dos «desejos» do corpo diplomático devem bastar como sinal e amostra, para convencer os mais incrédulos da inadiável urgência de mudar inteiramente de caminho.
JAIME CORTEZÃO
Publicado por Joana às 07:50 PM | Comentários (7) | TrackBack
A Seara Nova e o 19 de Outubro
O nº2 da Seara Nova saiu a 5 de Novembro e trazia, sobre a noite sangrenta, um artigo de Raul Proença e uma adenda de Jaime Cortesão a um artigo seu (A Crise Nacional), que apresentamos noutro local .
A Seara Nova apresentou-se sempre como a opinião daqueles que queriam ter uma opinião que não fosse apenas um interesse camuflado. Para ela o país era um lamaçal de corrupção, a grande imprensa como o Diário de Notícias e O Século, apenas servia a oligarquia financeira e o resto dos jornais era um mero instrumento de partidos comprometidos na corrupção.
Os seareiros seriam a revolta dos intelectuais de esquerda contra o regime. Mas intelectuais de diversos quadrantes também desprezavam o regime republicano. Curiosamente, e apesar da polémica de Raul Proença contra o Integralismo Lusitano, em Dezembro de 1923 apareceu a Revista dos Homens Livres que congregava seareiros (António Sérgio, Raul Proença e Jaime Cortesão), integralistas (António Sardinha e Pequito Rebelo), o monárquico conservador Carlos Malheiro Dias, o ex-franquista Agostinho de Campos, o sebastianista Afonso Lopes Vieira (que pretendia «aportuguesar» Portugal) e muitos outros, numa miscelânea heteróclita, todos unidos contra «a finança e os partidos».
António Sérgio, ao escrever nessa revista, na nota de abertura, propunha a procura «duma ideia nacional, de uma finalidade portuguesa, anterior e superior às finalidades partidárias». Numa tentativa de justificar a união de todos aqueles intelectuais de tão diferentes e opostos quadrantes, acrescentava que «a grande linha divisória, nestes nossos dias, não é a que separa as direitas das esquerdas; é, sim, a que distingue [...] os homens do século XX dos homens do século XIX». A «nação», entidade que Sérgio define como um fim e não como uma realidade existente, deveria ser o quadro desta confluência de opiniões. Nenhuma destas opiniões diferencia António Sérgio de intelectuais de direita, ou mesmo fascistas, que emitiam então opiniões semelhantes.
Mais tarde, na revista Lusitânia (1924-1927), dirigida pela figura prestigiada e consensual de Carolina Michaëlis de Vasconcelos, seareiros e integralistas voltaram a colaborar nesse mesmo objectivo de «enquadrar-se no grande movimento de recriação do espírito da pátria».
Quando toda a elite cultural de um país, da direita à esquerda, se une contra um regime, que despreza, há certamente algo de muito errado e muito maléfico nesse regime.
É certo que um seareiro, António Sérgio, foi tentado pelo poder, e chefiou o Ministério da Instrução no governo de Álvaro de Castro, a partir de Dezembro de 1923, experiência que, aliás, só durou dois meses. A Seara Nova prometeu então manter no Governo «a nossa atitude da oposição». Ora esta é uma posição absurda. Não é possível, nem sério, estar num governo e ser simultaneamente opositor desse governo. Governar obriga a concessões, mas os seareiros que detinham, segundo eles, o monopólio da razão não eram adequados a quaisquer concessões. Na maioria dos casos estariam eventualmente certos, como a tentativa de António Sérgio em obrigar a que os funcionários do seu ministério cumprissem os horários, medida que foi altamente impopular e polémica (!?). Aliás o governo caiu sob a ameaça de greves do funcionalismo.
Depois da implantação do salazarismo, a Seara Nova, e os líderes republicanos, em Portugal e no exílio, dedicaram-se à piedosa tarefa de branquearem a 1ª República. Os motivos podem concitar muita simpatia. Lutava-se contra a Ditadura e os seus opositores sentiam-se na obrigação de defender o regime da 1ª República que era o que tinham de palpável, o único exemplo nacional que poderiam opor ao regime ditatorial. Mas o facto é que esse branqueamento era falso e era uma mistificação histórica. A 1ª República havia concitado contra ela todas as forças do país. Os últimos líderes republicanos, principalmente António Maria da Silva, eram unanimemente execrados pela sua baixa estatura ética, caciquismo eleitoral, corrupção, etc.. A 1ª República caiu e afundou-se no mar de lama que ela mesmo tinha produzido.
Condenada por todos, a 1ª República cairia sempre e em qualquer circunstância. Todos, desde a Seara Nova à Cruzada NunÁlvares pediam a Ditadura. Não se referiam, certamente, ao mesmo tipo de Ditadura. Mas quando ela apareceu, começou por ser uma ditadura de republicanos moderados (Mendes Cabeçadas) para rapidamente passar para as mãos da direita e depois de Salazar.
Publicado por Joana às 07:43 PM | Comentários (4) | TrackBack
19 de Outubro de 1921
O 19 de Outubro de 1921 foi o fim da 1ª República. Formalmente ela continuou até 28 de Maio de 1926. Pelo meio, alguns episódios grotescos de um regime em degenerescência: as governações de António Maria da Silva, o carbonário tornado o chefe todo poderoso do PRP e dos respectivos caciques, directas ou por interpostos testas de ferro; a eleição de Teixeira Gomes para a Presidência da República, uma manobra de Afonso Costa para tentar regressar ao poder; a renúncia de Teixeira Gomes quando percebeu que nem conseguia o regresso de Afonso Costa, nem passaria de um títere nas mão do odiado chefe do PRP: renunciou e abandonou o país no primeiro barco que zarpou da barra de Lisboa com destino ao estrangeiro.
Entre o assassinato de Sidónio Pais e os massacres de 19 de Outubro de 1921, Portugal, teoricamente um regime parlamentar, viveu sob uma ditadura tutelada pelos arruaceiros e rufias dos cafés e tabernas de Lisboa e pela Guarda Nacional Republicana, uma Guarda Pretoriana do regime, bem municiada de artilharia e armamento pesado, concentrada na zona de Lisboa e cujos efectivos passaram de 4575 homens em 1919 para 14 341 em 1921, chefiados por oficiais «de confiança», com vencimentos superiores aos do exército. A queda do governo de Liberato Pinto, o principal cacique e mentor da GNR, em Fevereiro de 1921, colocou as instituições democráticas na mira dos arruaceiros e pretorianos do regime a que se juntaram sindicalistas, anarquistas, efectivos do corpo de marinheiros, etc.. O governo de António Granjo, formado a 30 de Agosto, era o alvo.
O nó górdio foi o caso Liberato Pinto, entretanto julgado e condenado em Conselho de Guerra por causa das suas actividades conspirativas. Juntamente com o Mundo, a Imprensa da Manhã, jornal sob a tutela de Liberato Pinto, atacavam diariamente o governo, tentando provar, através de documentos falsos, que o Governo projectava o cerco de Lisboa por forças do Exército, para desarmar a Guarda Nacional Republicana. No Diário de Lisboa apareceram, entretanto, algumas notas relativas ao futuro movimento. Em 18 de Agosto, um informador anónimo dizia da futura revolta: «Mot d'ordre: a revolução é a última. Depois, liquidar-se-ão várias pessoas».
O coronel Manuel Maria Coelho era o chefe da conjura. Acompanhavam-no, na Junta, Camilo de Oliveira e Cortês dos Santos, oficiais da G. N. R., e o capitão-de-fragata Procópio de Freitas. O republicanismo histórico do primeiro aliava-se às forças armadas, que seriam o pilar da revolução. Depois de uma primeira tentativa falhada, em que alguns dos seus chefes foram presos e libertos logo a seguir, o movimento de 19 de Outubro de 1921 desenrolou-se num dia apenas, entre a manhã e a noite. Três tiros de canhão disparados da Rotunda pela artilharia pesada da GNR tiveram a sua resposta no Vasco da Gama. Passavam à acção as duas grandes forças da revolta. A Guarda concentrou os seus elementos na Rotunda; o Arsenal foi ocupado pelos marinheiros sublevados, que não encontraram qualquer resistência; núcleos de civis armados percorreram a cidade em serviço de vigilância e propaganda. Os edifícios públicos, os centros de comunicações, os postos de comando oficiais caíram rapidamente em poder dos sublevados. Às 9, uma multidão de soldados, marinheiros e civis subiu a Avenida para saudar a Junta vitoriosa. Instalado num anexo do hospital militar de Campolide, o seu chefe, o coronel Manuel Maria Coelho, presidia àquela vitória sem luta.
Em face da incapacidade de resistir, às dez da manhã, António Granjo escreveu ao Presidente da República: «Nestes termos, o governo encontra-se sem meios de resistência e defesa em Lisboa. Deponho, por isso, nas mãos de V. Ex.a a sorte do Governo...» António José de Almeida respondeu-lhe, aceitando a demissão: «Julgo cumprir honradamente o meu dever de português e de republicano, declarando a V. Ex.a que, desde este momento, considero finda a missão do seu governo...» Recebida a resposta, António Granjo retirou-se para sua casa. Eram duas da tarde.
O PR recusou-se a ceder aos sublevados. Afiançou que preferiria demitir-se a indigitar um governo imposto pelas armas. Às onze da noite, ainda sem haver solução institucional, Agatão Lança avisou António José de Almeida que algo de grave se estava a passar. Perante tal, conforme descreveu depois o PR, «Corri ao telefone e investi o cidadão Manuel Maria Coelho na Presidência do Ministério, concedendo-lhe os poderes mais amplos e discricionários para que, sob a minha inteira responsabilidade, a ordem fosse, a todo o transe, mantida».
Passando a palavra a Raul Brandão (Vale de Josafat, págs. 106-107), «Depois veio a noite infame. Veio depois a noite e eu tenho a impressão nítida de que a mesma figura de ódio, o mesmo fantasma para o qual todos concorremos, passou nas ruas e apagou todos os candeeiros. Os seres medíocres desapareceram na treva, os bonifrates desapareceram, só ficaram bonecos monstruosos, com aspectos imprevistos de loucura e sonho...».
Sentindo as ameaças que se abatiam sobre ele, António Granjo buscou refúgio na casa de Cunha Leal. Cunha Leal tinha simpatias entre os revoltosos (tinha aliás sido sondado para ser um dos chefes do movimento, mas recusara) e Granjo considerou-se a salvo. Todavia, a denúncia de uma porteira guiou os seus perseguidores que tentaram entrar na casa de Cunha Leal para deter António Granjo. Cunha Leal impediu-os, mas a partir desse momento ficaram sem possibilidades de fuga porque, pouco a pouco, o cerco apertara-se e grupos armados vigiavam a casa. Apelos telefónicos junto de figuras próximas dos chefes da sublevação, que pudessem dar-lhes auxílio, não surtiram efeito.
Perto das nove da noite compareceu um oficial da marinha, conhecido de ambos, que afirmou que levaria Granjo para bordo do Vasco da Gama, um lugar seguro. Cunha Leal vacilou. Granjo mostrou-se disposto a partir. Cunha Leal acompanhou-o, exigindo ao oficial da marinha que desse a palavra de honra de que não seriam separados. Meteram-se na camioneta que afinal não os levaria ao refúgio do Vasco de Gama, mas ao centro da sublevação.
A camioneta chegou ao Terreiro do Paço onde os marinheiros e os soldados da Guarda apuparam e tentaram matar António Granjo. Cunha Leal conseguiu então salvá-lo. A camioneta entrou, por fim, no Arsenal e os dois políticos passaram ao pavilhão dos oficiais. Um grupo rodeou Cunha Leal e separou-o de Granjo, apesar dos seus protestos. Os seus brados levaram a que um dos sublevados disparasse sobre ele, atingindo-o três vezes, um dos tiros, gravemente, no pescoço. Foi conduzido ao posto médico do Arsenal.
Entretanto, vencida a débil resistência de alguns oficiais, marinheiros e soldados da GNR invadiram o quarto onde estava António Granjo e descarregaram as suas armas sobre ele. Caiu crivado. Um corneteiro da Guarda Nacional Republicana cravou-lhe um sabre no ventre. Depois, apoiando o pé no peito do assassinado, puxou a lâmina e gritou: «Venham ver de que cor é o sangue do porco!»
A camioneta continuou a sua marcha sangrenta, agora em busca de Carlos da Maia, o herói republicano do 5 de Outubro e ministro de Sidónio Pais. Carlos da Maia inicialmente não percebeu as intenções do grupo de marinheiros armados. Tinha de ir ao Arsenal por ordem da Junta Revolucionária. Na discussão que se seguiu só conseguiu o tempo necessário para se vestir. Então, o cabo Abel Olímpio, o Dente de Ouro, agarrou-o pelo braço e arrastou-o para a camioneta que se dirigiu ao Arsenal. Carlos da Maia apeou-se. Um gesto instintivo de defesa valeu-lhe uma coronhada brutal. Atordoado pelo golpe, vacilou, e um tiro na nuca acabou com a sua vida.
A camioneta, com o Dente de Ouro por chefe, prosseguiu na sua missão macabra. Era seguida por uma moto com sidecar, com repórteres do jornal Imprensa da Manhã. Bem informados como sempre, foram os próprios repórteres que denunciaram: «Rapazes, vocês por aí vão enganados... Se querem prender Machado Santos venham por aqui...». Acometido pela soldadesca, Machado Santos procurou impor a sua autoridade: «Esqueceis que sou vosso superior, que sou Almirante!». Dente de Ouro foi seco: «Acabemos com isto. Vamos». Machado Santos sentou-se junto do motorista, com Abel Olímpio, o Dente de Ouro, a seu lado. Na Avenida Almirante Reis, a camioneta imobiliza-se devido a avaria no motor. Dente de Ouro e os camaradas não perdem tempo. Abatem ali mesmo Machado Santos, o herói da Rotunda.
Não encontraram Pais Gomes, ministro da Marinha. Prenderam o seu secretário, o comandante Freitas da Silva, que caiu, crivado de balas, à porta do Arsenal. O velho coronel Botelho de Vasconcelos, um apoiante de Sidónio, foi igualmente fuzilado. Outros, como Barros Queirós, Cândido Sotomayor, Alfredo da Silva, Fausto Figueiredo, Tamagnini Barbosa, Pinto Bessa, etc., salvaram a vida por acaso.
Os assassinos foram marinheiros e soldados da Guarda. Estavam tão orgulhosos dos seus actos que pensaram publicar os seus nomes na Imprensa da Manhã, como executores de Machado Santos. Não o chegaram a fazer devido ao rápido movimento de horror que percorreu toda a sociedade portuguesa face àquele massacre monstruoso. Mas quem os mandou matar?
O horror daqueles dias deu lugar a uma explicação imediata, simples e porventura correcta: os assassínios de 19 de Outubro tinham sido a explosão das paixões criadas e acumuladas pelo regime. Determinados homens mataram; a propaganda revolucionária impeliu-os e a explosão da revolução permitiu-lhes matar. No enterro de António Granjo, Cunha Leal proclamou essa verdade: «O sangue correu pela inconsciência da turbaa fera que todos nós, e eu, açulámos, que anda solta, matando porque é preciso matar. Todos nós temos a culpa! É esta maldita política que nos envergonha e me salpica de lama». No mesmo acto, afirmaria Jaime Cortesão: «Sim, diga-se a verdade toda. Os crimes, que se praticaram, não eram possíveis sem a dissolução moral a que chegou a sociedade portuguesa».
Com o tempo, os republicanos procuraram outras explicações. Não podiam aceitar a explicação simples que teria sido a sua acção, o radicalismo da sua política, a imundície que haviam lançado desde 1890 sobre toda a classe política, a sua retórica de panegírico aos atentados bombistas (desde que favoráveis), aos regicidas, a desencadear tanta monstruosidade. Significava acusarem-se a si próprios. Outras explicações foram aparecendo, sempre mais tortuosas, acerca dos eventuais culpados: conspiração monárquica; Cunha Leal (apesar de ter sido quase morto); Alfredo da Silva (apesar de, nessa noite, ter escapado à justa e tido que se refugiar em Espanha) uma conspiração monárquica e ibérica; a Maçonaria (a acção da Maçonaria sobre a Guarda, impelindo-a para a revolução, era constante, mas isso não significa que desse ordens para aqueles crimes)
Os assassinados na Noite Sangrenta não seriam, entre os republicanos, aqueles que mais hostilidade mereceriam dos monárquicos. Eram republicanos moderados. O furor dos assassinos liquidara homens tidos, na sua maior parte, como simpatizantes do sidonismo. Não se tratava de vingar Outubro de 1910, mas sim Dezembro de 1917. Carlos da Maia e Machado Santos foram ministros de Sidónio Pais. Botelho de Vasconcelos, coronel na Rotunda, às ordens de Sidónio Pais. Se as matanças de 19 de Outubro de 1921 foram uma vingança terão de ser referenciadas à República Nova e não ao 5 de Outubro. Aliás, num gesto significativo, os revolucionários libertaram o assassino de Sidónio Pais.
Há na Noite Sangrenta factos que se impõem de maneira evidente. A 20 de Outubro, a Imprensa da Manhã reivindicou para si a glória de ter preparado o movimento, mas repudiou as suas trágicas consequências, especialmente a morte de Granjo. Ora anteriormente, dia após dia, aquele diário havia acusado e ameaçado Granjo, injuriando-o sistematicamente. Como podia agora lavar as mãos da sua morte? Aliás, a atitude dos assassinos foi concludente: depois de matarem Machado Santos, dirigiram-se na camioneta da morte à Imprensa da Manhã para lhe agradecerem o apoio e para aquela publicar os nomes dos que tinham fuzilado o Almirante. Um deles confessou mais tarde que Machado Santos havia sido localizado por informações de jornalistas da Imprensa da Manhã. Os assassinos procuravam a satisfação e a glória de uma obra realizada, no diário matutino onde se proclamara a necessidade dessa realização.
Os assassinos nunca esperaram ser castigados. Mesmo durante o julgamento sempre esperaram a absolvição. Quando foram condenados, entre gritos de vingança e de apoio à «República radical», alguns acusaram altos oficiais de não terem autoridade moral para os condenarem, pois estavam por detrás da carnificina. Os assassinos tinham, de certo modo, razão: eles tinham agido dentro da lógica que o republicanismo tinha instilado neles. Em todos os regimes que nascem e se sustentam no crime e no terror (por muito justa que a causa possa ser), há sempre o momento (ou os momentos) em que a revolução devora os próprios filhos.
Para terminar devo referir que nem Manuel Maria Coelho, nem nenhum dos «outubristas», conseguiu formar um governo estável. O horror fez todos os nomes sonantes recusarem fazer parte de um governo de assassinos. Menos de dois meses depois da revolução, António José de Almeida, em 16 de Dezembro de 1921, entregou a chefia do ministério a Cunha Leal.
A GNR foi pouco a pouco desmantelada e reduzida a uma força de policiamento rural.
A república ficara ferida de morte.
Nota - sobre este assunto ler igualmente:
A Seara Nova e o 19 de Outubro
Raul Proença e Jaime Cortesão sobre o 19 de Outubro de 1921
Publicado por Joana às 12:44 AM | Comentários (11) | TrackBack
outubro 07, 2004
5 de Outubro Monarquia sem monárquicos
Foi o próprio D. Carlos que teria afirmado ser Portugal uma «monarquia sem monárquicos». Este é talvez o mais importante facto relativo à monarquia portuguesa: era uma monarquia de republicanos, no sentido em que quase toda a gente, mesmo entre os líderes dos partidos do Governo, achava a «república», no sentido ideal definido por Antero, um regime superior à monarquia. Se se contentavam com a monarquia, era apenas porque se presumia que o povo português não estivesse preparado para se governar a si próprio. A realeza era, assim, apenas um contrapeso ordeiro à soberania popular. A função do rei seria meramente interina, até o país estar apto a tornar-se numa república, uma força conservadora cujo papel se reduzia a manter um passado, à espera de um eventual futuro. Mas esse passado não tinha sido brilhante naquilo que dizia respeito aos Braganças, que Oliveira Martins acusara de querer vender o Brasil aos Holandeses, durante a Restauração, e de abandonar Portugal a Napoleão um século antes.
Para Malheiro Dias, a única coisa que podia salvar os reis era serem o «resumo das aspirações colectivas». Tinham-se promovido a essa situação simbólica, a um princípio, os monarcas de Inglaterra, Alemanha e Itália. Os ingleses representavam um consenso, os alemães e italianos um propósito agressivo de expansão. Os Braganças não eram uma glória nacional, nem um princípio, mas apenas um expediente temporário.
D. Carlos, quando tinha opiniões, tinha as de um «liberal». Como todos os «liberais», convencera-se de que a monarquia só podia sobreviver se o rei fosse o primeiro dos democratas. Ser impopular à esquerda angustiava-o tremendamente, porque era quase como ser impopular entre os seus correligionários. Infelizmente, para ele, D. Carlos conservou-se frequentemente indiferente ao governo do País, muito ocupado com as suas caçadas, pinturas e aventuras amorosas.
Os chamados «políticos monárquicos» eram apenas republicanos que por conveniência, aceitavam a dinastia. Era neste sentido muito restrito e ordeiro que o próprio João Franco se dizia leal à coroa. Em Maio de 1903, ele explicava essa parcialidade pela dinastia porque «não pode haver Portugal, como ele é há oito séculos, sem monarquia». As causas eram «internas, peninsulares e internacionais». A monarquia em Portugal significava a independência do Estado português na Europa e a ordem nas ruas. E o «atraso da nossa educação cívica mais consolida isso». Ou seja, Franco, como todos os outros políticos «monárquicos», era «monárquico» por defeito, por cepticismo, por cautela conservadora, e não por paixão dinástica. Ele próprio só não era republicano por conveniência, porque considerava que atacar a dinastia não era sintoma de mais do que de simples protestos ou puro idealismo. Como resultado disto, a política «monárquica» consistia, acima de tudo, não em promover a dinastia, mas em desvalorizar a questão do regime. Os «monárquicos» deixavam entender que só não militavam pela república porque achavam que não valia a pena. Em Julho de 1905, Franco declarava indiscriminadamente que «o ser republicano ou ser monárquico é menos importante do que ser português».
Em 1906, João Chagas, um conhecido panfletário republicano, escrevia: «Entre monárquicos e republicanos, em Portugal, não há diferença de crenças. O que há é diferença de posições. Republicanos somos nós todos, mesmo os monárquicos. Se estes aceitam a monarquia, é porque a monarquia existe, nada mais.»
Examinemos agora a «ditadura» de João Franco. Chamar João Franco para o Governo representava, na época, uma abertura à esquerda. Durante o século XX, a maior parte dos historiadores tem repetido impiedosamente as calúnias que a propaganda republicana inventou contra João Franco. O franquismo foi desfigurado como uma desastrada tentativa de combater os republicanos com um governo brutal. Ora, na primeira fase do franquismo, a fase «jacobina», João Franco fez a corte aos republicanos, dando-lhes toda a força, pretendendo trazê-los ao redil, ou mesmo corrompê-los. Com efeito, João Franco foi para o Governo com uma retórica de oposição. Ele era o maior inimigo dos partidos «rotativos», que lhe pagaram da mesma moeda.
Os republicanos ficaram desorientados e divididos perante um poder que subitamente passava a falar como eles, que até os promovia e apoiava. A João Franco ficaram os republicanos a dever a eleição de quatro deputados, a sua maior representação parlamentar até então. Se João Franco quis alguma coisa, foi inaugurar uma nova era de tolerância e democracia. Para ele, os Portugueses eram, «em face da Europa Central e Ocidental, o povo mais atrasado, mais pobre e mais infeliz». A causa de tanta tristeza estava na incompetência e corrupção administrativas. Tais vícios haviam prosperado prodigiosamente desde que a cumplicidade entre os dois partidos «rotativos» havia assegurado aos governos que ninguém fiscalizaria o que faziam. A solução era democratizar o Estado, interessar mais gente na vida pública, responsabilizar criminalmente os políticos enfim, sujeitar o Poder aos tribunais e à opinião pública. O franquismo queria significar a entrada de «ideias novas» numa administração até aí castrada pela «feroz política partidária»
Aliás, a sua subida ao poder resultou de um acordo entre as chefias dos partidos para um programa comum de reformas para limitar o poder dos governos: Uma lei de responsabilidade ministerial, a proibição de despesas extra-orçamentais, uma nova lei eleitoral, em que ficassem consagrados os círculos uninominais e confiar ao poder judicial a organização do recenseamento eleitoral e das eleições, cuja lisura deixava então muito a desejar.
Entrou no Governo, a 19 de Maio e a 29 de Maio publicou uma amnistia para os delitos de imprensa. A 5 de Junho assinou o novo contrato com a Companhia dos Tabacos, mas recusando as alterações que Burnay queria. Resolvia assim a questão dos tabacos, que tanta lama havia lançado sobre a classe política. Nesse mesmo dia, a Câmara dos Deputados, eleita há menos de dois meses, era dissolvida. As eleições ficaram marcadas para 19 de Agosto e as novas cortes convocadas para 29 de Setembro. Franco prometeu logo a mais livre e honesta eleição de sempre e anunciou que não temia deputados republicanos; pelo contrário, até achava que gente como Afonso Costa devia estar no Parlamento. Com efeito, os republicanos elegeram os quatro representantes das minorias por Lisboa.
Os apoiantes de João Franco constituíam o grupo mais numeroso nas Cortes, embora tivessem falhado, por pouco, a maioria absoluta. João Franco precisava de apoio e teve-o, inicialmente, de José Luciano de Castro, chefe dos progressistas. A retirada do apoio dos progressistas, em Abril de 1907, tornou o governo de João Franco minoritário na Câmara. João Franco não era benquisto dos políticos monárquicos. Brito Camacho havia escrito meses antes que «João Franco é disparatado e o disparate consiste em querer governar a monarquia contra os monárquicos».
João Franco, incentivado por D. Carlos, atravessou o Rubicão e tomou então a iniciativa de dissolver as Cortes e passar a governar por Decretos. Foi o que designou por Ditadura Administrativa que, segundo o próprio, seria um mal necessário que terminaria quando a situação geral da política oferecesse as condições e as garantias de um funcionamento útil e regular das Câmaras. Não foi uma ditadura no sentido típico do termo, João Franco era um «ditador» porque governava sem o Parlamento. Por exemplo, os jornais que ele suspendia apenas mudavam de nome e continuavam a ser publicados.
Quando Brito Camacho, no seu jornal A Luta, após o regicídio, se referiu à «ditadura» de Franco, um outro republicano, Francisco Homem Cristo contrapôs: o que faltara a Franco fora uma verdadeira vontade autocrática. Se tivesse acabado com a liberdade de imprensa e prendido os conspiradores, «estar-se-ia rindo e... mais Sua Majestade EI-Rei D. Carlos, que Deus haja». Na Rússia havia muito mais bombistas e grupos armados do que em Portugal, mas não era por isso que a autocracia estremecia. A grande diferença estava no tratamento reservado aos revolucionários: «Na Rússia, vão para a Sibéria. Na Espanha, vão para o fundo de uma enxovia, onde levam chicotadas, ou vão para... o garrote. Em Portugal... vão tomar chá e cavaquear com os oficiais da guarda municipal». Franco nem fez prisões em massa, nem chacinas na rua. Para Homem Cristo, João Franco «Não foi um ditador, mas um pateta.».
João Franco concitou assim contra ele, e contra o rei, a fúria de todos os restantes partidos monárquicos e do partido republicano. Era todavia uma fúria de elites e do proletariado urbano, numericamente escasso. Mas ninguém o batia na retórica radical e na denúncia dos vícios do regime que ele pretendia corrigir. João Franco pescava também nas mesmas águas dos líderes republicanos e isto era um perigo para estes. Se a política de João Franco tivesse continuidade poderia ser o fim dos talassas, do rotativismo parlamentar estéril, a redução do republicanismo a uma força marginal e um novo alento para a monarquia, baseada numa nova correlação de forças.
Esta transformação seria muito difícil, atendendo ao descrédito da monarquia nos meios urbanos (demograficamente muito minoritários, mas os únicos que tinham voz pública). Governar numa situação de crise deve regular-se pela máxima Divide et Impera. A melhor forma de se lidar com aqueles que, numa época conturbada e instável, exigem reformas imediatas e radicais não é resistir a quaisquer concessões, mas separar, através de concessões «razoáveis», os moderados dos radicais. Ou seja, para resistir à revolução, os governantes devem evitar intransigências, que só fazem aumentar as hostes dos conspiradores, e pelo contrário, adoptar a flexibilidade necessária para captarem aqueles de entre os descontentes que estavam prontos a contentar-se com o «possível».
João Franco confiou demasiado na sua retórica, no apoio da «maioria silenciosa» da província e no apoio do rei. E fez aumentar as hostes dos conspiradores, que tentaram a sublevação geral em 28 de Janeiro de 1908, aproveitando a ausência do rei em Vila Viçosa (para caçar, pois claro ...). Descobertos, os principais chefes republicanos foram presos e a 31 de Janeiro o rei assinava, em Vila Viçosa, um Decreto permitindo a deportação dos chefes da revolta para as possessões ultramarinas.
Foi a última assinatura política de D. Carlos. No dia seguinte regressou a Lisboa e foi assassinado logo após o desembarque, juntamente com o herdeiro do trono, Luís Filipe. No séquito real, que ia pelo lado direito do Terreiro do Paço e se aprestava para virar para a Rua do Arsenal, seguia, além da viatura com os reis e os infantes, também a viatura onde viajava João Franco. Não foi este o visado. O elo fraco do regime era o rei. Era este que deveria ser abatido. Sem o rei, João Franco não tinha base política que o sustentasse. Não foi um regicídio: foi um ataque cirúrgico ao regime. D. Manuel II, o novo rei, era um miúdo de 18 anos, que tinha sobrevivido, embora ferido, ao atentado, mas que nunca sobreviveria no mar encapelado e turbulento da política de então.
E foi o que aconteceu. No dia seguinte João Franco era demitido e Ferreira do Amaral nomeado chefe do governo com o apoio de regeneradores e progressistas. As chefias monárquicas teriam julgado que tinha regressado o rotativismo, depois do interregno franquista. Pura ilusão. A monarquia já só existia no papel. Na sublevação seguinte ninguém se levantou para a defender. D. Manuel estava completamente isolado, odiado pela ala conservadora da monarquia, desprezado pela ala esquerda. Todos o abandonam, ou melhor, abandonavam a monarquia. João Franco recusava-se a falar com ele e declarava a quem o queria ouvir: «em Portugal, hoje, ou república ou nada». O próprio Tomás de Mello Breyner, médico do paço (da real câmara) e Conde de Mafra, não lamentou a queda da monarquia onde «quem mandava era a rainha D. Amélia e a sua amiga Condessa de Figueiró». José Alpoim, dissidente progressista e um dos mais turbulentos políticos monárquicos, quando, mais tarde, conspirava contra a república, não se esquecia de sublinhar que se D. Manuel regressasse ele «seria o primeiro a deitar-lhe uma bomba no cais!».
Publicado por Joana às 12:02 AM | Comentários (14) | TrackBack
outubro 05, 2004
5 de Outubro de 1910
A propaganda republicana, principalmente a partir do início do descrédito do Estado Novo, transformou os seus líderes em ícones sacralizados, símbolos da pureza, probidade, desinteresse pelos bens materiais, etc.. Isto não é inteiramente verdade. Os líderes republicanos eram pessoas normais: uns probos e desinteressados, outros muito pouco virtuosos.
António José de Almeida ocupa um lugar proeminente. Em vão é possível reviver, pela leitura dos seus discursos, o efeito prodigioso das suas palavras segundo as crónicas da época; falta-nos ver o gesto e a voz, o brilho dos olhos, o orgulho agressivo da sua cabeleira; apenas subsiste a abundância retórica e a ferocidade das afirmações. Nas Cortes, em 3 de Junho de 1908 declarou: «Logo conversaremos e então lhes demonstrarei que a bomba de dinamite, em revolução, e em certos casos, pode ser tão legítima, pelo menos, como as granadas de artilharia, que não são mais do que bombas legais, explosivos ao serviço da ordem ... O meu propósito é atirar o fio do meu machado contra o tronco da árvore maldita [a Monarquia] até vê-la cair por terra».
Estas afirmações são detestáveis e hoje cairiam muito mal no eleitorado. Mas naquela época, a canalha (designação pela qual então eram conhecidas as massas urbanas menos favorecidas) era facilmente mobilizada pelo discurso radical, agressivo, pela contínua suspeição, pela denúncia de casos (mesmo que não passassem de boatos sem fundamentos) e pela intriga. E era mobilizada também para acções violentas que prestigiavam quem as fazia. A Ilustração Portuguesa (em 1911) apresenta uma reportagem em que carbonários ensinam e mostram como se fabricam bombas, acompanhada de fotografias. O PRP acabou, após ter tomado o poder, por cair na armadilha, que havia construído para os outros, da chicana política, boatos falsos, atentados e ser vítima dos demónios que havia solto.
Regressando a António José de Almeida, a sua isenção e coragem eram os alicerces do seu prestígio. Jamais alguém lhe conheceu ambição de lucro para si ou para a sua clientela e a fama da sua probidade nunca sofreu qualquer eclipse. Por outro lado, nunca declinou a sua quota parte quer na acção quer nas responsabilidades. Acreditava na grandeza da sua missão, e comportava-se, frequentemente, como um iluminado.
Raul Brandão escreveu:«Este António José de Almeida, com quem lido há meses, é uma força generosa e simpática... Irrita-se, barafusta: depois passa-lhe tudo com um riso excelente que aflora e ecoa. Há outra coisa que o honra: acredita, começa sempre por acreditar em toda a gente. Uma grande generosidade, um grande arcaboiço e uma voz poderosa e magnética. Não é decerto um homem de negócios, como os governos modernos necessitam, um político de oportunidades como para aí se requer. Falta-lhe talvez espírito crítico. É um orador: até os seus artigos são discursos. Adora as multidões, vive dos seus aplausos. Mas justiça, liberdade e povo, que para os outros não passam de palavras, são para ele realidades profundas»
Bem diferente é o carácter de Afonso Costa que foi frequentemente acusado de ambição do mando, de preocupação pela posse das realidades concretas. Um seu professor, Chaves e Castro, descreve-o como «ingrato e vaidoso, orgulhoso mas rastejador quando precisava; tumultuoso, insolente, mas tímido ante o perigo, sectarista odiento, amigo das grandezas e comodidades da vida».
Foi sempre aquele que maiores dotes organizadores manifestou, e o mais tenaz e sectário. A sua clientela política era um clã ávido de poder e de desfrutar dos bens terrenos. Foi de um nepotismo escandaloso. Quando ministro da Justiça, em 1911, os melhores lugares foram ocupados pelo seu irmão, pelos seus dois cunhados, pelo seu sócio do cartório, pelo seu procurador, por um amigo íntimo desde os tempos da juventude, etc., etc. Quando Machado Santos, o herói da Rotunda, irrompeu pelo seu gabinete aos gritos de «a Revolução não se fez para isto!», Afonso Costa respondeu-lhe fleumaticamente: «necessito nesses lugares de pessoas da minha confiança» ... Esta foi um característica permanente do seu comportamento.
Afonso Costa era o campeão da anti clericalismo. Quando falou sobre as leis que projectava (Março de 1911), declarou peremptoriamente: «Em duas gerações Portugal terá eliminado completamente o catolicismo». Afonso Costa apenas revelava a mesma arrogância e desconhecimento do país que muitos políticos radicais da actualidade.
Sobre o terceiro político da ribalta republicana, Brito Camacho, amigos e adversários temiam sempre o azedume implacável da sua palavra e da sua caneta. Tudo sacrificava à agudeza de uma frase mordaz. «Mostrou-se sempre tão azedo, que há quem diga que nas suas veias gira vinagre puro, em vez de sangue». Raul Brandão escrevia: «Há nele algo de dissolvente. Direi melhor que ele tem qualquer coisa que afasta os homens. Nem um acto de fé... Em lugar de calor, ironia. Os amigos podem aplaudi-lo e rir-se das suas piadas (riem-se e desconfiam da sua língua), mas a grande massa que forma os partidos é como as mulheres: não compreende a ironia, pelo contrário, tem-lhe medo e chama-lhe veneno...»
A seguir à revolução do 5 de Outubro, quando se quebrou a unidade republicana, em 1912, foram estes políticos que chefiaram as formações emergentes: António José de Almeida formou o Partido Republicano Evolucionista (os evolucionistas); Brito Camacho o Partido da União Republicana (os unionistas) e a chefia do PRP (que passou também a ser conhecido por Partido Democrático) passou para Afonso Costa.
Quanto à monarquia, o alvo principal era o rei. O problema político da monarquia portuguesa era o facto do rei, sendo responsável pela nomeação do Governo, não o ser, como acontecia em Itália ou na Alemanha, responsável por nenhum pelouro da governação em especial (na Itália e na Alemanha, a política externa era conduzida pelo rei ou imperador). Ou, como em Inglaterra, estar fora do desgaste governativo e ser tão só uma figura de consenso nacional. Poder-se-ia pensar que a solução portuguesa poupava o rei ao desgaste político, mas a verdade é que ele se tinha convertido desde o reinado de D. Luís, num árbitro entre os partidos, que se habituaram a atacar ou a ameaçar o rei para acederem ao governo. A monarquia reduzira-se a uma espécie de ponto fraco do partido no Governo. Neste entendimento, o ataque pessoal ao rei tornou-se a forma mais corriqueira de quem estava na oposição lhe lembrar que era tempo de substituir o partido no Governo. Para fazer cair um governo atacava-se o rei, ou o governo através do rei. Como o rei era o responsável pela nomeação do Governo, mas não pela sua política, atacar o rei evitava o debate político e fragilizava a posição do rei e, indirectamente, do governo que ele tinha nomeado.
Quem saía do poder nunca admitia a perda de confiança do País - mas apenas a da confiança da coroa. O rei, como então disse João Franco, emergiu naturalmente como o «homem público mais discutido do seu país». Nos fins de 1907, devido ao seu aparentemente obstinado auxílio ao governo de João Franco, D. Carlos tinha sido declarado o inimigo principal por toda a oposição, incluindo os progressistas e regeneradores, que boicotaram a recepção do ano novo de 1908 no Paço.
Portanto, os partidos monárquicos, quer um quer o outro, foram perdendo energia ao se enquadrarem oficialmente no turno monárquico governamental. A rotação invariável fazia-os passar do poder à oposição e da oposição ao poder. Seria difícil delimitar as suas diferenças ideológicas; giravam em torno de determinadas pessoas e não à volta de ideias claras e distintas. A luta pelo poder não era guiada pelo desejo de desenvolver um bom programa de governo. Assim, a sua capacidade negativa de oposição era imensamente superior à sua capacidade governativa; avultava no ataque, diminuía no poder, e o desgaste do sistema era cada vez mais intenso e persistente.
Duas das questões que mais chicana política levantaram foi a questão dos tabacos e a dos adiantamentos à Casa Real (com o fim do regime feudal a maioria dos bens da Coroa fora nacionalizada e a Casa Real subsistia, parcialmente, através de dotações orçamentais). E a chicana e a intriga veio de todos os lados: partidos monárquicos e partido republicano. Os adiantamentos dominaram a sessão de 20-11-1906 na Câmara dos Deputados, sendo Chefe do Governo João Franco. Com base no alegado escândalo, a minoria republicana preparou uma grande ofensiva. Encheram-se as galerias de público que os Centros republicanos recrutavam e em que se viam habitualmente marinheiros e soldados. Afonso Costa falou. Falou ininterruptamente. Caía a noite e já se tinham acendido as luzes, quando o Presidente o advertiu de que lhe restavam quinze minutos para falar. Então insistiu sobre a questão dos adiantamentos e pediu o cárcere ou o desterro para o Rei. A voz do Presidente que o mandava calar, confundiu-se com os aplausos da galeria. Num momento de silêncio, Afonso Costa gritou: «Por muito menos crimes do que os cometidos por D. Carlos, rolou no cadafalso, em França, a cabeça de Luís XVI».
Negou-se a desdizer-se, e, no meio de grande tumulto, o Presidente, fez entrar a força pública para expulsar Afonso Costa. António José de Almeida saltou por sobre a bancada e convidou a força pública à revolta: «Soldados! Com a minha voz e as vossas baionetas vamos proclamar a República e fazer uma pátria Nova!».
Foram estes os protagonistas do drama do regicídio e da revolução. Após o regicídio de Fevereiro de 1908 (os regicidas Alfredo Costa, um jovem caixeiro numa loja de Lisboa, e Manuel Buíça, professor numa aldeia e ex-sargento de Cavalaria, eram ambos carbonários e fanáticos entusiastas de António José de Almeida), os radicais do republicanismo estabeleceram aquilo a que se chamou «o culto dos regicidas» que provocou diversas manifestações, como a subscrição para a família de Buíça e a propaganda levada a cabo nas escolas. Mas o acto mais importante foi aquilo a que o Conde Arnoso chamou «a vergonhosa e vil peregrinação ao cemitério». Associações, grémios, delegados de diversos organismos, redactores de diários das esquerdas desfilaram, previamente convocados, diante dos túmulos dos regicidas, depositando ramos de flores, coroas, fitas com inscrições laudatórias.
A Marquesa de Rio Maior pediu a Ferreira do Amaral que pusesse termo aquela vergonha. «Agora - respondeu-lhe o Presidente - só penso em acalmar os ânimos». O que levou o Times, relatando os acontecimentos de Portugal, a escrever: «O mundo civilizado observará, provavelmente, que os senhores assassinos é que mandam».
Nota - sobre este assunto ler igualmente:
5 de Outubro As Origens
5 de Outubro O Ultimato
5 de Outubro Monarquia sem monárquicos
Publicado por Joana às 11:59 PM | Comentários (9) | TrackBack
5 de Outubro O Ultimato
Portugal ambicionava unir Angola a Moçambique, através do que é actualmente a Zâmbia, o Zimbabué e o Malavi. Havia todavia uma dificuldade: os ingleses tinham a pretensão de unir o Cairo ao Cabo, além de que estavam interessados naquela zona como complemento da sua Colónia do Cabo. Adicionalmente a Inglaterra, em certa medida, havia sido, ao longo do século XIX, a protectora dos interesses de Portugal no ultramar. Portugal tinha direitos históricos, como comprovavam os trabalhos do Visconde de Santarém, Sá da Bandeira e outros. Mas não tinha tido até então capacidade militar e humana para ocupação.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Barros Gomes, apresentou publicamente o Mapa Cor de Rosa em 1886. Não avisou previamente a Inglaterra, seguro que estava do apoio de outras grandes potências. A Inglaterra protestou, considerando que alguns daqueles territórios já se encontravam sob suserania inglesa e lembrava a doutrina da Conferência de Berlim sobre a ocupação efectiva. Entretanto várias expedições portuguesas estavam a caminho (António Maria Cardoso, Vítor Cordon e Paiva de Andrade). Quando nos primeiros meses de 1889 partiu uma expedição comandada por Serpa Pinto, o ministro inglês em Lisboa protestou. Depois de várias trocas de correspondência a Inglaterra apresentou em 11-01-1890 um ultimato exigindo que Portugal desistisse das suas pretensões.
Barros Gomes, na sua política aventureira, contava com o apoio da Alemanha. Mas a Alemanha entretanto regulara várias questões com a Inglaterra, que lhe cedera a ilha de Heligoland, no Mar do Norte e encetara uma aproximação com os ingleses que lhe facilitaria a solução dos contenciosos coloniais. A Alemanha alheou-se da questão. Portugal estava isolado perante a Inglaterra que, além de ser a maior potência da época, era, apesar de tudo, o aliado mais fiável que o nosso país poderia ter no concerto das grandes potências.
O governo português, reunido de emergência resolveu aceitar o ultimato inglês. D. Carlos era rei havia 3 meses.
O ultimato inglês e a sua aceitação provocaram uma autêntica histeria nacional (obviamente restrita aos meios urbanos, dado o atraso e indiferença dos meios rurais). A estátua de Camões foi envolvida por crepes negros. O rei foi insultado publicamente em todos os tons. Guerra Junqueiro escrevia no Finis Patriae:
Papagaio Real, diz-me quem passa?
- É e-rei D. Simão, que vai à caça.
E, mais adiante:
Papagaio Real, diz-me quem passa?
- É alguém que foi à caça.
Do caçador Simão ...
Como era sabido o entusiasmo de D. Carlos pelas caçadas, não era difícil ler nas entrelinhas destes versos quem era o caçador que deveria ser caçado.
António José de Almeida escrevia, num semanário coimbrão, O Ultimatum, sob o título «Bragança, o Último» que D. Carlos nem sequer merecia a morte: «Portugal, o velho herói magnífico, não lhe pode enterrar a espada gloriosa nas profundezas do estômago, nem pode descarregar-lhe no arcado peito uma das sua espingardas honestas». Afonso Costa defendia a tese «A Monarquia é a causa do envilecimento moral da nação». António José de Almeida foi condenado a 3 meses de prisão por abuso de liberdade de imprensa; Afonso Costa foi absolvido, porque - entendiam os juízes - sustentara uma tese sociológica de livre discussão.
Estes exemplos, entre muitos demonstram a ferocidade com que o PRP se atirou à monarquia. É certo que os partidos monárquicos podiam ser acusados de má gestão dos negócios internos. A nível internacional podiam ser acusados de aventureirismo, por conduzirem o país a uma confrontação com a Inglaterra sem possibilidades de sucesso. Todavia, perante o ultimato, o nosso governo não tinha alternativa.
Aliás, depois da aceitação do Ultimato, Salisbury apostou numa melhoria das relações com Portugal e o nosso país conseguiu o apoio da Inglaterra para ter as mãos livres na colonização dos territórios da África Ocidental e Oriental, cuja maior parte não estava sequer ocupada e que constituíram depois as colónias de Angola e Moçambique com os limites actuais. A Inglaterra "esquecia" a desfeita do seu aliado se ter esquecido dela quando apresentou as suas pretensões ao Mapa Cor de Rosa.
Todavia, a campanha histérica dos republicanos contra a monarquia por causa do Ultimato era hipócrita. Dadas as intrínsecas relações entre liberalismo e republicanismo, e tendo sido a valorização dos territórios africanos um dos projectos mais ambiciosos do libera1ismo português, desde o setembrismo em 1836, é evidente que não existia qualquer divergência fundamental entre monárquicos e republicanos quanto à importância nacional do problema colonial. Se alguém se insurgiu contra os projectos e as realizações da colonização africana, não foram os republicanos, mas, por exemplo, um Oliveira Martins.
Aquilo que os republicanos mais sensatos condenam na política colonial da Monarquia não é, de modo algum, essa política em si mesma, mas as suas inépcias, não foi ter capitulado perante o ultimato, mas ter-se comprometido numa política que deu azo a esse ultimato, «O erro ou o crime de comprometer Portugal numa aventura romanesca, cometeu-se, é este o facto», afirma Basílio Teles, que prossegue: «cometeu-se porque era preciso preparar a monarquia para jogar contra o ascendente do partido republicano a decisiva cartada do novo império africano, pelo menos, no papel». E embora a monarquia tenha jogado esse papel com as vitoriosas campanhas africanas de ocupação, a propaganda republicana, permanentemente vitriólica, não permitiu que a monarquia colhesse disso quaisquer dividendos políticos.
A questão colonial foi um dos estribilhos mais insistentes da propaganda republicana e isso evidencia quanto o problema sensibilizava então a sociedade portuguesa, que não lograra, devido ao peso da história da sua pátria, separar o projecto regenerador do sonho do regresso a passadas glórias. Nesse contexto, a queda do regime monárquico era considerada indispensável para levantar de novo o esplendor de Portugal. Na verdade, os versos da Portuguesa reflectem a consciência republicana Uma nova regeneração da Pátria, enxovalhada por falsas e pretensas regenerações anteriores. Por isso, busca trilhar a via da liberdade democrática, chamando às responsabilidades efectivas da cidadania um povo adormecido que tem vegetado à margem do tempo.
Por isso, após o triunfo da República, esta não teria alternativa senão arrastar Portugal para a Grande Guerra para proteger o Império Colonial Português e para dar corpo às promessas do hino da república:
Heróis do mar, nobre povo,
Nação valente e Imortal,
Levantai hoje de novo
O esplendor de Portugal
Publicado por Joana às 11:57 PM | Comentários (10) | TrackBack
5 de Outubro As Origens
O republicanismo português já existia, latente, na corrente mais à esquerda das Cortes Gerais de 1820, assim como na ideologia setembrista (a partir de 1836) e na rebelião patuleia (1846-47), embora esta rebelião fosse uma mistura muito heterogénea da esquerda setembrista, de elementos absolutistas e de um populismo serôdio baseado no atraso dos meios rurais do país, aquém do tempo histórico dos outros. Porém, sobretudo, ele é originário, matricialmente e no contexto europeu, do jacobinismo da Revolução Francesa de 1789 : Liberdade, igualdade e fraternidade, a bandeira das esperanças progressistas no decurso do século XIX.
O sentimento republicano nasceu assim como reacção contra o imobilismo sem substância em que caíra a ideologia e a política cartistas (adeptos da Carta Constitucional que substituíra a Constituição vintista e a setembrista). Todos os anseios de reforma capitularam perante os interesses consolidados e o temor das inovações.
Não é, pois, contra o liberalismo que o republicanismo se ergue e se afirma, mas sim contra a interpretação que dele foi concretizada no regime constitucional cartista, simultaneamente de teor político, social e económico. Aquilo que o republicanismo pretende, em suma, é superar o compromisso institucionalizado pela monarquia constitucional que, na sua opinião, corromperia as virtualidades liberais, e estabelecer um regime que concretizasse quer a liberdade, quer a igualdade, quer a fraternidade.
Todavia, para lá de alguns meios intelectuais, o republicanismo não teve expressão até 1890. Mesmos os homens mais representativos da geração de 70 - Antero, Oliveira Martins, Eça de Queirós só episódica e superficialmente consideraram a fórmula republicana a mais adequada à efectivação do ideal democratizante que os entusiasmava.
A verdade é que as hostes propriamente republicanas, apesar de aguerridas, eram muito escassas e que se impunha, portanto, uma larga, sistemática e persistente obra de propaganda. Em tal missão se vão empenhar, quase exclusivamente, os republicanos a partir de cerca de 1874 até ao ano decisivo do ultimato inglês (1890), tendo essa propaganda culminado nos festejos cívicos da comemoração do centenário de Camões (1880). Em 3 de Abril de 1870 foi eleito um Directório Republicano Democrático, que se pode considerar o embrião do Partido Republicano, mas até 1890, data do Ultimato, teve pouca adesão eleitoral (nunca teve mais de 2 deputados), adesão diminuída pela concorrência do Partido Socialista que embora nunca tivesse conseguido eleger um único deputado, retirava ao PRP uma parte dos votos contrários aos partidos monárquicos. Porém, nas eleições logo a seguir ao Ultimato o PRP conseguiu eleger 4 deputados (3 dos quais por Lisboa)
O programa do P.R.P. (Partido Republicano Português) resumia-se a reivindicações de carácter exclusivamente político: igualdade (civil e política); liberdade em todas as suas manifestações; governo do povo pelo povo; justiça democrática. Quanto ao escopo económico e social, a única reivindicação que apresenta, aliás bem significativa, é: «a liberdade de troca assegurada por uma legislação liberal em assuntos económicos; abolição dos direitos de consumo cobrados pelo Estado». Na verdade o republicanismo é tão só um liberalismo que, buscando incorporar uma mística patriótica, ou remoçá-la, concebe a «ideia dum ressurgir da pátria portuguesa» mediante um «governo do povo pelo povo».
Mas, considerava Basílio Teles, «com que direito perguntam ao partido republicano por um programa ? ... A monarquia em Portugal tem sido isto: a incompetência, o impudor, a opressão. A estes artigos de fé de regeneradores e progressistas compreende-se que não houvesse senão um acto de caridade a contrapor por homens que não viam ideias a combater, mas atentados a punir: a demolição sumária do regime».
Podem igualmente serem aduzidas outras influências no pensamento republicano. Uma delas, que o marcou muito e concorreu para a sua queda após se ter tornado poder, foi o seu anticlericalismo militante. É despiciendo saber se as causas desse anticlericalismo foram o positivismo de Comte ou a influência maçónica. O anti clericalismo do republicanismo tem, certamente, uma inspiração maçónica, mas fundamentalmente é a revolta contra a estreita aliança estabelecida entre a Igreja e a Carta Constitucional a partir de meados do século XIX. O republicanismo concluiu que só lograria subverter o regime da Carta minando a influência maciça da Igreja nos destinos da vida portuguesa. Por isso, ele reivindicou, desde o início, a separação da Igreja e do Estado. Aquilo que na propaganda republicana estava em causa, no que à religião respeitava, não era a contestação do direito à liberdade religiosa, que em teoria defendiam, mas o papel da igreja católica na sacralização do regime constitucional.
A questão é que o anti clericalismo - e, sobretudo, o anti jesuitismo dos republicanos ganhou entretanto autonomia própria e tornou-se numa forma de perseguição à Igreja Católica, que foi levada a extremos inverosímeis. Por exemplo, e este é apenas um exemplo entre muitos, numa Ilustração Portuguesa de fins de 1910 aparece uma fotografia de dois cientistas republicanos a medirem o crânio de um padre jesuíta, para confirmar, cientificamente que se tratava de um degenerado, o que não é diferente do que os cientistas nazis fizeram com os judeus. Os republicanos triunfantes não queriam deixar a Igreja à solta. Assim não pugnaram apenas pela sua separação do Estado. O Estado passou, de facto, a administrar a Igreja, destruindo-lhe a hierarquia e privando-a de meios de subsistência.
As mulheres, «pela sua crendice fácil», eram, para os republicanos, o principal meio de corrupção jesuítica. As mulheres eram «almas simples», como qualquer ignaro aldeão, que deviam ser protegidas das superstições e das seduções dos padres. Este cuidado paternalista com as mulheres concorreu para que estas, maioritariamente, olhassem com repugnância o regime republicano.
Resumindo, na sua ascensão, o republicanismo recrutou adeptos em todas as classes da sociedade liberal, capazes mental e moralmente de se preocuparem com a coisa pública. O proletariado, inicialmente mais próximo do socialismo, transitou para o republicanismo a partir de cerca de 1890, o mesmo ocorrendo com alguns dos seus mentores, como Nobre França, que havia convivido com Antero e Fontana, grandes proprietários agrícolas, como José Relvas; professores universitários, como José Falcão, Teófilo Braga, Duarte Leite, etc.; altas patentes do Exército e, principalmente, da Marinha; advogados, médicos, professores de todos os graus do ensino em suma, elementos de todas as classes da sociedade liberal convergiram a partir daquela data para a solução republicana.
Assim, um ano depois do Ultimato inglês (11-01-1891), o PRP publicava um manifesto programa que precedeu de 3 semanas a sublevação de 31-01-91. A repressão subsequente ao esmagamento da revolta e a acusação de que o PRP estava implicado nela, fragilizou-o bastante. Nas eleições seguintes só conseguiu 2 deputados e a partir de 1894 até 1900 o PRP desistiu das pugnas eleitorais face às fracas possibilidades de êxito. Para além do caciquismo nos meios rurais, as eleições, embora em teoria livres, não eram, de forma alguma, um modelo em termos de igualdade de tratamento e de lisura nos actos. Situação aliás que não se modificou substancialmente com o advento da república ... apenas os caciques mudaram.
Em vez disso o PRP apostou em criar uma rede de organização partidária, com comissões políticas paroquiais, municipais e distritais. Em 1990 são eleitos 3 deputados, todos pelo Porto, entre eles Afonso Costa. Em 1906 são eleitos 4 deputados (entre eles Afonso Costa, António José de Almeida e Alexandre Braga). Nas eleições a seguir ao regicídio, o PRP elegeu mais três deputados (entre eles Brito Camacho) e ganhou 16 câmaras municipais (entre elas Lisboa). No início de 1910 a representação do PRP subiu para 14 deputados.
Todavia, meses antes da revolução que iria levar a república ao poder, aquele número apenas representava cerca de 10% dos deputados.
Publicado por Joana às 11:40 PM | Comentários (1) | TrackBack
abril 25, 2004
25 de Abril
Já há o distanciamento temporal suficiente para se fazer uma análise objectiva do 25 de Abril e dos acontecimentos que lhe sucederam. Sucede todavia que nos debates sobre esses acontecimentos se mistura quase sempre o clima emocional de quem os viveu. E a emoção é inimiga da razão.
Em primeiro lugar tem que ser dito sem ambiguidades que os acontecimentos designados por 25 de Abril constituem, pelo menos na forma, uma revolução.
Na verdade, a forma como esses acontecimentos se encadearam é típica de uma revolução.
Em primeiro lugar houve a fronda dos notáveis. Aconteceu em França, porventura a revolução mais «típica», com a convocação dos Estados Gerais, a tomada da Bastilha e a «Revolução dos Notáveis»; aconteceu em Portugal com a ala liberal do marcelismo, o pronunciamento militar do 25 de Abril e o primeiro governo provisório.
A segunda fase corresponde ao desmoronamento do poder instituído até então, que degenera no vazio do poder do Estado: O poder «cai na rua». O «poder da rua» não corresponde, necessariamente, ao sentir da população. Corresponde apenas ao protagonismo de sectores da população mais facilmente mobilizáveis para a acção pública pelas forças mais radicais, explorando o facto das forças que se poderiam opor ou não estarem ainda organizadas ou (as ligadas ao anterior regime) estarem desacreditadas.
Esta segunda fase foi, em Portugal, designada por PREC (processo revolucionário em curso) e desenvolveu-se entre o 28 de Setembro de 1974 e a queda de Vasco Gonçalves, sendo derrotada definitivamente em 25 de Novembro de 1975. Comparando com a revolução francesa, correspondeu ao período entre 1790 e 1794, compreendendo o «Terror» (1792-94) e que foi derrotada no 8 Thermidor. É óbvio que a similitude está nos aspectos teóricos. Na prática esta fase saldou-se em França por mais de uma dezena de milhares de vítimas, enquanto em Portugal, país de brandos costumes, não teriam chegado à dezena. Houve todavia situações de grande violência verbal e alguma violência física que poderiam ter degenerado numa guerra civil eventualmente sangrenta.
A terceira fase é a fase do refluxo revolucionário, onde as forças em luta tentam chegar a um equilíbrio. As forças que derrotaram o «PREC» (ou o «Terror») apenas conjunturalmente estiveram unidas; aparecem clivagens entre elas e não há uma autoridade institucional que se faça respeitar integralmente. Foi a fase dos sucessivos governos provisórios em Portugal e, continuando a nossa comparação com a revolução francesa, foi a fase da reacção thermidoriana e do Directório.
A quarta fase é a da necessidade de uma autoridade forte para conseguir manter o precário equilíbrio a que se havia chegado e evitar que a situação descambe ou se descontrole. Em França foi o bonapartismo, que teve características muito peculiares e que acabou por arrastar a França para guerras sucessivas que se prolongaram por 15 anos e que levaram à sua derrota. Em Portugal o enquadramento era diferente e o fenómeno eanista acabou por não ter a expressão que inicialmente se pensou que poderia vir a ter. O eanismo em Portugal seria uma versão muito mitigada do bonapartismo francês porque as forças democráticas tinham conseguido encontrar equilíbrios e consensos que dispensaram um solução de tutela militar.
Finalmente, após estes fluxos e refluxos (ou «avanços e recuos») gera-se uma situação de equilíbrio cuja configuração política e social que corresponde à «consciência possível» da sociedade. Dá-se, pouco a pouco, uma normalização institucional e recupera-se a autoridade do Estado, alicerçada num novo «contrato social».
Portanto, na forma como decorreu, o 25 de Abril foi uma revolução. Mas sê-lo-ia pelos resultados?
Muitos têm a opinião que uma revolução deveria corresponder a uma alteração das estruturas sociais. Em França, em 1789-1799 o regime feudal foi destruído e substituído pelo regime capitalista, embora numa fase ainda primitiva. Na Rússia o regime capitalista foi substituído pelo regime socialista (também aqui, a sucessão de acontecimentos revolução de Fevereiro, a tomada de poder pelos sovietes, a dissolução da Assembleia Constituinte, a Guerra Civil e a emergência do estalinismo configura um encadeamento de ocorrências assimilável ao figurino «tipo» de uma revolução).
Em Portugal houve forças que tentaram o estabelecimento de um regime socialista com a apropriação colectiva dos meios de produção. Cunhal declarou várias vezes que o Estado Socialista estava próximo. Nacionalizaram-se diversos sectores da economia portuguesa e criaram-se as Unidades Colectivas de Produção (UCP) com as terras ocupadas aos proprietários. Muitos imóveis foram ocupados. O MFA, alcandorado a «vanguarda revolucionária das forças armadas» (um conceito bebido na sebenta leninista), que tinha a realização de eleições como ponto central do seu programa inicial, acabou por as permitir, mas obrigando os partidos concorrentes a assinarem um pacto prévio comprometendo-se a respeitarem as «conquistas revolucionárias».
Face à derrota eleitoral, o MFA, o PC e a extrema-esquerda tentaram expedientes alternativos para anularem o voto popular. Os meios de comunicação, nas mãos daquelas forças, desdenhavam da Constituinte e sugeriam modelos institucionais alternativos. Mas esse processo revolucionário foi interrompido com a queda de Vasco Gonçalves, na sequência de parte do MFA ter verificado o seu isolamento progressivo no país. Mesmo a nível do «poder de rua», as mobilizações de massas conseguidas por Mário Soares mostraram que a extrema-esquerda civil e militar estava isolada. O 25 de Novembro foi a tradução militar da derrota eleitoral. A partir daí as «conquistas revolucionárias» foram revertendo lentamente. Os sectores industriais básicos e os sectores segurador e bancário que haviam sido nacionalizados, foram posteriormente privatizados. O modelo comunista de reforma agrária foi igualmente liquidado. As tentativas de ruptura social do país falharam como tal e apenas se traduziram na nossa ruína económica, ruína de que só lentamente o país foi emergindo posteriormente.
O que mudou de facto Portugal foi a democracia. A democracia acabou por vencer e consolidar-se pouco a pouco. Neste entendimento, não houve, de acordo com a perspectiva anteriormente enunciada, uma revolução, mas sim, como escreveu Boaventura Sousa Santos, uma «Crise Revolucionária», isto é, uma tentativa revolucionária que se gorou.
Canotilho e Vital Moreira escreveram, em 1993, que «entre 25 de Abril de 1974 e 25 de Abril de 1976 desenvolveu-se uma revolução, certamente uma das mais profundas e popularmente participadas das revoluções portuguesas». Compreende-se o entusiasmo dos autores que participaram de corpo e alma nessa revolução, escrevendo numa época ainda bem próxima. Todavia todas as revoluções são participadas. É mesmo uma das características das revoluções ou das «crises revolucionárias». Mas o 25 de Abril não alterou, qualitativamente, a estrutura social portuguesa.
A revolução de 1820, e as sucessivas crises e guerras civis até ao triunfo da causa liberal, saldou-se na liquidação do regime feudal e a instauração de uma estrutura social que permitiu o estabelecimento do sistema capitalista. Essa revolução teve um impacte muito mais profundo na sociedade portuguesa do que o 25 de Abril. Alterou, qualitativamente essa sociedade, coisa que não aconteceu com o 25 de Abril. Neste entendimento, Vital Moreira e Canotilho erraram naquela caracterização, embora possam alegar em sua defesa o entusiasmo de que estavam possuídos por terem participado naqueles eventos.
O 25 de Abril trouxe a democracia, assim como o 5 de Outubro trouxe a república e assim como a crise revolucionária de 1383-1385 trouxe a mudança da dinastia. Em todos eles se produziu um significativo aperfeiçoamento do regime social. Nos três casos, houve igualmente a mudança dos protagonistas políticos a partir de 1385, uma nova nobreza (alguns oriundos da burguesia) substituiu, em grande parte, a antiga nobreza, desapossada; na república os próceres monárquicos (e os respectivos partidos) desapareceram de cena para dar origem a toda uma nova classe política; no 25 de Abril aconteceu o mesmo, os anteriores protagonistas políticos desapareceram, quase todos, de cena.
Mas uma revolução não significa necessariamente uma ruptura na estrutura social. Pode significar apenas a mudança da superestrutura política. Nesse entendimento aqueles três eventos podem ser considerados revoluções. Mas o 28 de Maio de 1926 também teve impacte semelhante, isto é, levou à substituição dos protagonistas políticos. Há todavia uma diferença significativa. Nos três casos acima assinalados houve aperfeiçoamentos e modernizações das sociedades respectivas, sem rupturas qualitativas. No caso do 28 de Maio, embora alguns dos seus promotores iniciais pretendessem, ingenuamente, um aperfeiçoamento, o que aconteceu foi uma regressão social, a liquidação da democracia e o estabelecimento de um regime autoritário.
Mas mais: haver uma revolução, não significa que ela triunfe. O que cada grupo social, que participa na revolução, entende por triunfo, depende dos objectivos que cada um tinha, quer à partida, quer objectivos estabelecidos no decurso do processo revolucionário.
O entendimento dos diversos grupos políticos e sociais sobre o 25 de Abril reflecte portanto as expectativas que cada um tinha sobre o seu resultado. Os que pretendiam que fosse, de facto, uma revolução com uma transformação qualitativa das estruturas sociais e económicas, falam de revolução inacabada, revolução desvirtuada e caracterizam-na, teoricamente, como uma «crise revolucionária». Mas apesar disso, ou talvez por isso mesmo, referem-se a ela como uma espécie de ícone milagroso, sebastiânico. Algo que estará predestinado que se cumpra, como um acto messiânico. Quando falam do 25 de Abril não se referem à conquista da liberdade e da democracia, nem à normalização da vida democrática. Referem-se aos objectivos da revolução social que, durante o PREC, lhes pareceram possíveis de serem atingidos, que foram derrotados primeiro nas urnas e depois no interior das forças armadas, mas que mantêm um carácter mítico e onírico. O 25 de Abril não é o que sucedeu realmente, mas sim o que poderia ter acontecido e que há de acontecer fatalmente
Pode parecer paradoxal que aqueles que acham que o 25 de Abril foi uma revolução inacabada, uma revolução desvirtuada ou uma «crise revolucionária» sejam os que mais se insurgem contra a «rasura» do «R» que deu «Evolução». A questão é que, nessa discussão, eles não estão a caracterizar o 25 de Abril «em si», mas um 25 de Abril com as potencialidades de ruptura social que desejavam que tivesse ocorrido e que haverá de ocorrer. É o paradigma do «25 de Abril sempre».
Daí o debate acalorado sobre revolução versus evolução. Parece uma questão bizantina face aos resultados obtidos nos últimos 30 anos, mas mexe com o mito de uma revolução que não se cumpriu por uma fatalidade histórica, mas que se mantém como algo que se irá cumprir como um fim pré-determinado.
Publicado por Joana às 08:08 PM | Comentários (31) | TrackBack
O Fim de um Regime
Nas vésperas do 25 de Abril o país vivia o rescaldo da «primavera marcelista». Marcelo Caetano tinha sucedido a Salazar, em fins de 1968, apoiado pela ala liberal do regime.
Marcelo Caetano não era propriamente um liberal. Ainda muito jovem aderiu às correntes integralistas, conviveu com António Sardinha e, posteriormente, foi o ideólogo mais consistente do corporativismo. Todavia a lenta agonia do salazarismo, nomeadamente após o início das guerras coloniais e das contestações estudantis, levou-o a perceber que seria necessária uma liberalização do regime, quer política, quer, principalmente, económica.
A liberalização económica e o fomento industrial foram os maiores, e porventura os únicos, trunfos da governação marcelista. Era um modelo de desenvolvimento fortemente voltado para a abertura ao exterior e de apoio à iniciativa privada. As leis restritivas de inspiração corporativista foram eliminadas e o país conheceu uma época de forte expansão económica. A estratégia de Rogério Martins, o Ministro da Indústria, baseava-se numa avaliação inteligente das vantagens comparativas de Portugal posição estratégica (polo de Sines); mão de obra barata e adaptável (inúmeras unidades estrangeiras que se fixaram em Portugal na área da electrónica, componentes de automóveis, etc.), químicas e químico-metalúrgicas pesadas, etc..
Todavia a liberalização económica teria, obrigatoriamente, que marchar par e passo com a liberalização política. E esta não foi possível. As eleições de 1969, certamente as menos fraudulentas do regime do «Estado Novo», nem por isso deixaram de ser fraudulentas: o recenseamento cobriu apenas uma parcela do eleitorado potencial, a campanha eleitoral não foi nem livre nem justa e não houve fiscalização adequada do acto eleitoral. Por sua vez a abertura sindical não teve continuidade e, a partir de 1970, deu-se uma reversão dessa política de abertura.
Por outro lado a manutenção das guerras coloniais sem que se descortinasse qualquer solução política ou militar, era um ónus terrível a nível internacional, dificultando as relações exteriores de Portugal com as evidentes implicações económicas, quer no investimento externo, quer nas pautas aduaneiras com os espaços económicos que se formavam na Europa. Era também um grave problema interno, embora não que houvesse um forte movimento popular contra a guerra. A própria oposição, durante a campanha eleitoral de 1969, evitou pronunciar-se a favor do abandono do Ultramar. A concepção imperial do Portugal «Uno e Indivisível do Minho a Timor» ainda era muito forte entre a população. Todavia muitos jovens fugiam ao serviço militar através da emigração clandestina, engrossando a forte emigração dos últimos anos do marcelismo, que sangrou abundantemente as camadas mais laboriosas da nossa população. Era, mesmo indirectamente, uma forma de contestação à guerra colonial, com reflexos muito negativos na economia e na demografia do país. Adicionalmente, o enorme esforço financeiro a que a guerra obrigava era um entrave ao fomento económico e industrial.
O modelo marcelista entrou em esgotamento durante 1973, pelas causas estruturais acima descritas, agravadas sobremaneira pelo choque petrolífero de 1973, com o aumento dramático do preço do crude e as implicações decorrentes: agravamento do défice comercial, derrapagem da situação monetária e financeira, etc..
Paradoxalmente um movimento de origem corporativa de jovens oficiais de carreira indignados com a promulgação de um decreto que prejudicava as suas possibilidades de progressão de carreira em detrimento dos oficiais milicianos deu origem, em poucos meses, a um movimento de contestação ao regime que levaria à liquidação deste por um golpe militar em 25 de Abril de 1974.
Nos meses que precederam o golpe, Marcelo Caetano tentou manter o regime a todo o custo: abriu secretamente negociações com o PAIGC para uma solução negociada e uma eventual independência da parcela colonial em que a situação militar era, de longe, a mais difícil e a repulsa por ser mobilizado para o seu contingente era total; nomeou Spínola e Costa Gomes para as chefias do Estado-Maior, talvez com o intuito de controlar a oficialidade intermédia, e depois demitiu-os quando verificou que não só não conseguiu esse desiderato, como Spínola e Costa Gomes se poderiam tornar os chefes de um eventual movimento insurreccional.
Marcelo Caetano estaria provavelmente convencido que as estruturas que apoiavam o regime eram muito mais fortes do que eram realmente. A «brigada do reumático» que em 14 de Março de 1974 lhe foi prestar vassalagem, já não tinha autoridade hierárquica real sobre as forças armadas. As estruturas políticas estavam desacreditadas. As cedências de Marcelo Caetano à ala conservadora não serviram de nada porque esta só tinha força no papel; na prática já não tinha um peso real. Quando o golpe militar saiu à rua, na madrugada de 25 de Abril, não apareceu ninguém a defender o regime. Nenhuma das unidades militares potencialmente aptas a fazê-lo, nenhuma entidade civil, ninguém se levantou em sua defesa.
O próprio Marcelo Caetano parece ter decidido que não valia a pena resistir. Em 16 de Março tinha ficado à frente do ministério, no Comando da Região Aérea, em Monsanto, como estava determinado. Em 25 de Abril decidiu, sem deixar quaisquer instruções aos outros membros do governo, refugiar-se no Quartel do Carmo, numa posição muito exposta.
É o destino dos regimes portugueses. Caiem de maduros basta um ligeiro abanão. Foi assim em 1 de Dezembro de 1640, em 24 de Agosto de 1820, em 5 de Outubro de 1910 e em 25 de Abril de 1974. Posteriormente, em todas aquelas revoluções, passado o estupor inicial, houve tentativas de contra-revolução, mas todas incipientes, se exceptuar-mos o caso da guerra civil ocorrida na sequência da revolução liberal.
Publicado por Joana às 07:59 PM | Comentários (5) | TrackBack
fevereiro 29, 2004
Integralismo Lusitano - uma síntese
Um leitor deste blog inseriu um comentário a um texto que eu escrevi sobre António Sardinha, na data da efeméride da sua morte. Como se trata de um comentário muito extenso e com bastante interesse documental, resolvi transcrevê-lo aqui, no corpo do blog, agradecendo em simultâneo ao Rodrigo a sua inserção.
Queria ainda acrescentar que o meu texto sobre António Sardinha foi objecto de uma série de comentários com bastante interesse sobre essa notável figura que eu julgava mais esquecida do que afinal está, a avaliar pela polémica que despertou.
-----------------------------------------------------
Integralismo Lusitano uma síntese
Por José Manuel Alves Quintas
1. A formação, 1913-16
A expressão "Integralismo Lusitano" foi usada pela primeira vez por Luís de Almeida Braga na revista Alma Portuguesa (Gand, 1913) designando um projecto de regeneração de Portugal.
Em 1913, Almeida Braga exprimia-se em termos religiosos e filosófico-estéticos, se bem que com evidente intencionalidade político-cultural, reagindo ao Saudosismo gnóstico de Teixeira de Pascoaes (O Espírito Lusitano ou o Saudosismo, 1912) e ao movimento da "Nova Renascença" (criado pelo grupo de republicanos portuenses da revista A Águia). Na vertente político-religiosa, estes defendiam que o regime republicano abria novas possibilidades de regeneração para Portugal, mas que esta só se concretizaria se fossem quebrados definitivamente os laços com a Igreja Católica; Almeida Braga, interpretando o recém-implantado regime republicano como uma nova etapa no processo de decadência, advogava que a regeneração só seria possível através de um retorno à integralidade do espírito católico que fizera Portugal.
Esta era uma visão partilhada por um grupo de jovens estudantes monárquicos, exilados na sequência da sua participação nas incursões da Galiza comandadas por Paiva Couceiro entre os quais se contava também Simeão Pinto de Mesquita e Francisco Rolão Preto , que contestavam, afinal, no plano religioso e filosófico-estético, uma das expressões culturais da ofensiva anti-clerical republicana.
O projecto integralista lusitano, porém, depressa transbordou para o plano político. Em 1914, na revista Nação Portuguesa, sob a direcção de Alberto de Monsaraz, a expressão "Integralismo Lusitano" designava já um índice de soluções sob o título "monarquia tradicional, orgânica, anti-parlamentar". Tanto quanto promover o renascimento do espírito católico na alma dos portugueses, criar uma nova literatura e uma nova arte despojada do espírito romântico do século anterior, havia agora que trazer de novo à luz do dia os princípios políticos da antiga Monarquia portuguesa.
Para os integralistas, não haveria uma verdadeira regeneração portuguesa sem o retomar das suas antigas tradições políticas. A Monarquia do absolutismo Iluminista (introduzida em Portugal pelo Marquês de Pombal no século XVIII), bem como a sucedânea Monarquia da Carta (importada pelos liberais de novecentos), tinham sido estrangeirismos descaracterizadores, responsáveis pela subversão dos princípios democráticos e populares da antiga Monarquia.
Se bem que os integralistas recuperassem o espírito dos Vencidos da Vida ao defenderem o imperativo regeneracionista de um "reaportuguesamento de Portugal", iam agora mais fundo: era necessário recuperar o antigo pensamento político português que, do mesmo passo, reconhecera os foros e liberdades da República (das comunas urbanas, dos concelhos rurais, etc.), estabelecera as regras da sua representação em Cortes e definira o conteúdo dos pactos que os Reis, sob pena de Deposição, juravam respeitar.
E foi em torno desse princípio orientador - "reaportuguesar Portugal" - que um grupo de jovens monárquicos, que não se reconheciam na Monarquia deposta como Hipólito Raposo, Luís de Almeida Braga, José Pequito Rebelo , se reuniu com um grupo de republicanos entretanto convertidos ao monarquismo por se não reconhecerem na República recém-implantada António Sardinha, João do Amaral, Domingos Garcia Pulido, entre outros.
Em 1914, os integralistas apresentaram um índice de soluções politicas e afirmaram obediência a D. Manuel II. O seu propósito, no entanto, ainda não visava uma intervenção política na direcção da conquista do poder. Antes de mais, havia que lembrar aos próprios monárquicos o que fora a antiga Monarquia portuguesa; era necessário voltar a semear as ideias do pensamento político português, ler de novo autores como Álvaro Pais, Frei António de Beja, Jerónimo Osório, Diogo de Paiva, Frei Manuel dos Anjos, Frei Jacinto de Deus, Sousa de Macedo, Pinto Ribeiro, Velasco de Gouveia
A primeira reacção dos políticos que defendiam os regimes constitucionais modernos, tanto monárquicos como republicanos, foi a de se fazerem desentendidos, acusando os integralistas de cópia de um movimento político neo-monárquico que, naquela época, fazia furor em Paris a Action française. Bem diversa foi a reacção do velho "Vencido da Vida Ramalho Ortigão que, na Carta de um Velho a um Novo (1914), depôs as suas armas perante aquela nova ala de namorados, explicando em que consistia a sua incontestável superioridade: estes tinham admiravelmente pressentido a necessidade culminante da reeducação integral do povo português («Filhos de Ramires» - a herança de «Os Vencidos da Vida»).
Em 1915, na vaga de crescente activismo monárquico, os integralistas acabaram sendo catapultados a um lugar de destaque entre os manuelistas, apesar do seu programa contrastar vivamente com o modernismo político da maioria. Ao realizarem um ciclo de conferências na Liga Naval de Lisboa, alertando para o perigo de uma absorção pelo Reino de Espanha, o seu violento desfecho as instalações da Liga Naval foram assaltadas e destruídas, sem que Luís de Almeida Braga tivesse apresentado A Lição dos Factos acabou por projectá-los para a ribalta política.
2. A esperança restauracionista, 1916-19
Com a entrada de Portugal na Grande Guerra, em Abril de 1916, os integralistas lusitanos decidem anunciar a sua transformação em organização política. No Manifesto subscrito pela Junta Central recém-constituída, reafirmaram obediência a D. Manuel II e a sua confiança na aliança luso-britânica, chamando os restantes monárquicos a cerrar fileiras em torno da Pátria em guerra.
Com a chegada ao poder de Sidónio Pais, os integralistas colaboraram activamente na situação presidencialista que se esboçou. O propósito Sidonista de acolher uma representação socioprofissional no Senado tinha para eles profundo significado político: pôr fim ao monopólio da representação por intermédio de partidos ideológicos (regime parlamentar), permitindo a representação dos municípios, dos sindicatos operários, dos grémios profissionais e patronais, etc., era dar um primeiro passo no sentido do restabelecimento da democracia orgânica da antiga Monarquia portuguesa.
Na sequência do assassínio de Sidónio Pais, os integralistas entenderam que soara a hora da restauração do Trono. Face à imediata reacção dos partidos, que de novo se arrimaram ao poder com o intuito de restabelecer o parlamentarismo, os integralistas vêm a desempenhar activo papel no desencadear do pronunciamento restauracionista de Janeiro de 1919 (ver Os combates pela bandeira azul e branca, 1910-1919), no Porto e em Lisboa (Monsanto). A Restauração declarou em vigor a Carta Constitucional, mas isso não impediu que os integralistas manifestassem aceitar a nova ordem. Primum vivere, deinde philosophare era o princípio que adoptavam; agarravam a parte prática e positiva" da obra restauradora.
3. Redefinição estratégica, 1919-22.
Durante a denominada "Monarquia do Norte", houve destacados monárquicos, como Alfredo Pimenta, que só souberam dos acontecimentos através dos jornais. Os integralistas, directamente envolvidos nas acções político-militares que rodearam os pronunciamentos, retirarão graves conclusões da derrota, procedendo a uma completa reavaliação da sua posição, tanto na questão dinástica, como na questão política.
Na questão dinástica, interpretando o imobilismo de D. Manuel II, no decurso dos acontecimentos, como um sinal de incapacidade e fraqueza, decidem desligar-se da sua obediência, declarando colocar o interesse nacional acima da Pessoa do Rei.
Na questão política, desfeita a aliança com os manuelistas, resolvem assumir a integralidade do seu ideário. Em 1919, ficara definitivamente enterrada a Monarquia da Carta. A resolução do problema nacional teria doravante que passar por um Pacto a estabelecer entre o Rei, os municípios, e os trabalhadores de todas as classes e profissões organizados corporativamente.
Estabelecidas negociações com o ramo legitimista da Casa de Bragança vem então a obter-se o Acordo de Bronnbach (1920), pelo qual a Junta Central do Integralismo Lusitano e o Partido Legitimista fizeram o reconhecimento conjunto do neto do Rei D. Miguel I, D. Duarte Nuno de Bragança.
Perto de 2 anos depois, o pacto dinástico de Paris ainda veio colher de surpresa os partidários de D. Duarte Nuno. Porém, e enquanto os manuelistas rejubilavam com os termos do acordo, no dia imediato, os Integralistas Lusitanos e os Legitimistas recusaram-se a reconhecê-lo e a acatá-lo.
A questão criada pelo Pacto de Paris só ficou definitivamente resolvida em 1926, quando a Tutora de D. Duarte Nuno, D. Aldegundes de Bragança, o repudiou formalmente, mas, para os integralistas, havia um equívoco maior que, mais tarde ou mais cedo, acabaria também por ceder: o de se alicerçar um regime nas clientelas partidárias, fossem elas monárquicas ou republicanas. A 1ª República, ao reproduzir o modelo parlamentar da Monarquia deposta, organizando-se por hierarquias de políticos e de caciques, acabaria também por ruir. Para os integralistas, era decerto necessário continuar a promover o princípio monárquico, mas era agora absolutamente imprescindível refazer as corporações, os sindicatos, e organizar uma acção nacional paramilitar com forças voluntárias e audazes. Deixava de bastar uma simples restauração do Trono. A luta a travar não se podia cingir ao plano estritamente político. Estava aberta a via que vem a desembocar no Movimento Nacional-Sindicalista: Alberto de Monsaraz reedita a Cartilha do Operário e Francisco Rolão Preto é cooptado para a Junta Central do Integralismo Lusitano (1922).
4. Os esfacelamentos, 1922-34.
Durante os anos 20 os integralistas vêm a alimentar muitas esperanças e a sofrer não menos contrariedades e decepções.
Em 1925, a morte de António Sardinha, quando tinha apenas 37 anos, foi sentida como uma grande perda. A Junta Central ficava sem aquele que, dada a força mística do seu Verbo, e apesar do ascendente de Hipólito Raposo, muitos consideravam ser o líder dos integralistas.
De imediato, o Integralismo Lusitano desempenhará papel de relevo nas movimentações político-militares que levaram ao derrube do regime parlamentarista, em 28 de Maio de 1926. Pouco depois do general Gomes da Costa ter sido afastado da direcção da Ditadura Militar, porém, a Junta Central integralista ("Primeira Geração") começou a fazer sentir as suas reservas acerca da evolução da situação política. As prevenções e cautelas que estes faziam sentir junto da sua hoste acabaram por não encontrar acolhimento. Muitos persistiram colaborando com a Ditadura, sucedendo-se as dissidências e cisões: em 1927, desvincularam-se José Maria Ribeiro da Silva, Pedro Teotónio Pereira, Manuel Múrias, Rodrigues Cavalheiro, Marcelo Caetano, Pedro de Moura e Sá; em 1928, Manuel Múrias consumou a sua dissidência; em 1929, deu-se a ruptura definitiva de Teotónio Pereira e Marcelo Caetano, dissolvendo o Instituto António Sardinha; em 1930, deu-se a dissidência de João do Amaral.
Consumada definitivamente a ruptura entre os mestres do Integralismo Lusitano e a Ditadura, em 1931, e perante a referida sucessão de dissidências e deserções, Alberto de Monsaraz e Rolão Preto, in extremis, ainda tentaram recuperar alguma influencia no curso dos acontecimentos, suspendendo a reivindicação do Trono e autonomizando o Movimento Nacional-Sindicalista. O insucesso foi total. Ao tentarem aliciar as juventudes influenciadas pelos fascismos, recorrendo a métodos similares de organização e de propaganda, acabaram por ser confundidos com os próprios fascistas. E se não deixavam de denunciar os princípios políticos dos fascismos, por modernistas ou retintamente jacobinos totalitarismos divinizadores do Estado, foi a expressão usada por Rolão Preto em entrevista à United Press , a verdade é que a natureza comunitária e personalista do ideário Nacional-Sindicalista acabou por confundir e desiludir mais do que atrair.
Tal como acontecera com a "Segunda Geração" integralista, também a juventude atraída para o Nacional-Sindicalismo, que os integralistas pretendiam manter no campo do sindicalismo orgânico e das liberdades, acabou por se transferir para o campo estatista-autoritário do salazarismo emergente que, além do mais, oferecia melhores garantias de realização para ambições profissionais e pessoais.
Em 1932 o Integralismo Lusitano estava já em completa desagregação, impotente para influenciar o curso dos acontecimentos políticos, quando D. Manuel II morreu sem descendência. A par dos restantes organismos monárquicos, acabou por se dissolver para integrar a Causa constituída em torno de D. Duarte Nuno. Uma profunda diferença, no entanto, vai persistir entre o comportamento dos integralistas lusitanos e o dos restantes monárquicos: enquanto a maioria dos antigos apoiantes de D. Manuel II, cedendo ao convite de Salazar, passou a colaborar com o Estado Novo em formação, os integralistas decidiram passar ao combate contra essa nova face do modernismo político português a Salazarquia (expressão de Hipólito Raposo).
5. Sob a «Salazarquia», 1934-74.
Entre os anos 30 e 50, dissolvido o Integralismo Lusitano enquanto organismo político, e desfeita a experiência negativa do Nacional-Sindicalismo, os integralistas da primeira geração não deixaram de denunciar o falso monarquismo de Salazar e a natureza modernista e autocrática do regime do Estado Novo. Entre os restantes monárquicos, porém, a indiferença foi geral, apesar dos sobressaltos: Rui Ulrich, embaixador em Londres, em 1936, foi forçado a demitir-se por ter convidado, para almoçar na Embaixada, D. Duarte Nuno de Bragança; Afonso Lucas foi demitido do Tribunal de Contas, na sequência da publicação de um artigo publicado em A Voz; em 1940, Hipólito Raposo foi preso e desterrado para os Açores, por ter publicado o livro Amar e Servir, onde denunciava a "Salazarquia".
As 3ª e 4ª Gerações do Integralismo Lusitano, porém, vão sendo reunidas e endoutrinadas em torno de revistas como a Gil Vicente (Manuel Alves de Oliveira), jornais como o Aléo (Fernão Pacheco de Castro), editoras como a GAMA (Leão Ramos Ascensão, Centeno Castanho, Fernando Amado), criando-se mesmo, em 1944-45, o Centro Nacional de Cultura.
Em meados dos anos 40, os integralistas espreitam oportunidades de colaboração com o chamado "reviralho": Francisco Rolão Preto vem a ressurgir politicamente através do Movimento de Unidade Democrática; em 1947, Vasco de Carvalho está a conspirar ao lado de Mendes Cabeçadas; dois anos depois, na eleição dos deputados da Assembleia Nacional, é a vez de Pequito Rebelo entrar em concertação com o republicano Cunha Leal, desafiando as candidaturas da União Nacional, respectivamente em Portalegre e Castelo Branco.
Em 1950, os jovens estão já em condições de receber o legado integralista através de uma reactualização doutrinária intitulada "Portugal Restaurado pela Monarquia". Pela mesma altura, surgiram novas publicações, como a revista Cidade Nova (José Carlos Amado, Afonso Botelho, Henrique Barrilaro Ruas) ou jornais como O Debate (António Jacinto Ferreira, Mário Saraiva).
O movimento dos chamados "monárquicos independentes", reunindo grande parte das novas gerações formadas junto dos Mestres do Integralismo Lusitano, apresenta o seu manifesto em 1957. No ano seguinte, Almeida Braga e Rolão Preto surgem a apoiar a candidatura de Humberto Delgado à presidência da República. Terminavam ali os "anos de chumbo do Estado Novo" (expressão de Fernando Rosas), com os integralistas em melhores circunstâncias para atrair os monárquicos desiludidos.
Até ao derrube do regime do "Estado Novo", em Abril de 1974, sucedem-se as iniciativas com a crescente responsabilidade das novas gerações integralistas, como a Comissão Eleitoral Monárquica, o Movimento da Renovação Portuguesa, ou a editora "Biblioteca do Pensamento Político", promovida por Mário Saraiva. Em 1970, é ainda por intermédio de Mário Saraiva que o ideário integralista vem a obter significativo acolhimento no seio da Causa Monárquica: o livro Razões Reais, no qual ficou sucintamente exposta a sua doutrina política neo-integralista, vem a obter aprovação e adopção pela Comissão Doutrinária da Causa.
7 de Abril de 2000
Inserido por:
Rodrigo
rodrigalfreitas@hotmail.com
Publicado por Joana às 12:11 AM | Comentários (8) | TrackBack
janeiro 29, 2004
O Cabralismo
Em 27 de Janeiro de 1842 deu-se o pronunciamento militar no Porto que restaurou a Carta Constitucional de 1826 e levou ao poder Costa Cabral. O regime dos Cabrais (dois irmãos de António Bernardo da Costa Cabral, mais tarde Conde e Marquês de Tomar, eram igualmente importantes figuras políticas da época) durou até à Regeneração (1851), embora após a eclosão da revolta da Maria da Fonte (1846) e durante 3 anos, Costa Cabral tenha estado num semi-exílio, regressando posteriormente ao poder, com o apoio da rainha, sendo derrubado pelo movimento da regeneração chefiado por Saldanha.
O Cabralismo é normalmente associado à ala direita do liberalismo, enquanto o regime derrubado pelo pronunciamento militar do Porto, o Setembrismo, herdeiro do vintismo e que chegou ao poder em 1836, é normalmente associado à esquerda.
Aquela comparação só parcialmente é verdadeira. Portugal viveu, na sequência da instauração do liberalismo, uma vida política que estava longe de se considerar democrática. Não havia condições para isso. As eleições eram manipuladas quer pelos Administradores dos Concelhos, nomeados pelos sucessivos governos, quer por caciques locais. Frequentemente, eram eles que indicavam onde se devia votar.
Por isso, até à Regeneração, as alternancias governativas ocorreram sempre por via insurreicional, directa ou indirectamente, e nunca por via eleitoral
Além do que extensas regiões do país estavam infestadas de bandoleiros ou grupos armados agindo fora da legalidade, o que tornava ainda mais complicado o exercício da democracia. Aliás, muitos deles agiam consideravam-se a si próprios elementos armados apoiantes de determinadas facções políticas (Remexido – Miguelistas, Zé do Telhado – Setembristas, João Brandão – Cabralistas, etc.) quando eram, apenas e tão só, bandoleiros.
A noção de partido político com um programa ideológico e uma estrutura própria só aparece em Portugal nos fins do século XIX, embora com a Regeneração, a partir de 1851, comece a aparecer um embrião de partido.
Naquela época o que havia eram correntes de opinião que se digladiavam com ferocidade em alguns centros urbanos de maior expressão, mas perante as quais o país permanecia impassível, por incapacidade de compreensão dos programas políticos.
Sismondi escrevia, poucos meses antes da capitulação do absolutismo, que se houvesse eleições livres em Portugal, D. Miguel ganharia(*). Apenas uma pequena franja urbana apoiava as reformas sociais. Sismondi não pode, de forma alguma ser suspeito de simpatias pelo absolutismo. Logo, aquela sua afirmação corrobora o que escrevi acima sobre a capacidade da população portuguesa da época, maioritariamente analfabeta, isolada em aldeias de comunicações difíceis, em partilhar as disputas ideológicas furiosas que ocorriam entre as classes ilustradas de Lisboa, Porto e mais algumas, poucas, cidades de relativa importância.
Os liberais estavam divididos entre Cartistas, apoiantes de Carta Constitucional de 1826, Setembristas, herdeiros do vintismo e empenhados na defesa de garantias constitucionais mais latas que as reconhecidas na Carta de 1826 e na diminuição dos poderes ao trono (veto, dissoluçao das câmaras, etc.) e os Ordeiros, uma corrente de opinião intermédia, que oscilava entre as duas anteriores. Para além dos liberais, havia os absolutistas, mas que também não constituíam um conjunto homogéneo.
As eleições de 15 de Agosto de 1836 deram, como era costume, a vitória a quem estava no poder, isto é, aos moderados. Todavia no Porto havia ganho a facção chefiada por Passos Manuel, mais radical e anti-cartista. Com a chegada dos radicais eleitos pelo Porto, desencadeou-se em Lisboa uma revolta que forçou ao estabelecimento de um novo governo. Foi a Revolução de Setembro.
O Setembrismo tinha uma visão mais progressista da sociedade. Perguntar-se-ia todavia se, nas condições sociais existentes na época, o esvaziamento do poder do trono que propunha seria melhor garante da estabilidade social e do desenvolvimento do que o inverso. O que se passou a seguir mostra que provavelmente o Setembrismo, resultante de «em 1836 se estar em pleno domínio as ideias políticas filhas da metafísica e do romantismo que a França levara a todos os povos latinos», como escreveu José d’Arriaga, estava completamente fora da sintonia com o país real.
O primeiro ano do governo setembrista, cujo motor foi Passos Manuel , que nem um ano chegou a estar no governo, foi o período de ouro do Setembrismo. Passos Manuel teve uma extraordinária actividade legislativa no domínio da cultura e da instrução pública. Foi a grande herança setembrista.
Em Março de 1838 foi a morte da Revolução de Setembro, a partir daí esteve moribunda até 1842. Durante esses anos andou como navio sem governo, nem piloto pelo meio das tempestades. Sá da Bandeira não era visceralmente um democrata; serviu a Revolução de Setembro contra as suas convicções políticas, visto que era favorável a um maior poder do trono. Em Março houve a revolta do Arsenal, dos setembristas radicais, entre os quais estava Costa Cabral (e José Estevão). Sá da Bandeira, então chefe do Governo, pactuou com a revolta e mudou o governo num sentido mais radical que caiu em Abril de 1839. O novo governo saído dessa remodelação já era cartista, embora ainda estivesse em vigor a constituição setembrista. Era presidido pelo Conde do Bonfim, próximo dos cartistas e tinha como Ministro do Reino, Rodrigo da Fonseca, notório apoiante da Carta.
Aliás, as discussões políticas decorriam mais de quezílias pessoais e rivalidades políticas que de confrontos ideologicamente consistentes. Eram polémicas estéreis e incompreensíveis para a quase totalidade da população. Por exemplo, Costa Cabral era inicialmente um Setembrista radical, ligado aos clubes maçónicos e então próximo de José Estevão. Posteriormente foi evoluindo no sentido de apoio à Carta de 1826.
No meio de todo este mar encapelado, uma profunda crise social: carestia de vida, atraso ou falta de pagamento dos vencimentos aos funcionários públicos, das pensões etc., em contraste com os elevados rendimentos dos titulares de altos cargos da administração.
Neste entendimento, o pronunciamento militar no Porto que restaurou a Carta Constitucional de 1826 e levou ao poder Costa Cabral foi o corolário lógico. O governo então existente, e em funções há cerca de um ano, era presidido por Joaquim António de Aguiar, destacado político cartista, e tinha Costa Cabral como Ministro da Justiça.
Muito se tem dito sobre o Cabralismo. Não queria entrar agora em pormenores sobre esta matéria, guardando para uma oportunidade futura, se ocorrer, quando falar da Regeneração.
O Cabralismo constituiu uma etapa necessária no liberalismo português. Costa Cabral consolidou o Estado liberal, assente numa forte centralização e complexa burocracia. Escudado no exército, na maçonaria (Costa Cabral foi Grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, de 1841 a 1846 e de 1847 a 1849) e em clientelas que beneficiavam da política económica e financeira, baseada nas obras públicas e fomento.
Todavia, o avanço das relações capitalistas nos campos, a supressão dos direitos comunitários, a pesada carga tributária, mal distribuída, os custos dos enterros e a proibição de serem feitos nas Igrejas, o descontentamento do clero pela supressão dos dízimos levou à revolta da Maria da Fonte, a Patuleia, aglutinação heteróclita de setembristas, miguelistas (General Póvoas e outros) e cartistas anti-Costa Cabral.
Esta revolta acabou com a intervenção estrangeira, pois a Europa era contrária a um regime de instabilidade e estava receosa do que porventura sairia de uma coligação absolutamente contra-natura. A Convenção de Gramido acabou com a guerra civil e houve uma amnistia geral.
Aqui, D. Maria II cometeu mais um dos muitos erros estratégicos do seu reinado. D. Maria II havia confiado a Saldanha a organização do gabinete ministerial, formado a 18 de Dezembro de 1848. Esse governo duraria apenas alguns meses, até Cabral, já investido Conde de Tomar, assumir a função, por decreto régio, em registo claramente ditatorial (29 de Junho de 1849). Saldanha foi demitido e sucessivamente humilhado.
Saldanha era o político e militar português mais carismático. Imediatamente se soube rodear da fina flor da inteligência portuguesa: Herculano, Rebelo da Silva, José Estevão, etc., conspirando contra o Cabralismo. Acima de tudo gente que tinha aprendido com os erros cometidos com o vintismo e com o setembrismo e que se tinha congregado para dar ao país uma solução mais coerente, moderna e sustentável, política e financeiramente, do que as questíunculas em que até então o país se tinha digladiado.
Foi com a Regeneração que o país entrou na modernidade. Mas o Cabralismo foi uma boa escola: no que teve de bom, mas também, e muito, no que teve de mau. Os erros são uma boa escola para quem sabe aprender com as experiências.
(*)Simonde de Sismondi – Étude sur les Constitutions des Peuples Libres Bruxelas 1836
Publicado por Joana às 07:55 PM | Comentários (13) | TrackBack
janeiro 11, 2004
António Sardinha
António Sardinha morreu em 10 de Janeiro de 1925 (em Elvas) com apenas 37 anos, faz hoje 79 anos. António Sardinha foi, sem quaisquer dúvidas a principal figura do Integralismo Lusitano e a sua morte prematura foi um dos factores decisivos para o rápido enfraquecimento daquele movimento político e cultural.
A doutrina política e cultural que desenvolveu constituiu a base e a evolução do Integralismo Lusitano, Sardinha foi o seu mais destacado dirigente e aquele que mais influência deixou, a tal ponto de alguns chegarem a propor a substituição de D. Manuel II, considerado incapaz e desinteressado pela causa monárquica, pela sua pessoa.
O nascimento “institucional” do movimento dá-se em Abril de 1914, com o aparecimento da revista Nação Portuguesa, que se torna progressivamente no núcleo de combate à República, e às suas expressões mais variadas na cultura, na política e sobretudo na religião. Este último ponto é particularmente importante pois o Integralismo Lusitano encontrou grande apoio nos sectores católicos da sociedade, a quem desagradava o cariz anti–clerical da 1ª República.
O primeiro director da Nação Portuguesa foi Alberto Monsaraz, mas foi sob a direcção de António Sardinha que ela alcançou plena pujança. Após a morte de Sardinha a revista foi vegetando durante mais de uma década até se extinguir.
O Integralismo Lusitano reveste um carácter eminentemente nacionalista. A concretizar esta tendência está a perspectiva apologética e patriótica: uma visão heróica, quase mítica, dos feitos portugueses de outrora, carácter supremo da Alma nacional; a ideia de uma pátria predestinada, por mandamento divino, à grandeza imperial, líder no progresso material e espiritual dos povos, enfim, a ideia da grandeza histórica de outrora, das épocas dos nossos gloriosos antepassados, dos “nossos Maiores”, grandeza hoje perdida, mas que urge recuperar.
Escrevia António Sardinha que « O que se nos impõe é restituir à Pátria o sentimento da sua grandeza - não duma grandeza retórica ou enfática, mas naturalmente, da grandeza que se desprende da vocação superior que a Portugal pertence dentro do plano providencial de Deus, como nação ungida para a dilatação da Fé e do Império. Dilatar a Fé e o Império, equivale a sustentar o guião despedaçado da Civilização. Os motivos de luta e de apostolado que outrora nos levavam à Cruzada e à Navegação, esses motivos subsistem» (Ao Princípio era o Verbo - 1924)
Ao que qualificava de ilusões das doutrinas liberais, o integralismo opõe uma doutrina de vida e salvação. Longe de se basear nos princípios abstractos da razão pura, como os teóricos do liberalismo, o integralismo parte do estudo do que julga serem as realidades. É a experiência e a história, essa experiência do passado, que nos dão a conhecer as leis por que se hão de reger as sociedades. Enquanto a República é o regime em que as instituições e as leis são impostas pela razão de teorias abstractas, independentemente da índole dos diversos de povos, a Monarquia é o regime do facto, e as suas leis são o produto da experiência particular de cada nação.
Portanto a unidade social não se pode basear no indivíduo, um átomo de consciência, que só vale enquanto parte de um grupo social. A unidade social base de uma nação, constituída pelos vivos, pelos mortos e pelos que ainda hão de nascer, pela Pátria eterna, é a família. A Monarquia integral fará, pois, tudo para aumentar a coesão social e não para a dissolver, como fazem os regimes liberais, que pretendem desagregar a sociedade em átomos dispersos e sem coesão.
A Monarquia integral assenta nos municípios, dotados de autonomia administrativa, onde se agrupam as famílias. A Câmara Municipal deve ser a representação económica, técnica ou profissional, mas não política. Os Municípios agrupam-se, por sua vez, em províncias, administradas por Juntas Provinciais, dotadas também, como o município, de autonomia económica. Essas Juntas são constituídas pela delegação dos respectivos Municípios, pela representação dos sindicatos operários e patronais, pelos directores das escolas e dos institutos de utilidade pública, enfim, por todos aqueles que representam interesses corporativos e sociais organizados.
Acima de todos estes organismos representativos há, como chefe natural da Nação, o Rei hereditário. E é na transmissão hereditária do poder do Rei que consiste precisamente a maior superioridade da Monarquia. «Ninguém escolhe o Rei, como ninguém escolhe o próprio pai para lhe obedecer». O simples facto do nascimento já dá ao Rei amplas garantias de bom governo. Filho de rei sabe reinar. Além disso, a sua educação especializada habilita-o superiormente para o desempenho da função a que o destino o chamou.
O poder pessoal do Rei é soberano. Escolhe livremente os seus ministros e os conselhos que os assistem e elaboram as leis, ministros e conselhos que não ficam dependentes de nenhuma sanção e de nenhuma vontade, a não ser a sanção e a vontade exclusivas do Rei. «Na paz e na guerra, dentro e fora das fronteiras, o Rei personaliza a Nação, a sua vontade é soberana, e nenhum poder mais alto se lhe impõe, embora ela deva ser sempre esclarecida pelo conselho dos órgãos competentes». «Esse poder é ilimitado, é arbitrário? Será. É, na verdade, menos ilimitado e arbitrário do que o poder paternal, que se não limita nem arbitra pelo controlo do agrupamento familiar».
Um papel fundamental neste corpo social idealizado pelo integralismo cabe à nobreza, mas à nobreza de sangue. Escrevia Sardinha «Não somos conservadores - dada a passividade que a palavra ordinariamente traduz. Somos antes renovadores, com a energia e a agressividade de que as renovações se acompanham sempre. O nosso movimento é fundamentalmente um movimento de guerra. Destina-se a conquistar - e nunca a captar. Não nos importa, pois, que na exposição dos pontos de vista que preconizamos se encontrem aspectos que irritem a comodidade inerte dos que em aspirações moram connosco paredes-meias. É este o caso da Nobreza, reputada como um arcaísmo estéril em que só se comprazem vaidades espectaculosas. A culpa foi do Constitucionalismo que reduziu a Nobreza a um puro incidente decorativo, volvendo-a numa fonte de receita pingue para a Fazenda. Foge, cão, que te fazem barão!- chacoteava-se à volta de 1840. Mas para onde, se me fazem visconde?! E nas cadeiras da governança o cache-nez célebre do duque de Avila e Bolama ia esgotando os recursos do Estado em matéria de heráldica.» A nobreza idealizada por Sardinha era a nobreza medieval, perante a qual os reis eram primus inter pares, não as fornadas de títulos nobiliárquicos criadas pela monarquia constitucional.
Neste sistema os conflitos sociais são resolvidos dentro da própria estrutura da Monarquia orgânica. Cada classe constitui-se em sindicatos autónomos. Entre os capitalistas e os traba1hadores estabelece-se o contrato colectivo do trabalho. «O capital é necessário para desenvolver a indústria. O trabalho é necessário para produzir. De forma que entre um e outro há uma comunidade de funções. Um sem outro nada é.». O operariado deve, nestas circunstâncias, confinar-se nos seus interesses profissionais, sem se envolver em lutas po1íticas, na tarefa utópica da reorganização da sociedade. Tarefa utópica, porque o nivelamento das classes é contrário à própria natureza das coisas e porque a hierarquia é a condição de toda a vida social.
O Integralismo baseia a sua visão social no regime medieval português, idealizado: o Rei, a Nobreza e o Terceiro Braço agrupado nos municípios. É certo que admite a representação administrativa e profissional. Mas não é, por esse facto, um regime democrático, pois que não há democracia onde não há representação da opinião pública e a sua fiscalização. Em vez de um Parlamento de pura representação política e eleito pelo sufrágio popular, o Integralismo preconiza um organismo de representação de classes, recrutado exclusivamente no seio dessas classes para a representação dos seus interesses, com voto puramente consultivo, tendo por funções a aprovação dos impostos e do orçamento e «a consulta sobre a aplicabilidade, na prática, das leis que os ministros e os respectivos conselhos técnicos elaboram». Essa assembleia (ou Cortes) não se pode sobrepor à vontade esclarecida do rei e dos seus ministros: está limitada à única missão de ponderar e de esclarecer.
A Monarquia integral é, portanto, a solução necessária e suficiente de todos os problemas, o lugar geométrico de todas as medidas de salvação nacional.
As ideias e os princípios liberalistas e igualitários são o produto de doutrinas estrangeiras, invasoras. Ao eliminarmos essas ideias da nossa sociedade, entraremos na plena posse dos nossos destinos, das nossas tradições, das nossas crenças e das características originais da nossa raça. Depois das «medidas purgatórias» da crítica e da higiene intelectual, voltará a haver novamente um Portugal dos portugueses.
Sardinha morreu muito novo, com 37 anos, antes da queda da 1ª República. As suas ideias constituem o núcleo das ideias fascistas que eclodiram em diversos países europeus, entre eles Portugal. Mas não assistiu ao resultado da aplicação prática da sua doutrina. Teria ficado horrorizado? Actualizaria as suas teorias por forma a acolher as monstruosidades que se praticaram decorrentes das suas premissas? Tentaria justificar-se alegando que a sua doutrina tinha sido pervertida?
Na verdade os regimes autoritários que se estabeleceram na Europa levaram a situações diametralmente opostas às que Sardinha fazia entrever na sua visão idílica de uma sociedade harmoniosa, onde cada um na sua função, que lhe cabia pelo sangue ou pela inteligência, ordeiramente, concorria com a sua quota-parte para o bem comum.
O Integralismo Lusitano e a Seara Nova foram os principais grupos doutrinadores na 1ª República. Tinham uma coisa em comum: o erro de pensarem que a pedagogia política conseguia, por si só, modificar a sociedade. Politicamente estavam em pólos opostos. A pujança de ambos não sobreviveu à queda do regime democrático. O Integralismo perdeu a sua razão de ser porque não tinha possibilidade de constituir uma alternativa prática ao salazarismo. A Seara Nova foi amordaçada pela censura e foi sobrevivendo penosamente até reflorescer em meados da década de 60. Mas estava ferida de morte. Já não era a Seara dos eminentes pensadores que lhe tinham dado vida. O PCP era, por via de alguns dos seus membros, o accionista maioritário, e logo que julgou que já não precisava de uma plataforma unitária, no início de 1975, tomou conta da revista e sucedeu à Seara Nova o que aconteceu às restantes publicações do PC: faliu por diminuição das vendas e respectivas receitas
Nota: Curiosamente, o nacionalismo de Sarinha não o impediu, como se pode ler no seu “Aliança Peninsular”, de defender os Filipes, considerando que se tratava de uma monarquia dualista, como o Império Austro-Húngaro, e que a liberdade, cultura, língua e identidade nacionais não estavam ameaçadas pelos reis estrangeiros. Para Sardinha havia uma grande complementaridade entre Portugal e Espanha e ele visionava a futura grandeza portuguesa alavancada pelo maior peso da Espanha, seguindo uma via comum.
Publicado por Joana às 08:01 PM | Comentários (59) | TrackBack
dezembro 23, 2003
Álvaro Cunhal no Inverno de 1939-40
Anteontem escrevi um texto sobre a expulsão da URSS da SDN e a política soviética nesses anos de 1939 e 1940 (15-12-1939: a URSS é expulsa da SDN).
Hoje vou dedicar-me a analisar o comportamento do PCP e principalmente do seu líder, Álvaro Cunhal sobre aquela política, durante essa época.
Antes do pacto germano-soviético, as posições do PCP, na imprensa clandestina e na imprensa legal (O Diabo), eram favoráveis a um pacto anglo-russo, como factor estabilizador e anti-fascista. Estavam em uníssono com a política de Litvinov. Todavia, o PCP não se apercebeu, antes da assinatura do pacto germano-soviético e do eclodir da guerra, que a nova política da URSS, após a substituição de Litvinov por Molotov, oscilava entre a frente anti-fascista e um acordo com a Alemanha, dependendo das respectivas “compensações”.
Como a assinatura do Pacto precedeu de pouco mais de uma semana o desencadear da guerra e apenas 2 semanas após esse início, a URSS invadia igualmente a Polónia, o PCP não conseguiu digerir rapidamente todo esse “cataclismo” político.
No “Informe sobre a Situação Internacional”, redigido provavelmente na 2ª quinzena de Outubro de 1939, o PCP (Cunhal, entenda-se) afirma, referindo-se ao Pacto, que “Nem por isso a URSS desistiu de lutar contra o bloco fascista. A URSS não quis limitar-se a ficar de fora da guerra imperialista. Prosseguindo na sua luta contra o fascismo e o imperialismo desmascarou o carácter da guerra e desmembrou o bloco fascista, por meio do pacto germano-soviético, que imediatamente fez desligar o Japão do bloco, considerado inabalável, das potências fascistas”, o que é uma visão absolutamente delirante dos efeitos do pacto, como se viu pelo decurso posterior dos acontecimentos, e acrescenta, mais adiante “Nomeadamente a atitude dos países bálticos (a de serem obrigados a cederem à chantagem soviética) e da Turquia cria uma situação extremamente grave para o capitalismo internacional”.
Mas onde a nova posição do PCP, de equidistância entre a Alemanha nazi e as potências democráticas, se revela mais clara é quando escreve que “Terminadas as operações militares na Polónia e destruída a mistificação da guerra ideológica, as propostas da paz de Hitler criaram a Chamberlain e Daladier uma situação difícil. São efectivamente vagas as propostas de Hitler, mas a argumentação que as acompanha e alguns dos seus princípios gerais não podem ser facilmente contrabatidos pelos representantes do imperialismo franco-britânico? Como podem eles justificar a continuação da guerra ofensiva contra a Alemanha? Pela reconstituição da Polónia? Mas o Estado polaco revelou-se um aglomerado inconsistente”.
Portanto, a luta contra o Eixo fascista era “a mistificação da guerra ideológica”. Enuncia, além disso, a tese dos Estados inconsistentes saídos do Tratado de Versalhes, que era uma dos refrãos preferidos dos dirigentes nazis e que a nova política soviética estava igualmente a utilizá-los, como escrevi no meu artigo anterior. O PCP revelava-se um aluno fiel da nova política soviética.
Mais adiante, no mesmo informe, Cunhal assinala que “a paz criaria dificuldades económicas insuperáveis para os governos capitalistas. Tornar-se-ia necessário canalizar para a produção útil todas as actividades de guerra; superprodução e desemprego voltariam, enormemente agravados. Cada um dos governos capitalistas da Europa sabe o que isto significa para o capitalismo. Por isso todos fogem da paz, mesmo quando são obrigados a propô-la. Por isso os trabalhadores devem lutar obstinadamente pela paz”. Portanto, as potências democráticas eram igualmente responsáveis pela guerra. Já não havia diferença entre democracia e fascismo.
Essa indiferenciação era visível num artigo sobre uma mensagem de Jules Romains: "Diz Jules Romains que a guerra foi provocada pelos países totalitários. Mas não sei por que razão, refere-se sempre e unicamente à Alemanha. Não existirão para Jules Romains outros países totalitários?" (O Diabo, 16/12/1939). Os beligerantes são iguais, ambos têm «telhados de vidro»(O Diabo, 23/12/1939).
Quando foi desencadeada a agressão à Finlândia uma nota de O Diabo sugere que «não seria por acaso que os ingleses e americanos protestam contra a invasão da Finlândia em auxílio ao governo popular de Otto Kuusinen».(O Diabo, 23/12/1939) Motivo? “Interesses imperialistas nos jazigos de níquel de Petsamo”. Este texto é paradigmático da propaganda comunista. O “governo popular de Otto Kuusinen” era um governo fantoche cujas circunstâncias da sua criação descrevi no meu artigo anterior. Portanto a URSS invadiu a Finlândia em auxílio de um “governo” fantoche cuja “existência” só veio a público depois do início da invasão. O governo virtual de Kuusinen foi criado para orquestrar a agressão e desvaneceu-se, sem deixar vestígios, logo que foi assinado o tratado de paz em 12-3-1940.
Nas vésperas da agressão alemã à Dinamarca e Noruega (iniciada em 9-4-39) e posterior ataque à Holanda e Bélgica, PCP publica esta brilhante e consistente previsão política :«Não há pois perigo da Alemanha atacar os neutros. Seria estender a frente e reduzir as suas possibilidades de resistência numa frente reduzida. Podemos concluir portanto que a violação dos neutros, vizinhos da Alemanha, convém mais aos aliados Ocidentais que à própria Alemanha? De certo que convém [...]. Outro factor é o constante apelo feito aos neutros para que entrem na guerra contra a Alemanha [...]. À Grã-Bretanha convinha-lhe a extensão da frente de batalha. Por isso se explica o convite feito aos neutros para estarem a seu lado.»(O Diabo, 10/2/1940).
Isto é, 2 meses antes da Alemanha iniciar a agressão aos países neutros , o PCP escrevia que o perigo para esses países vinha essencialmente da França e da Grã-Bretanha, os principais fautores da guerra. Deveria igualmente dizer que esse perigo vinha da URSS, que à data mantinha uma guerra de agressão contra a Finlândia, tentando à custa de pesadas baixas perfurar a Linha Mannerheim, o que só viria a conseguir em fins daquele mês.
Mas a agressão àqueles países não alterou as posições do PCP. Se um mês antes colocava a interrogação: «Mas haverá na verdade alguma diferença entre a Alemanha do sr. Hitler e a França do sr. Daladier ou mesmo a Inglaterra do sr. Chamberlain? («Nem Maginot, nem Siegfried», O Diabo, 9/3/1940), dias depois da capitulação da Dinamarca, quando a batalha da Noruega se desenrolava, Cunhal escrevia, falando na primeira pessoa, e com um cinismo brutal: «Eu muito francamente declaro que, hoje em dia, o sr. Chamberlain me merece tanta simpatia como o sr. Hitler ou o sr. Daladier (a ordem dos nomes é arbitrária)».(Álvaro Cunha!, «Ricochete - 2 », O Diabo, 290, 13/4/1940).
Se Chamberlain era conservador, Daladier era radical-socialista e havia sido, com Leon Blum e outros, um dos obreiros do Front Populaire, onde os comunistas franceses entravam. A Alemanha tinha acabado de ocupar a Dinamarca, que capitulara, e estava em vias de ocupar totalmente a Noruega. O que estava na base da argumentação de Cunhal naqueles artigos não era nenhuma razão ideológica, nem a “emancipação da classe trabalhadora” mas apenas a justificação cínica, e contrária aos mais elementares princípios da ética que defendia, da política externa da URSS.
Ao longo do Inverno de 1939/40, Cunhal foi passando, lentamente, da equidistância entre as potências democráticas e a Alemanha Nazi, para posições claramente germanófilas, na mesma linha das posições seguidas pela liderança soviética, de que Cunhal foi sempre um fiel discípulo.
Cunhal é preso a 30-5-1940, quando as Panzerdivisionen apoiadas pelos Stukas atingiam o mar, cortando a retirada dos exércitos franco-britânicos que combatiam na Bélgica. O reembarque de Dunkerke começava e os alemães estavam a horas de lançar a demolidora ofensiva na frente do Somme que lhes abriria o caminho de Paris.
Quer o afastamento de Cunhal da vida política activa, quer a queda de Paris, refrearam a germanofilia de O Diabo, mas o que foi escrito durante o Inverno de 1939/40 é o paradigma da perversão política mais despudorada, a desvergonha mais absoluta de um homem que exaltava e exalta a “superioridade moral dos comunistas” e, obviamente, a dele próprio, e a prova de que a única coerência que Cunhal tinha era a relativa ao domínio do mundo pelo modelo soviético do comunismo, quaisquer que fossem os meios utilizados para tal.
Notas:
1 - As notas de O Diabo foram retiradas da biografia de Álvaro Cunhal, vol 1 de J Pacheco Pereira.
2 – Este artigo deve ser lido em conjunto com o publicado neste blog em 21 de Dezembro de 2003: “15-12-1939: a URSS é expulsa da SDN”, se se quiser integrá-lo nos acontecimentos que decorriam no palco de guerra europeu.
Publicado por Joana às 10:15 PM | Comentários (13) | TrackBack
dezembro 01, 2003
1640
Hoje é o dia 1 de Dezembro de 2003. Comemora-se a restauração da independência do país. Foi uma data extremamente importante para nós e da qual todos andamos esquecidos. Por isso venho aqui lembrá-la. E não apenas pela efeméride em si, mas para provar que os portugueses quando têm um objectivo e conseguem mobilizar, para a sua execução, as suas capacidades num clima de unidade e de consenso nacionais, conseguem-no atingir.
Como citar autores portugueses para comemorar glórias lusas poderia levar a pensar a inexistência de independência de julgamento sobre este evento, vou citar o Abade Vertot (“Histoire des revolutions de Portugal”), autor francês que nasceu ainda decorria a guerra da restauração, portanto praticamente contemporâneo dos acontecimentos.
Escreve Vertot na introdução: “Provavelmente nunca se viu na história outra conjura que, como esta, se possa denominar justa, quer no que respeita aos direitos do príncipe, o interesse do estado, a inclinação do povo, ou mesmo os motivos da maioria dos conjurados; outra conjura que tenha sido confiada a um tão grande número de pessoas de todas as idades, de ambos os sexos, de todas as condições e de um temperamento tão fogoso, e por consequência tão pouco apropriadas ao segredo; outra conjura que, enfim, tenha tido um sucesso tão completo e que tenha custado tão pouco sangue”.
Vertot mostra-se profundamente impressionado por um reino, sujeito 60 anos antes pelo mais poderoso monarca da Europa de então, aparentando ser a província mais dócil dos seus estados, num dia, apenas num dia, mudar radicalmente o seu destino. Esse empreendimento foi, por assim dizer, um segredo confiado a toda uma nação, que não transpirou em nenhum círculo, e a sua execução, que inúmeros acidentes poderiam ter feito parar, foi um êxito completo e imediato. E o êxito do golpe em Lisboa alastrou em menos de uma semana a todo o território e, com a rapidez com que as notícias chegavam, a todas as colónias da coroa portuguesa.
Margarida de Saboia, Duquesa de Mântua, governava então Portugal com o título de vice-rainha. Mas na prática tinha um poder limitado. Quem governava era o secretário de estado Miguel de Vasconcelos que recebia ordens directamente do conde-duque Olivares. Este estimava Miguel de Vasconcelos pela habilidade como conseguia extorquir somas consideráveis de Portugal para financiar as guerras europeias do rei de Espanha.
O Duque de Bragança, cuja casa se havia considerado como a candidata à coroa com mais direitos após a morte de D. Sebastião, seria a personalidade natural para chefiar uma conjura. Olivares trazia-o sobre permanente vigilância, mas o duque, ainda por cima casado com uma espanhola(*), irmã do Duque de Medina Sidónia, passava a vida em festas, caçadas, ócios, etc., no seu palácio de Vila Viçosa, longe de Lisboa, provável epicentro de qualquer conjura.
Após as Alterações de Évora, o governo de Madrid tentou afastar D. João de Portugal oferecendo-lhe a governação do Ducado de Milão e, após a recusa a pretexto de questões de saúde e de ignorância da política italiana, o rei de Espanha convidou-o a encabeçar a nobreza portuguesa e tropas levantadas em Portugal para combater a insurreição da Catalunha. Seria uma proposta irrecusável. Mas o Duque de Bragança recusou-a alegando dificuldades financeiras para custear tal empreendimento.
A diligência seguinte foi tentar raptá-lo. Depois de uma primeira tentativa falhada, o governo espanhol encarregou o Duque de Bragança de vistoriar as praças fortes portuguesas. Como estas praças estavam todas com guarnições castelhanas, a ideia era obrigá-lo a uma reclusão forçada. Todavia o Duque de Bragança fez funcionar esse cargo em seu benefício. Utilizou aquelas funções, e o dinheiro que lhe puseram à disposição para as exercer, para colocar gente fiel em lugares importantes. E fazia-se acompanhar nas vistorias de uma comitiva tão numerosa que nunca foi viável levar à prática as pretensões de Olivares de o aprisionar numa das praças. E assim, D. João percorreu livremente o país de lés-a-lés, contactando a nobreza e militares, com o aval das funções que exercia.
Pinto Ribeiro, intendente da Casa de Bragança, conspirava em Lisboa, junto da nobreza e da burguesia. O comércio com o ultramar desviado de Lisboa para Cádiz, os fundos que deveriam ser empregues na defesa do Brasil (parcialmente ocupado pelos holandeses), de África e do Oriente desviados para as intermináveis guerras europeias dos Filipes, os cargos públicos principais e melhor remunerados entregues a espanhóis, a soldadesca espanhola aquartelada nas principais praças fortes portuguesas enquanto se levantavam forças militares em Portugal para servirem na Catalunha e noutros pontos de conflito.
Finalmente veio a notícia para o Duque de Bragança se apresentar na corte de Madrid para fazer o relato das acções de vistoria que tinha realizado. O Duque de Bragança conseguiu, com algumas manobras dilatórias, protelar a viagem, mas foi o sinal para os conjurados se apressarem.
Sábado, 1 de Dezembro de 1640, os conjurados fizeram-se transportar em liteiras e seges, para mais facilmente dissimularem as armas, por diferentes caminhos, para estarem às 8:30 junto ao Paço da Ribeira. Às 9 horas apearam-se e passaram à acção.
Um grupo dominou a guarda alemã, que apanhada desprevenida, não ofereceu resistência. Um segundo grupo encarregou-se de uma companhia espanhola que fazia guarda ao Forte do paço. Atacada de surpresa, os espanhóis renderam-se em poucos minutos. Um terceiro grupo penetrou no palácio em busca de Miguel de Vasconcelos, dominando todos os que se tentaram interpor até encontrar, liquidar e defenestrar o secretário de estado. Quando o grupo de conjurados que tinha por missão capturar a Vice-Rainha chegou aos seus aposentos, esta pensou que a revolta era contra Miguel de Vasconcelos, que ela também detestava e tentou apaziguar os conjurados. Estes explicaram o que estava em marcha e prenderam-na nos seus aposentos.
A quase totalidade da nobreza e alta oficialidade espanhola com funções de chefia nas diferentes guarnições de Lisboa e dos arredores estava no Paço, o que permitiu a sua captura imediata e decapitar as chefias militares espanholas. Das janelas do Paço surgiam proclamações aclamando D. João IV e a destituição do monarca espanhol.
Era certo que o castelo de S. Jorge e os fortes e torres da barra ainda estavam em poder dos espanhóis. No Tejo estava ancorada uma frota de três poderosos galeões espanhóis bem armados. Mas o movimento popular de apoio à conjura era demasiado impetuoso para ser detido. O Senado de Lisboa foi invadido pela chusma e o seu presidente entregou a bandeira da cidade afim de se proceder à aclamação do novo rei.
Antão Vaz de Almada ordenara entretanto à ex-vice-rainha para intimar a guarnição do castelo de S. Jorge a render-se, com a ameaça de fuzilar toda a nobreza espanhola capturada e mantida como refém. A duquesa aterrorizada assinou a ordem, convencida que o comandante do castelo não a cumpriria, por ter sido extorquida à força. Com essa ordem Antão Vaz de Almada, à frente de um pequeno grupo de conjurados e de uma multidão enorme mas desarmada, entrou no castelo e tomou posse do mesmo. O estupor e a surpresa dos espanhóis era tal que apesar da numerosa guarnição estar bem municiada e artilhada, capitularam sem resistir (**).
Os conjurados efectuavam os seus golpes com uma precisão milimétrica, com ardor e fogosidade, mas com espantosa frieza e objectividade, absolutamente seguros do que pretendiam, com completa confiança nos efeitos que iriam produzir e nos resultados que iriam obter, e perfeitamente certos da adesão popular que congregariam.
Os galeões espanhóis surtos defronte da Boa Vista (onde é hoje a Av. 24 de Julho) foram capturados por abordagem de pequenos barcos portugueses, ao estilo rocambolesco dos filmes de piratas de Hollywood (parte da oficialidade e marinhagem dos galeões havia entretanto sido capturada em terra). A última fortaleza da vizinhança de Lisboa a render-se foi a de S. Julião da Barra, sem combate e apesar de dispor de muita artilharia grossa, pólvora e mais de seis mil mosquetes. Antes tinham caído, sem combate, o Castelo de Almada, as torres da barra (Belém, Torre Velha, S. António e Bugio) e o forte de Cascais.
A rapidez dos conjurados, a precisão com que as diferentes acções foram delineadas e executadas, o efeito surpresa e a determinação de conjurados e de toda a população tiraram qualquer veleidade de resistência às estupefactas guarnições espanholas (cerca de 6.000 militares espanhóis, alemães e italianos só na zona de Lisboa). Os portugueses favoráveis a Filipe IV, que os havia na nobreza e no clero, também não reagiram. Muitos mudaram de campo e alguns envolveram-se meses depois numa conjura facilmente descoberta.
As repartições públicas continuaram a funcionar como de costume, mas os despachos das repartições e as sentenças dos tribunais, começados às 9 horas da manhã daquele espantoso sábado, em nome do rei espanhol ou da vice-rainha italiana, prosseguiam depois do meio-dia em nome do rei português. O mundo nunca tinha assistido a uma revolução assim: em duas horas um povo tomava nas suas mãos o seu destino e liquidava o domínio estrangeiro de uma grande potência de forma quase incruenta (morreram 3 homens, incluindo Miguel de Vasconcelos). E tudo continuava a funcionar, apenas acontecera o país mudar de donos. Bastou uma primeira arrancada de quarenta e tantos fidalgos e algumas centenas de homens do povo e a adesão imediata e unânime da população da capital.
D. João IV entrou em Lisboa a 6 de Dezembro, vindo de Vila Viçosa, entre ruidosas aclamações. Nessa altura já se tinham realizado autos de aclamação do novo rei em todas as cidades e vilas do reino. Os resultados da acção do 1 de Dezembro superaram de tal forma quaisquer expectativas que houvesse, que criaram um clima de exaltação patriótica tão poderoso, de tamanha confiança nas capacidades de Portugal e da protecção divina que este teria (***), que levou de roldão quem se lhe quisesse opor. O “milagre de Lisboa” foi um tónico estimulante para a nação portuguesa e teve um efeito completamente desmoralizador nas forças espanholas que, nos primeiros anos que se seguiram àquele dia, não tentaram qualquer acção militar digna de relevo para reaver o seu antigo domínio.
A maioria dos fidalgos portugueses que servia em Espanha largava os seus empregos e posições e atravessava a fronteira a oferecer os seus préstimos ao novo rei. Oficiais e soldados portugueses a servirem na guerra da Catalunha desvaneciam-se no ar e só voltavam a materializarem-se em Portugal. Uma companhia portuguesa atravessou a Catalunha em rigorosa formação militar e com tal à vontade que os espanhóis julgaram que ia numa missão, entrou em França, obteve 5 navios em La Rochele que dias depois fundeavam no Tejo. Francisco Manuel de Melo, que governava Ostende, na Flandres, em nome de Filipe IV, abandonou o posto e dirigiu-se para Londres ao encontro do embaixador português que não tardaria.
Os 500 estudantes portugueses que estudavam em Salamanca, ao saberem a 9 de Dezembro do “milagre de Lisboa”, desistiram de continuarem os estudos naquela universidade, organizaram-se em coluna e partiram imediatamente para Portugal. Ninguém teve coragem de os impedir.
Olivares que inicialmente pensava tratar-se de uma pequena conjura, rapidamente se apercebeu que era todo um povo que teria pela frente.
Todos os dias chegavam dezenas de correios à capital noticiando que esta e aquela cidade ou vila tinha proclamado o novo rei e que as guarnições espanholas tinham capitulado, quase sempre sem combate. Vertot escreve que era como se houvesse em todas as cidades e vilas do país conspirações semelhantes à de Lisboa que se desencadeavam logo que havia notícia do ocorrido na capital e com os mesmos resultados. Vertot refere que os oficiais e soldados espanhóis “fugiram do país com a mesma precipitação com que criminosos fogem da prisão” e que “em menos de 15 dias não havia um único espanhol em Portugal que não estivesse preso”.
O ministro inglês em Lisboa durante a época das lutas entre D. Afonso VI e o infante D. Pedro, ainda durante a guerra da restauração, Sir Robert Sthouwell, escrevia que: “se quereis ver os portugueses vencidos, deixai-os uns com os outros”. Menos de 2 décadas depois da conjura do 1º de Dezembro os portugueses já tinham perdido a capacidade de unidade e de consenso nacionais que tinham mostrado naquela primeira quinzena de Dezembro em que liquidaram o domínio de uma das principais potências da Europa, da potência que então disputava a primazia com a França.
(*) Mulher que, embora espanhola, teve um papel determinante em incentivar o marido para aderir à conspiração (“antes morrer reinando, do que viver servindo”) e cuja regência foi de uma energia notável e de uma clarividência inestimável. Foi a ela que se deveu a contratação de Schomberg para reorganizar o exército português.
(**) O que é notável é que o único que esboçou resistência foi Matias e Albuquerque o futuro herói da guerra da restauração, que estava detido no castelo havia 5 anos. Em face do tumulto, que julgava tratar-se de um motim da populaça, e perante a passividade da oficialidade espanhola, mandou formar os artilheiros e dispor as peças e dirigiu-se às ameias para comandar a acção. Todavia, ao ouvir tocar os sinos da Sé e de outras igrejas, teve um pressentimento do que se estaria a passar. Mandou retirar os artilheiros, regressou ao cárcere e esperou.
(***) O baixo clero participou activamente na revolução, mesmo nas acções armadas. Nas igrejas os sermões referiam dezenas de milagres que atestavam a protecção divina que o país teria. Aliás a espantosa facilidade com que desabou em poucos dias o poderoso dispositivo militar espanhol facilitava a interpretação da intervenção divina num evento que não parecia explicável por causas naturais.
Publicado por Joana às 09:56 PM | Comentários (17) | TrackBack
novembro 16, 2003
Gomes Freire de Andrade
O período que mediou entre as invasões francesas, a fuga da Casa Real e o estabelecimento da sede da monarquia no Brasil e a Revolução de 1820 tem sido bastante controverso do ponto de vista da análise histórica e das explicações para os acontecimentos.
Oliveira Martins, por exemplo, escreve que Portugal se tinha tornado numa colónia do Brasil. A historiografia francesa, por sua vez, acentua a dependência de Portugal face à Inglaterra. Esta tese tem motivações simples. Após a rendição de Junot, Portugal era o único país da Europa continental fora do controlo francês. Parte da Europa continental estava sob o império de Napoleão e outra parte era aliada à força. Os franceses foram sistematicamente batidos pelas tropas anglo-lusas e atribuir uma derrota a um país pequeno é humilhante. Assim, o papel dos portugueses no exército de Welligton foi sempre desvalorizado pelos historiadores franceses, embora os protagonistas dos acontecimentos, como Marbot e Foy, dêem nas respectivas memórias bastante importância à acção dos portugueses.
Em Portugal, a apreciação do papel dos ingleses no nosso país, naquele período, também tem variado, nomeadamente durante a primeira metade do século XX, ao sabor da luta entre germanófilos e anglófilos, em suporte das suas teses durante os conflitos mundiais.
Um dos casos mais controversos é o do julgamento e execução de Gomes Freire de Andrade e dos restantes “Mártires da Pátria” e do papel dos ingleses nesse caso. É essa questão que abordarei em seguida.
A política tem coisas estranhas. Foram partidários do liberalismo que promoveram a iniciação maçónica da viscondessa de Juromenha, iniciada na Maçonaria, loja Virtude, em 1814. O marido era secretário militar do Comandante em Chefe do exército português, o Marechal Beresford, Marquês de Campo Maior. Ela era amante de Beresford com a complacência do marido (a exemplo do que já sucedera com Junot e a Condessa de Ega, 7 anos antes). Era um ménage à trois que a todos aproveitava, nomeadamente ao marido, agraciado com o título de visconde e mais tarde promovido a general. O casal e a prole vivia, convenientemente, no Palácio Junqueira, residência de Beresford, onde anteriormente residira Junot. Interessantes, estes acontecimentos que se repetem na história…
Com a iniciação da viscondessa, pretendiam os liberais averiguar os sentimentos de Beresford face à Regência, a Junta dos Governadores que governava o país em nome de D. João VI, e as possibilidades de o trazerem para o campo liberal.
Por sua vez, Gomes Freire de Andrade havia feito um percurso sinuoso. Quando Junot tomou Lisboa e se tornou “rei” de Portugal, obteve o concurso de Gomes Freire de Andrade que, integrado na Legião Portuguesa, comandada pelo Marquês da Alorna, partiu ao serviço de Napoleão e da França.
Um dos problemas que há com os heróis … é que ninguém é perfeito. Gomes Freire de Andrade serviu entre 1807 e 1814 o país que tinha ocupado o seu, que o invadira e invadiria por 3 vezes, que o saqueava e que lhe movia uma guerra de grande crueldade que se saldou por um terrível sacrifício e enorme mortandade da população portuguesa.
Com a primeira abdicação de Napoleão, Gomes Freire de Andrade pediu autorização para regressar ao seu país. A autorização demorou e valeu-lhe então o seu primo direito, D. Miguel Forjaz, um dos secretários da Junta, que pelo seu talento era talvez o elemento mais poderoso da Junta. Sujeitou-se então a um processo de reabilitação que o declarou “livre de toda e qualquer mácula”.
Aquele dificuldade era normal: objectivamente, Gomes Freire de Andrade podia ser considerado traidor à pátria, visto ter servido o país com que Portugal estivera em guerra, e durante o período em que essa guerra durou. Regressou em meados de 1815.
Em Portugal levedava a revolta. Os liberais contra os absolutistas; Beresford contra a Regência; a oficialidade portuguesa contra a chefia de um inglês; a Casa de Cadaval contra a Casa de Bragança, acusada de deixar o país pelo Brasil.
Um conjunto de oficiais movidos por diversos desígnios, desde o sentimento liberal, os atrasos de pagamentos do pré, atrasos de pagamentos de reformas, descontentamento pela ausência do Rei e o ódio ao comando inglês, integraram um movimento, para o qual conseguiram o patrocínio de Gomes Freire de Andrade, e que denominaram “Supremo Conselho Regenerador de Portugal, Brasil e Algarves”.
Gomes Freire de Andrade tinha todas as características que concorrem para obter carisma popular: Impetuoso, de grande coragem, arrebatado, impulsivo, de grande frontalidade e franqueza, indisciplinado por vezes, mas justo. Má cabeça e bom coração, como alguns diziam.
Gomes Freire de Andrade manteve-se como figura de referência dos conjurados, embora a sua participação, para além da eventual colaboração na redacção das proclamações, fosse pouco activa. Os conjurados pretendiam o seu nome de oficial distinto como figura de proa, para fortalecer o seu movimento.
As proclamações daquele Conselho, divulgadas clandestinamente, parecem-nos hoje de uma retórica algo vazia. A leitura da “proclamação-manifesto” mostra que o principal acusado é o Rei, por nos “ter vendido aos nossos inimigos naturais, ao Rey de Hespanha”, nos pretender sujeitar “à tirania dos Hespanhois como dote da filha ou presente de escravatura”, “o Déspota que … nos chama ao açougue do precário Império” referindo-se ao recrutamento de tropas para os combates que se travavam, no sul do Brasil, pela posse de Montevideu e para combater a insurreição republicana no Pernambuco (*). A referência a Beresford é chamar-lhe o “ridículo aventureiro que em desabono nosso é Commandante em Cheffe do Exercito”.
Esta proclamação enumerava uma série de motivos de agravo, disparava em todas as direcções: Rei, Regência, Beresford, Espanha, mas não propunha nada em concreto senão “vencer ou morrer pele plena satisfação da fé jurada”. Um movimento que pretende triunfar tem que escolher os alvos principais e poupar os secundários, ou mesmo estabelecer alianças com estes, senão tem todos contra ele (**). O teor desta proclamação mostrava a fragilidade e a falta de maturidade política do movimento.
A viscondessa de Juromenha, ao contrário do que os liberais tinham pretendido, tornou-se a principal figura na liquidação da conspiração. Estava exacerbada pela raiva contra os pasquins que a insultavam. Quando o marido foi promovido a general, vieram a lume papéis que rezavam:
De um corno fazer um tinteiro
Isso faz qualquer estrangeiro
Mas de um corno fazer general
Isso só o Senhor Marechal
O reduzido número dos conjurados, a ligeireza com que muitos se conduziram, a sua pouca implantação fora do exército e a incontinência de alguns deles, fizeram com que rapidamente se soubesse da trama. Na sua tentativa de aliciarem gente, os conjurados empolavam em muito a força do seu movimento. Haveria gente ligada à conjura por motivos diversos da causa liberal. Aliás, alguns dos conjurados eram agentes provocadores que mantinham informada D. Maria da Luz, a viscondessa de Juromenha e, por via desta, o Marechal Beresford, ou mesmo directamente este.
O Marechal Beresford estava de partida para o Rio de Janeiro (D.João VI tinha acabado de ser aclamado rei) onde ia tentar conseguir apoio do rei na sua luta contra a Regência. Mas não queria partir deixando a conspiração a desenvolver-se na sua ausência. Os agentes provocadores foram incumbidos de agirem rapidamente e de fazerem uma lista exaustiva dos conjurados, graus e tipo de adesão e das suas intenções e desígnios.
Beresford convocou algumas personalidades da sua confiança, entre elas o Visconde de Santarém, a quem foram apresentados os documentos que tinham sido coligidos relativos à conspiração. Esses documentos mostravam que estava em marcha um movimento, ainda incipiente, cuja primeira fase seria a criação de núcleos por todo o país. A decisão foi a de apresentar a documentação à Regência, o que ocorreu em 23 de Maio de 1817. A Regência imediatamente se assegurou da posição do exército e do apoio do General Paula Leite, encarregado do governo das Armas da Corte e província da Estremadura, elemento fundamental para a segurança da região de Lisboa, e emitiu ordens de prisão contra Gomes Freire e diversos oficiais e civis.
A falta de coordenação entre os conjurados era tal que Gomes Freire de Andrade, ao notar a movimentação de tropas, o ruído das armas e das patas dos cavalos, pensou tratar-se da revolução em marcha, fardou-se, esmaltou o peito das condecorações e esperou. Esperou até que a sua porta foi arrombada, a casa invadida pela tropa e lhe foi dada ordem de prisão.
A devassa que se seguiu foi típica de um processo num regime absoluto. Os agentes provocadores fizeram as suas deposições em segredo, alguns dos conjurados passaram a delatores e como o maior alvo era Gomes Freire de Andrade, os testemunhos foram orientados para avolumar a importância da conspiração e para o tornar o principal culpado. Aliás, nunca se soube qual foi o real envolvimento de Gomes Freire na conjura, como também não se conhecem exactamente os objectivos dos conspiradores, se é que havia um objectivo comum, ou se parte dos conjurados não teria sido manipulada para objectivos que desconheciam.
A rapidez de actuação da Regência e a forma como o processo se desenrolou causou surpresa a Beresford e reforçou a ideia que este teria, de que havia gente ligada à regência metida na conspiração. Uma teoria refere que havia a tentativa de depor D, João VI, substituindo a Casa de Bragança pela Casa do Cadaval (aliás, um dos denunciados era o Duque do Cadaval). Uma outra teoria falava de que havia na regência traidor ou traidores favoráveis à anexação de Portugal pela Espanha, na sequência do conflito que então se travava no Uruguay e que haveria uma tentativa de encobrir esse facto. Essa teoria baseava-se na visita, 2 meses antes, do general Cabanes, enviado de Fernando VII, a Portugal por razões que nunca foram claras. Segundo esta teoria Gomes Freire, que privou com Cabanes durante a estada deste em Lisboa, e outros estariam a ser manipulados para um processo que lhes escaparia das mãos e cuja primeira fase seria a desorganização do exército português e a quebra da sua cadeia hierárquica, para deixar o país inerme face à Espanha.
Gomes Freire foi condenado à morte “com baraço e pregão” e executado em S. Julião da Barra. Os restantes 11 sentenciados foram executados no então Campo Santana, hoje Campo dos Mártires da Pátria, a 18 de Outubro de 1817. A lentidão do suplício, e o ter-se prolongado pela noite, deu origem à frase macabra “felizmente há luar” de Miguel Pereira Forjaz. Este tinha mostrado, durante todo o processo e na execução, um surpreendente afã em se ver livre do incómodo primo direito.
Espanta a severidade das sentenças, quando comparadas com as sentenças dos insurrectos de Pernambuco, o que reforça a ideia de que a regência se queria ver livre de forma definitiva dos conjurados. E surpreende igualmente que personalidades da nobreza denunciadas como fazendo parte da conjura, como o Duque do Cadaval, o Marquês de Ponte de Lima e outros, não tenham sido incomodados.
Um dos conjurados, o Barão de Eben, prussiano e amigo pessoal do Duque de Sussex (de que também Gomes Freire era conhecido), irmão do Rei da Inglaterra, foi expulso do país. O facto do Barão de Eben aparecer ligado a esta conspiração como um dos principais conjurados foi extremamente embaraçoso para a família real inglesa.
O papel da maçonaria não foi claro. Gomes Freire era Grão-Mestre da Loja Militar dos Cavaleiros da Cruz da Legião Portuguesa. Alguns membros desta loja foram denunciados, como o Marquês de Ponte de Lima, mas nenhum condenado. Mas havia mais lojas e não se conhece que alguma estivesse envolvida. A própria viscondessa de Juromenha era da maçonaria e um dos principais delatores era da mesma loja, a Virtude. Muitos oficiais ingleses estavam ligados a lojas maçónicas. Haveria maçons ligados à conjura e outros indiferentes, ou que se lhe opunham.
Esta conspiração e o seu desfecho trágico é um dos episódios sangrentos da luta entre liberais e absolutistas. Para aliciarem o exército os liberais utilizaram, como uma das armas, a humilhação que consistia no Comandante em Chefe ser inglês e de continuarem a haver oficiais ingleses em situações consideradas imerecidas na hierarquia militar. É falso dizer que Portugal estava então ocupado pelos ingleses, embora fosse verdade que a política portuguesa estava bastante influenciada pela política inglesa. Mas continuaria a estar quer houvesse ou não Beresford, como se verificou posteriormente. Beresford não representava a Inglaterra, mas sim a ele próprio. Aliás, a proclamação do “Supremo Conselho Regenerador” refere-o como um “ridículo aventureiro que em desabono nosso é Commandante em Cheffe do Exercito” e não como o procônsul britânico em Portugal, como bastante mais tarde alguns o designaram.
Beresford agiu sempre por conta própria e chegou a pensar-se, no tempo da regência de D. Isabel Maria, na sua reintegração no cargo de Comandante em Chefe do exército português, que não foi avante por motivos óbvios: apesar de militar capaz e disciplinador, o facto de ser estrangeiro iria torná-lo um alvo desnecessário e enfraquecer politicamente a posição da regente, em vez de a reforçar.
A fragilidade desta conspiração, e a confusão que paira sobre os seus reais objectivos e o grau de envolvimento dos conjurados, mostrou que o exército ainda não estava maduro para a insurreição. Mas a execução de um oficial cheio de prestígio, e a forma bárbara como foram supliciados os conjurados ajudaram ao levedar da insurreição que iria eclodir menos de 3 anos depois.
No início do ano seguinte, 3 meses após as execuções, instalava-se no Porto o denominado Synhedrio (Sinédrio), por iniciativa de Manuel Fernandes Thomaz e Ferreira Borges. O movimento liberal adquiriu maior consistência e coerência. Em face da degradação da situação, Beresford foi ao Rio de Janeiro reclamar maior latitude de poderes. D. João VI concedeu-lhos por Carta Patente de 29 de Julho de 1820, quase em simultâneo com o ofício que a regência (Junta dos Governadores) enviava ao rei, deplorando o estado das finanças públicas e as exorbitantes despesas militares e a ”considerável soma a que montam o soldo, gratificações a ajuda de custo, que recebe o Marechal-General, Marquês de Campo Maior (Beresford)”. Regressou a Portugal, mas já não pôde desembarcar. Tinha havido o pronunciamento de 24 de Agosto de 1820 e a Junta Provisional de Lisboa, que entretanto substituíra a Junta dos Governadores, não lhe permitiu que desembarcasse. Regressou em 1826, com as tropas do General Clinton, a pedido da Regente D. Isabel Maria, para proteger o cambaleante regime liberal, mas o seu protagonismo na política portuguesa acabara.
O facto do exército ser chefiado por um estrangeiro, que teve, perante a opinião pública, um papel importante na liquidação na alegada conjura de Gomes Freire de Andrade, foi um elemento decisivo de fermentação da revolta. Foi por isso que o papel dos ingleses quer no exército português, quer na política portuguesa da época foi bastante empolado. Esse empolamento servia então os interesses do partido liberal no sentido de ampliar a sua base de apoio dentro do exército e na burguesia urbana. Foi também um elemento que uniu, inicialmente, os vintistas aos conservadores. Gomes Freire tornou-se um herói nacional porque "queria correr com os ingleses", tornou-se um "Mártir da Pátria".
Todavia, após a revolução de 1820, a Inglaterra teve uma influência muito positiva, contrariando as intenções da Santa Aliança e de Metternich de intervirem em Portugal para derrubar o regime liberal. E com a contra-revolução e a subida ao poder de D. Miguel, foi em Inglaterra que os liberais encontraram abrigo e se reorganizaram. É bom que não se esqueça isso.
(*) Aliás, Beresford estava igualmente contra a partida de tropas para a guerra no Uruguay, por questões de perda de poder pessoal, pois diminuiriam as forças sob o seu comando, mas também em virtude do reforço dos efectivos espanhóis junto às fronteiras portuguesas, e pretendia o regresso do Rei, porque estava em permanente conflito com a Regência e sabia que tinha a confiança de D. João VI.
A ameaça espanhola não era despicienda. Havia um conflito entre os dois países por causa da colónia do Sacramento (actual Uruguay) e se não fosse a existência então de um exército disciplinado e eficiente, adestrado nas campanhas contra os franceses, e considerado de valor militar incomparavelmente superior às forças espanholas, era natural que as forças espanholas, muito mais numerosas, tentassem uma invasão. Nesse entendimento, qualquer acção espanhola teria que ser precedida da desorganização e enfraquecimento do exército português
De notar que a Espanha se estribou então no conflito do Uruguay para não cumprir a decisão do Congresso de Viena da devolução de Olivença.
(**) As proclamações de 24 de Agosto de 1820, que apelavam à criação de um governo provisório e à eleição das Côrtes, como o órgão da nação que preparasse uma constituição que assegurasse os direitos dos portugueses, continham um rasgado panegírico a D. João VI: “O nosso rei, o senhor D. João VI, como bom, como benigno e como amante de um povo que o idolatra, ha de abençoar nossas fadigas. Viva o nosso bom rei!”. Este “nosso bom rei” era o mesmo que tinha acabado de decretar o aumento de poderes de Beresford, justamente para combater o movimento liberal. Manter a religião, o trono e salvar a pátria e a independência nacional eram as aspirações que a Junta Provisional apresentava como suas, o que mostrava que esta soubera distinguir o alvo principal dos alvos secundários.
Nota: Usei indiferentemente regência ou Junta dos Governadores, visto a Junta estar encarregada da regência na ausência de D. João VI. Era então presidida pelo Marquês de Borba. Miguel Pereira Forjaz estava encarregado da secretaria da guerra. Era hostil à presença de ingleses à frente do exército e o principal adversário de Beresford na junta.
Publicado por Joana às 11:35 PM | Comentários (29) | TrackBack
novembro 03, 2003
Hábitos enraizados
Portugal é, na verdade, um país eterno, uma singularidade no espaço e no tempo, como diria o nosso filósofo das luzes, um “Reino velho sem emenda”.
Relativamente a este tema, e para verem como há coisas que estão enraizadas nos nossos hábitos, que fazem parte dos nossos genes, cito excertos do artigo “Le Portugal au dix-neuvième siècle” da Revue des Deux Mondes, de Julho 1837, pags 79-112. Esta revista foi porventura a mais importante publicada em França no século XIX (chegou ao século XX, mas já em decadência):
“------------------------------------
Em vão revoluções se sucederam. Em vão cada constituição destronou a anterior. O país olha e deixa fazer, opondo a sua força de inércia às inovações sem que, por isso, preste qualquer apoio aos retrógrados (*).
Era mais fácil promulgar essas belas legislações do que pô-las em execução …
Se não houve, como em Espanha, sublevações populares, foi porque a população portuguesa raramente age com paixão. Mas tem uma força de inércia muito mais difícil de vencer que uma resistência à mão armada. Como obter de um povo uma cooperação à qual ele se recusa? … Que fazer de um país onde os costumes resistem tão vivamente às leis?
-------------------------------------“
Vocês não acham que estas observações sobre a forma como a opinião pública (não a opinião que aparece nos meios de comunicação) portuguesa se comporta perante a política e as instituições em geral, se mantém com uma certa actualidade, quase 170 anos depois e com diversas revoluções de permeio (Maria da Fonte, Regeneração, República, Estado Novo, 25 de Abril, sem falar das revoluções menores)?
(*) O autor (o sr. Louis de Carné) refere-se aos adeptos do absolutismo, à reacção clerical, etc..
Publicado por Joana às 12:18 AM | Comentários (11) | TrackBack
outubro 02, 2003
O Crepúsculo dos Zeuses
Obrigado Zeus! Sei que me fez o maior elogio de que é capaz! Extasiado pela minha “superior cultura”, como diz, não podendo conceber que o nível cultural não esteja total e directamente correlacionado com o nível de testosterona no sangue, olha-me com sublime admiração e exclama: És homem! Tens que ser homem!
Celeste Cardona, a mulher que com férrea determinação subiu a pulso na vida, arrisca-se, no próximo Congresso do PP, a ser interpelada pelo nosso Zeus, com a veneração que ela lhe merece: Cardono! Vieste hoje com traje escocês? O kilt vai-te lindamente! Esse padrão é de algum Imortal? E a Cardona a sorrir-lhe, embaraçada, com aquele arrepanhar de lábios que parece uma cãibra.
E Paulo Portas a levar um abraço, bem possante, e a ser-lhe sussurrado ao ouvido: Paulo, és o máximo! Como está a tua testosterona? Toma atenção, menino!
Porque Zeus, por detrás das novas tecnologias, nets, etc., no que respeita à condição feminina parou no tempo e no espaço em que as sécias, abanando nervosamente os leques, açafatadas nos canapés, chilreavam brejeirices em surdina enquanto os peraltas das redondezas glosavam algum mote galante. E Zeus, de rosto fechado e indiferente a galanteios, vaidoso na sua casaca enchouriçada na gola e fina de abas, com sapato de fivela de latão, areada tão a preceito que parecia de prata.
Lembra-se, Zeus, de acompanhar o Manique a inspeccionar as damas às portas dos templos, avaliando se a cava dianteira descobria o peito a mais, se as pregas da saia deixavam adivinhar a conjunção voluptuosa de qualquer perna e se a fímbria se erguia do solo mais de um ou dois palmos e consentia a ostentação do tornozelo acima dos sapatinhos. E confesse que deve ter ajudado à redacção da circular que intimava as modistas a “não confeiçoarem os trajes femininos com a concisão lacónica que os figurinos indicavam, e que fazia que muitas damas se apresentassem em pública quase nuas”. Tanto a visão dos nossos tornozelos alvejando por baixo da fímbria, lascivamente subida, intimidava o Intendente!
Mas o seu momento de glória aconteceu quando, ao saber que Mme Entremeuse, presa por suspeita de contrabando, se havia queixado com veemência ao camarista do príncipe regente, você lançou as bases de uma teoria alternativa dos caracteres sexuais secundários. Você foi então peremptório: Uma mulher não ousaria nunca tomar semelhante expediente! A vida do regente corre perigo! Não é uma mulher; é um homem!
E o Manique, para lhe sossegar a consciência, lá a mandou prender novamente e determinou que o corregedor do Bairro Alto, acompanhado de um escrivão e de um físico examinassem a recalcitrante francesa para certificar o seu sexo.
Como vê, Zeus, não foi a primeira vez que você aplicou os seus conceitos sobre os caracteres secundários de diferenciação sexual!
Mas onde Manique sobretudo o apreciava era nas paradas, no seu posto de sargento-mor, à frente dos ordenanças, uniforme coçado pelos anos, peruca desbotada ao vento, agitando o bicórneo, bradando, com o seu poderoso vozeirão, vivas ao trono e ao altar, e dardejando imprecações tonitruantes à pedreirada que começava a levantar a cabeça com as ideias que vinham da França. Quantas vezes Manique lhe havia elogiado a postura: portugueses desta têmpera, é o que precisamos!
Pois é Zeus, você, nestas matérias, já era um anacronismo no fim do século XVIII.
21-Abril-2003
Publicado por Joana às 08:41 PM | Comentários (3) | TrackBack
Visconde de Santarém
Não tenho qualquer estima ou consideração pelos vultos do miguelismo, embora tivesse achado piada ler alguns panfletos do Agostinho de Macedo, nomeadamente as Gaitadas do Anão dos Assobios. Há todavia uma figura que eu considero de excepção, a do Visconde de Santarém.
O Visconde de Santarém foi o maior nome da historiografia portuguesa do século XIX. As suas obras, nomeadamente o portentoso Quadro Elementar, foram as mais relevantes da nossa historiografia. Tem uma dimensão diferente da de Herculano, o nosso Michelet. Baseia-se na erudição, extraordinária, e não na capacidade de interpretação social e política que Herculano tinha. Enquanto Herculano era um historiador, o Visconde de Santarém era um especialista em Paleografia e Diplomática.
Foi um apoiante do absolutismo e Ministro dos Negócios Estrangeiros de D. Miguel. Favorável a um entendimento com os liberais, foi despedido por D. Miguel para, meses depois, ser despedido de Guardião da Torre do Tombo pelos liberais, entretanto triunfantes.
Exilou-se em Paris e aí viveu até à morte, trabalhando sempre na história portuguesa, fazendo estudos para sustentar e apoiar a Política Ultramarina dos Governos Liberais, frequentemente a pedido destes.
Valha a verdade que alguns líderes liberais, p. ex., Sá da Bandeira, da ala esquerda do liberalismo, pediram-lhe que regressasse. Nunca o fez. A direita venerava-o e Sardinha, no auge do Integralismo Lusitano, prefaciou-lhe as Memórias para a História e Theoria das Cortes Geraes. Este prefácio, de mais de 250 páginas(!), liquidou a memória do Visconde. Os politicamente correcto nunca lhe perdoaram ter, muitas dezenas de anos após a sua morte, deixado prefaciar-se por António Sardinha.
A sua memória existe apenas nos alfarrabistas, onde o Quadro Elementar e outras das suas obras são disputadas a bom preço.
16-Abril-2003
Publicado por Joana às 07:25 PM | Comentários (1) | TrackBack